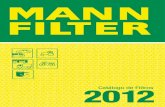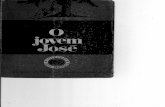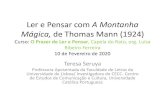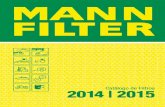Bult Mann
-
Upload
thiago-melo-fonseca -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Bult Mann
Capítulo IV
RUDOLF BULTMANN, VIDA E TEOLOGIA
Introdução
No primeiro quartel deste século, registrou-se uma
reviravolta decisiva na teologia protestante por obra da Escola
Dialética. Ela subverteu os princípios da teologia liberal:
liquidou o racionalismo, o imanentismo e o humanismo que
estavam em sua base e substituiu-os pelo princípio da infinita
diferença qualitativa que distancia Deus do homem e o homem
de Deus. Como sabemos, os expoentes máximos da Escola
Dialética são Barth, Brurmer, Tillich, Niebubr e Bultmann.206
Rudolf Bultmann sacudiu o mundo teológico nada
menos do que duas vezes durante o nosso século. A primeira
vez foi quando de sua conversão à teologia dialética,
introduzindo na exegese bíblica, então conduzida segundo os
princípios da crítica histórica liberal, o método histórico-
morfológico (Formgeschichte). A segunda vez foi quando
inventou a teoria da demitização. Por esses dois títulos, o
método histórico-morfológico e a demitização, ele já era no
passado e é ainda mais no presente uma das figuras mais
significativas da teologia no século XX.207
Sua teologia, além do novo método hermenêutico e da
demitização, caracteriza-se também pela utilização da filosofia
existencialista. Portanto, na apresentação essencialmente
teológica do pensamento de Rudolf Bultmann, devemos levar
206 Mondin, p.145. 207 Idem.
em consideração sobretudo esses três aspectos: método,
filosofia e demitização.208
1. Origens: Rudolf Karl Bultmann nasceu em Wiefelstede
(Oldenburg), na Alemanha, em 20 de agosto de 1884. Filho
mais velho de um ministro protestante da Igreja Luterana,
cresceu num ambiente profundamente religioso. Cursou a
escola primária em Rastede, para onde seu pai fora
transferido. Já o ginásio e o liceu ele freqüentou em
Oldenburg. No liceu, além do estudo da religião,
distinguiuse também pelo estudo do grego e da história da
literatura alemã.
2. Formação Teológica: Concluído o liceu, iniciou seus
estudos teológicos na Universidade de Tübingen, em 1903.
No ano seguinte, passou para a Universidade de Berlim e
dois anos depois para a de Marburg. Foi aí que, em 1910,
licenciou-se em teologia, com a tese Der Stil der
Paulinischen Predigt und die Kynischstoische Diatribe (O
Estilo da Pregação Paulina e a Diatribe209 Cínico-estóica), e
dois anos mais tarde obteve a livre docência, com uma
dissertação sobre a exegese de Teodoro de Mopsuéstia.
Seus mestres foram homens de clara fama liberal e de
orientação histórico-crítica. Ele mesmo deixou a lista
daqueles em relação aos quais sente-se particularmente
devedor: em Tübingen, o historiador da Igreja Karl Müller;
em Berlim, o estudioso vétero-testamentário Hermann
Gunkel e o grande historiador do dogma Adolf Harnack; em
208 Mondin, op., cit., p.146. 209 Diacronismo. Método dos filósofos da Grécia antiga - 1. Dissertação
crítica que os filósofos faziam acerca de alguma obra; 2. Crítica severa e
mordaz; 3. Discurso escrito ou oral, em tom violento e afrontoso, em que
se ataca alguém ou alguma coisa; 4. Discussão exaltada. Dic. Eletrônico
Houaiss.
Marburg, dois estudiosos do Novo Testamento, Adolf
Jülicher e Johannes Weiss, e o teólogo sistemático Wilhelm
Hermann. Foi a conselho de Weiss que Bultmann se
orientou para os estudos de exegese neotestamentária.210
3. Carreira Acadêmica: Em 1912, começou sua brilhante
carreira acadêmica, inicialmente na qualidade de livre
docente de exegese neotestamentária na Universidade de
Marburg, depois como encarregado na Universidade de
Wroclaw (Breslau). Em 1920, foi chamado a suceder o
célebre biblista Wilhelm Bousset na Universidade de
Giessen. Mas apenas um ano depois preferiu deixar essa
universidade para retomar a Marburg, que ele sempre
considerou a sua pátria acadêmica, a fim de assumir a
cátedra de Novo Testamento e de História da Igreja
Primitiva. Desde então, permaneceu sempre em Marburg,
até 1951, ano em que se retirou do ensino.
Nesse meio tempo, casara-se em 1920, tendo duas filhas de
seu feliz matrimônio.
4. Publicações: Em 1921, publicou uma de suas obras mais
significativas, a célebre Die Geschichte der Synoptischen
Tradition (História da Tradição Sinótica), na qual introduzia
no âmbito da pesquisa neotestamentária o método histórico-
morfológico Formgeschichte). Ao mesmo tempo,
abandonava a orientação liberal na qual tinha crescido e
começava a trabalhar e participava da fundação da Teologia
Dialética, notoriamente antiliberal e antimodernista,
justificando sua atitude com esta nobre motivação: “O objeto
da teologia é Deus e a refutação da teologia liberal baseia-se
no fato de que não se ocupa de Deus, mas do homem”.
210 Mondin, p.146.
5. A influência de Heidegger: Na década de vinte, também
ensinava em Marburg Martin Heidegger. Bultmann teve
assíduos contatos com ele e assimilou com entusiasmo sua
ifiosofia existencialista. Via nela o único instrumento
filosófico apto a exprimir a mensagem cristã de um modo
inteligível para o homem moderno.211 Em 1926, publicou
um livreto intitulado Jesus, em que apresentava a mensagem
de Jesus em termos existencialistas. Contudo, tanto o uso da
filosofia existencialista, como meio de expressão da
mensagem cristã, como o emprego da Formgeschichte, com
uma forte acentuação do elemento histórico-crítico,
separaram pouco a pouco Bultmann de Barth e dos outros
dialéticos.
6. Rompendo com a dialética: Em 1926 já se observara um
sinal da ruptura inevitável, quando Bultmann analisou o Die
Auferstehung der Toten (A Ressurreição dos Mortos) de
Karl Barth. Em seu escrito, Bultmann censurava o teólogo
da Basiléia por não levar muito em conta a critica histórica e
filológica e, ademais, por desenvolver um conceito de fé
demasiado sobrenaturalista, sem nenhuma relação com a
consciência. Com efeito, Barth e Bultmann já se
encontravam encaminhados em duas sendas diversas: uma
levava à analogia da fé e à Die Kirchliche Dogmatik - a
outra levava à demitização e ao Neues Testament und
Mythologie.212
7. A demitização: Em 1941, Bultmann publicou Neues
Testament und Mythologie (Novo Testamento e Mitologia),
o célebre ensaio em que lançou o famoso programa de
demitização do Novo Testamento. O seu escrito obteve
ressonância mundial e exerceu uma influência positiva sobre
211 Mondin, p. 147. 212 Idem.
toda a teologia depois da última Grande Guerra. Por isso, o
ano de 1941 encontra-se entre os mais significativos da
teologia no século XX. Bultmann sempre foi um homem
integral. Como nunca separou o filósofo do teólogo nem o
teólogo do exegeta, também nunca separou a doutrina da
vida. Quando, em 1935,o governo nazista proibiu que as
faculdades de teologia se intrometessem nas controvérsias
entre Estado e Igreja, Bultmann respondeu com uma carta
em que dizia, entre outras coisas: “Para um docente de
teologia, é absolutamente impossível deixar de tomar
posição sobre aquilo que interessa à Igreja, se não quiser
perder todo contato entre atividade literária e vida concreta,
da qual a primeira retira a sua vitalidade”. O fato de ele
recolher donativos junto com o sacristão, depois da homilia
aos domingos, também confirma como a especulação
filosófica nunca se separou da vida religiosa concreta em
Bultmann. Durante a velhice, Bultmann foi atormentado por
várias doenças, entre as quais a cegueira; morreu em 30 de
julho de 1976. 213
8. Suas obras: A produção literária de Bultmann não é tão
vistosa como a de Barth, mas todos os seus escritos são
altamente significativos e levam a marca de um
A lista completa das publicações de Bultmann até 1949 pode
ser encontrada em Pestschrift RudolfBultmann, rum 65.
Geburtstag, Stuttgart, 1949, pp. 241-251; tal lista é
atualizada até 1 de agosto de 1954 pela Theologische
Rundschau, 954, pp. 3-20. Estudioso consciencioso, atento,
agudo, profundo e genial, dotado de uma bagagem crítica,
filológica e também filosófica incomum. Já tivemos
oportunidade de recordar alguns títulos de suas obras: Der
Stil der Paulinischen Predigt und die Kynisch-stoische
Diatribe (Vandenhoek e Ruprecht, Gottingen, 1910), Die
213 Mondin, p.147.
Geschichte der Synoptischen Tradition (idem, 1921) e Jesus
(Deutsche Bibliothek, Berlim, 1926). As outras obras são:
Das Evangelium des Johannes (Vandenhoek e Ruprecht,
G5ttingen, 1941). Nessa obra, Bultmann opera uma
reviravolta decisiva no rumo da investigação histórico-
morfológica, até então centrada exclusivamente nos
sinóticos e esquecida do quarto evangelho e da questão
joanina. Em seu vigoroso comentário, por um lado
reivindica a importância do quarto evangelho para a
compreensão da formação da primitiva fé cristã e, por outro,
ressalta a considerável rede de influências helenísticas,
gnósticas e “mandéias”214 a que o autor de tal evangelho foi
submetido. Theologie des Neuen Testaments, em três
volumes (Mohr, Tübingen, 1948, 1951, 1953). E uma
espécie de summa de todo o pensamento bultmanriiano. Das
Urchristentum im Rahmen der Ántiken Religionen (Artemis,
Zurique, 1949). O título da obra, O Cristianismo Primitivo
no Quadro das Religiões Antigas, é eloqüente: reflete a
exigência de estudar o cristianismo em suas relações com o
mundo, no seio do qual surgiu, como condição para captar o
seu significado próprio e o seu caráter peculiar.
“Considerado como fenômeno histórico”, podemos ler no
prefácio, “o cristianismo tem sua origem no seio do
judaísmo declinante, que, ele mesmo derivado da religião de
Israel, como foi dada a conhecer pelos livros do Antigo
Testamento, nutriu-se, por seu turno, de sua herança.
Entretanto, o cristianismo primitivo é um fenômeno
complexo. Seu crescimento e a forma por ele assumida
foram sem demora fecundados e determinados pelas forças
espirituais do helenismo pagão, que, por sua vez, conservava
214 Referindo-se o estilo lingüístico ou influência semítica das escrituras dos
mandeus, semelhante o aramaico, mas, com influências mesopotâmicas
no vocabulário. Dic. Eletrônico Houaiss.
a herança da história espiritual grega, mas também era
estimulado e enriquecido pela contribuição das religiões do
Oriente Próximo...” The Presence of Eternity: History and
Eschatology (Harper, Nova York, 1957) e Jesus Christ and
Mythology (Scribner, Nova York, 1958). Nesses dois
livretos, o autor clarifica o seu pensamento sobre pontos de
importância capital para a sua teologia, como a natureza, a
necessidade e os limites de demitização, a necessidade do
emprego da filosofia existencialista na interpretação da
mensagem cristã (o Kerygma), a história como parte
estrutural mítica da Revelação, a escatologia como decisão
atual de cada crente, e assim por diante.215 Glauben und
Verstehen, em quatro volumes (Mohr, Tübingen, 1 948ss). E
uma coletânea de ensaios antes publicados em revista ou
outras publicações. Tem grande valor para quem quiser
seguir a gênese e a evolução do pensamento bultmanniano e
para quem quiser penetrar no mundo espiritual íntimo do
discutido teólogo de Marburg. Ensaios como Das Problem
der Hermeneutik, Der Begriff der aflenbãrung im Neuen
Testament e Die Escatologie des Johannes-Evangeliums
revelam melhor do que qualquer outra obra os contornos do
verdadeiro Bultmann. São muitos os temas colocados e
sucessivamente retomados, aprofundados e precisados. Mas
três são aqueles aos quais o autor retorna mais
freqüentemente: história e revelação, revelação e pregação,
pregação e existência. Offenbarung und Heilsgeschehen
(Lempp, Munique, 1941). Inclui dois ensaios: Die Frage der
Natürlichen Offenbarung e Neues Testament und
Mythologie. Como já dissemos, o segundo contém o famoso
programa de demitização do Novo Testamento.
Die Drei Johannes Briefe (Mohr, Tübingen, 1969) e Der
Zweite Brief an die Korinther (idem, 1976).
Para uma bibliografia completa, a cargo de E. Dinkler, cf.
215 Mondin, p.148.
Exegefica, pp. 483-507.
9. A teologia e seus instrumentos: a história, a hermenêtica e
a filosofia – Bultmann assevera com insistência que uma das
funções essenciais da teologia de cada época é compreender
o keiygma (a mensagem revelada) e bem traduzi-lo,
tornando-o a cada vez atual para quem o escuta. Essa função
tornou-se tanto mais urgente em nossa época na medida em
que a roupagem conceitual com que se vestiu no passado já
se gastou; já não atinge mais, não atrai mais; pelo contrário,
tornou-se motivo de escândalo. Essa roupagem pertence a
uma mentalidade superada, uma mentalidade ingênua, pré-
científica, que acreditava nos anjos e demônios, que
colocava o paraíso no céu e o inferno sob a terra. Essa
mentalidade envolveu o kerygma numa visão cósmica que
hoje constitui um forte obstáculo para a aceitação do próprio
kerygma. E preciso, portanto, interpretá-lo e reexprimi-lo
através de categorias mentais que reflitam a
autocompreensão que hoje o homem tem de si mesmo. Para
fazê-lo, segundo Bultmann, o teólogo deve valer-se da
história, da hermenêutica e da filosofia. As duas primeiras o
ajudarão a descobrir o núcleo central da mensagem cristã; a
terceira lhe permitirá exprimi-lo de maneira eficaz e
inteligível para o homem moderno.216 Vejamos adiante
como Bultmann se utiliza desses três instrumentos do seu
“teologar”:
a) A história - Como é sabido, o ponto de partida da
Teologia Dialética foi o protesto contra a pretensão de a
teologia liberal chegar ao objeto da fé somente através
da investigação histórica. Bultmann também emprestou
seu nome ao novo movimento, porque não aprovava o
historicismo dos teólogos liberais. Entretanto, a critica
216 Mondin, op., cit., p.149.
aos seus exageros nunca impediu o teólogo de Marburg
de prestar a Hamack e seus colegas a devida
homenagem de reconhecimento por ter introduzido o
método da critica histórica e ter defendido a tese
incontestável de que o cristianismo é essencialmente um
fenômeno histórico. Em 1950, para celebrar o
cinqüentenário de O que é o Cristianismo? Bultmann
organizou a republicação dessa célebre obra de
Harnack. Na introdução, Bultmann afirma que a
chamada interpretação liberal do cristianismo “não é
absolutamente um resíduo já gasto de outros tempos,
que não se precisa mais levar a sério. Ao contrário, a
concepção ‘liberal’, no mínimo, contém impulsos
ativos, os quais, apesar de obscuros, ainda conservam a
sua legitimidade e validade... Equivale a dizer que a
obra de Harnack deve ser lida não como um simples
documento histórico, mas como uma contribuição à
discussão teológica hodierna... E, tendo em vista o
perigo atual da nova ortodoxia e do retomo de um
‘denominacionismo’ rígido, é necessário que essa voz
não se apague”. Contudo, precisa Bultmann, Harnack
deve ser lido criticamente: “A verdadeira lealdade
nunca é repetição arcaizante, mas uma assimilação
crítica que se apropria dos impulsos legítimos e os
recobre de nova validade por meio de uma nova forma”.
Ora, a leitura crítica de Harnack, segundo o teólogo de
Marburg, mostra que sua obra é viciada por um defeito
substancial. Com efeito, “ainda que ele tenha se
proposto descrever a essência do cristianismo
principalmente na condição de historiador, de fato
nunca conseguiu representar sua própria essência como
fenômeno histórico”. Mas por que razão um mestre tão
excelso de crítica histórica como Harnack não
conseguiu captar a essência do cristianismo? Segundo
Bultmann, isso ocorreu porque o autor de O que é o
Cristianismo? partiu de uma concepção naturalista da
história, à qual, sempre segundo Bultmann, é uma
concepção errada. Na introdução ao Jesus, onde nos
oferece um esboço de sua concepção da história, o
autor explica antes de mais nada a razão de a concepção
naturalista ser inadmissível.“Se quisermos compreender
a história naquilo que ela tem de essencial, não se pode
‘observá-la’ como se observa o mundo que nos
circunda, para dela extrair certas informações. São
diversas as relações que o homem mantém com a
história e a natureza. A diversidade diz respeito à
possibilidade de compreender-se a si mesmo no seu
próprio ser. Ora, quando ele se volta para a natureza a
fim de observá-la, encontra só uma forma de ser que
não é a sua. Entretanto, quando se volta para a história,
não pode deixar de constatar que faz parte dela e que ele
próprio está envolvido no sistema de forças que
determina o seu curso... Qualquer juízo sobre a história,
de alguma maneira, diz também algo sobre nós. Assim,
não pode haver um modo objetivo de observar a história
como há para observar a natureza. Por esse motivo,
nossa exposição não pode ser outra coisa senão um
diálogo permanente com a história, se não quiser
limitar-se a ser apenas uma coletânea de informações
sobre importantes acontecimentos do passado... Não se
pode efetuar um verdadeiro encontro com a história a
não ser no diálogo. Somente quando percebemos que
somos colocados em movimento por forças históricas,
portanto sem fazermos o papel de observadores neutros,
e quando estamos dispostos a dar atenção às exigências
da história, é que podemos compreender
verdadeiramente aquilo que acontece na história... A
história não fala quando tapamos os ouvidos para ela,
isto é, quando pretendemos poder ficar neutros diante
dela; mas, quando vamos a ela movidos por questões e
pelo desejo de aprender alguma coisa, então a história
fala”. Para ser compreendida, a história deve ser
abordada com atitude e espírito existencial. Segundo
Bultmann, a história não é um museu de documentos
antigos que devesse ser visitado de maneira mais ou
menos distraída, mas um conjunto de acontecimentos
que interessam direta e pessoalmente a cada um de nós.
E só quem os aborda com participação existencial pode
eompreendê-los.217 Essa abordagem existencial é o
princípio primeiro da filosofia bultmanniana da história.
Mas não é o único. Ainda há outros dois princípios. O
primeiro diz que aquilo que interessa na história não são
os personagens, mas as obras. Por exemplo, se
quisermos compreender Platão, Dante, Lutero e
Napoleão, não cessitamos nos deter em suas
personalidades. E preciso que nos identifiquemos neles;
porque eles, certamente, não pensavam em suas
personalidades, mas sim em suas obras. Por “obra”,
precisa Bultmann, não se entende o resultado dos seus
esforços, a soma dos efeitos históricos, porque eles não
podiam adotar como objetivo de suas ações a soma de
tais efeitos. “Colocando-se em sua perspectiva, a obra
representa aquilo que eles verdadeiramente quiseram,
aquilo pelo que trabalharam.218 E é nessa perspectiva
que eles se constituem em objeto da pesquisa histórica,
desde que interrogar a história não consista em
informar- se de modo neutro sobre os acontecimentos
objetivamente verificáveis e pertencentes ao passado,
mas sim consista em se preocupar com a questão de
saber como nós, envolvidos no movimento da história,
217 Mondin, op., cit., pp.149-150. 218 Idem, ibid., pp.151-152.
podemos alcançar a compreensão da nossa existência,
ou seja, como podemos ser iluminados sobre as
possibilidades e necessidades da nossa vontade”. O
outro princípio fundamental da filosofia bultmanniana
da história diz respeito à dificuldade de alcançar
resultados seguros através da investigação histórica. Do
método histórico-crítico, Bultmann aprendeu a lição de
que são muito poucas as verdades indiscutíveis na
história. A aplicação dos três princípios expostos à vida
de Jesus e ao Novo Testamento dá os resultados que a
seguir descrevemos. Do princípio da dificuldade de
alcançar conclusões seguras através da investigação
histórica deriva que “nós não podemos, por assim dizer,
saber mais nada da vida e da personalidade de Jesus,
seja porque as fontes cristãs não se interessaram por
isso, seja porque não existem outras fontes sobre Jesus”.
Mas essa situação, segundo Bultmann, não justifica
nenhum ceticismo, por duas razões. Antes de mais nada,
porque “o fato de duvidar que Jesus tenha
verdadeiramente existido não tem nenhum fundamento
e não merece nem mesmo ser refutado. E indiscutível
que Jesus encontra-se na origem do movimento
histórico de que a comunidade palestina primitiva
representa o primeiro estágio tangível”. Em segundo
lugar, porque a impossibilidade de estabelecer em que
medida a comunidade tenha sabido conservar fiel e
objetivamente a imagem que tinha dele e de sua
pregação tem importância para quem se ocupa da
personalidade de Jesus, mas não para quem se interessa
por sua obra. Do princípio de que aquilo que conta na
história não são os personagens, mas sim suas obras,
resulta o propósito de Bultmann de eliminar do estudo
de Cristo todas as expressões “que o descrevem como
um grande homem, um gênio, um herói”. Jesus deve ser
estudado com o mesmo critério com que se deve estudar
todos os homens célebres, vale dizer, através de sua
obra, recordando que em seu caso a atividade primordial
consistiu em pregar; por isso, quem procura descobrir
“aquilo que Jesus queria, deve antes de mais nada
estudar o seu ensinamento”.219 Por fim, do principio de
que não devemos abordar a história com espírito
naturalista, mas sim com espírito existencial, deriva a
conseqüência de que o ensinamento de Jesus não deve
ser tomado como uma ponte para chegar à sua
personalidade nem como um sistema de verdades
gerais, um sistema de proposições que têm valor
independentemente da situação concreta na qual se
encontrava quem as pronunciou. O ensinamento de
Jesus deve ser considerado como proveniente da
situação concreta de um homem que viveu em
detenninado tempo, como um ensinamento capaz de
explicar a nossa existência situada no movimento, na
insegurança e na decisão, e em condições de exprimir
uma possibilidade de compreensão dessa nossa
existência, uma tentativa para fazer brotar as
possibilidades e exigências do nosso existir. “Por isso,
quando nos encontramos diante das palavras de Jesus,
não devemos criticá-las partindo de um sistema
filosófico, em função de sua validade racional; ao
contrário, elas devem vir ao nosso encontro como
questões sobre o nosso modo de conceber nossa própria
existência; isso pressupõe, bem entendido, que nos
preocupemos pelo problema do nosso existir”. Se nos
aproximamos da Palavra de Jesus com essa disposição,
ela nos revelará uma nova compreensão da nossa
existência, uma compreensão radicalmente oposta à que
tínhamos anteriormente. O principal objetivo de
219 Mondin, op., cit., p.152.
Bultmann no admirável ensaio que é o seu Jesus reside
em mostrar que a essência da mensagem de Cristo está
na Revelação desse novo modo de compreender o nosso
existir. O teólogo de Marburg identifica o anúncio da
vinda do Reino de Deus e da salvação com o anúncio
desse novo modo de existir, renúncia ao mundo e
aceitação da vontade de Deus. “As palavras de Jesus
querem conduzir o homem a tomar consciência do
caráter absoluto da exigência divina; elas mostram que
não se pode seguir ao mesmo tempo a vontade de Deus
e os próprios interesses, mas que se trata de um aut-aut.
A mesma tese é retomada em Jesus Christ and
Mythology, onde podemos ler: “A Palavra de Deus
conclama o homem a renunciar ao seu egoísmo e à
segurança ilusória que construiu para si. Conclama-o a
voltar-se para Deus, que está além do mundo e do
pensamento científico. E o conclama ao mesmo tempo a
reencontrar o seu verdadeiro eu. O eu do homem, com
efeito, a sua vida interior e a sua existência pessoal,
também estão além do mundo visível e do pensamento
racional. A Palavra de Deus interpela o homem em sua
existência pessoal e, assim, toma-o livre das
preocupações e da angústia que o sufocam quando se
esquece do além”.220 No ensaio O Cristianismo como
Religião do Oriente e do Ocidente,Bultmaim sustenta
que o êxito do cristianismo deve-se à nova compreensão
da existência humana pregada por Cristo. “Se o
cristianismo – inicialmente uma religião oriental –
torna-se também uma religião ocidental, aliás mundial,
é um fenômeno cujas razões não deveriam ser buscadas
no fato de que contém possibilidades fundamentais para
a compreensão da existência humana, possibilidades
que encontramos imutáveis em toda parte e em toda
220 Mondin, op., cit., p.153.
época, tanto no Oriente como no Ocidente?” Bultmann
responde que o cristianismo deu à existência humana
um sentido que o mundo antigo jamais conhecera.
Apresentou o homem “como alguém que, tornado
consciente do seu isolamento diante de Deus, enfrenta o
mundo de uma maneira desconhecida para a antiguidade
grega. Enfrenta-o como uma entidade
fundamentalmente transcendente, radicalmente diversa
de tudo aquilo que pertence ao mundo”. Essa
transcendência é particularmente visível na doutrina
cristã da dor. “Através da dor se desenvolve no homem
uma força interior pela qual se coloca fora do
alcance da má sorte: a dor é para ele fonte de energia. A
essência mais íntima do cristianismo encontra-se aqui:
Deus se revela no Crucificado, que, enquanto
Ressuscitado, ele transformou em Senhor”. Ao término
da apresentação do pensamento de Bultmann sobre a
história, temos a impressão de que ele incorre numa
grave contradição, quando, por um lado, sustenta que a
Revelação cristã tem caráter histórico e, por outro, nega
que haja nela algo que possa ser investigado mediante
as técnicas do método histórico. Como se pode falar de
acontecimento dotado de caráter histórico e, ao mesmo
tempo, subtraí-lo à investigação histórica? Bultmann
não ignorou essa dificuldade e procurou dissipá-la com
a famosa distinção entre Historie e Geschichte. A
Historie, que poderíamos traduzir pelo termo “crônica
histórica”, pertencem os fatos determinados no tempo,
sujeitos à investigação e à constatação do método
histórico... A Geschichte (“História”) pertencem as
realidades que, mesmo sem prescindir dos fatos
historicamente documentados, estão no tempo mas não
são temporais, no sentido de que não têm uma data, nem
se encontram subjacentes à constatação da investigação
histórica. Essas realidades não recaem sob o domínio da
razão, mas só podem ser recebidas pela fé. A
Geschichte e não à Historie, por exemplo, pertencem a
criação e a redenção como acontecimentos que não
podem ser objetivados. Já a crucifixão é ambivalente:
indica certamente o fato que pode ser datado, de crônica
histórica, da morte de Jesus, mas também o
acontecimento histórico (geschichtlich) da libertação do
homem da escravidão do pecado e de sua reconciliação
com Deus.221 Eis, portanto, a solução da dificuldade:
não há nenhuma contradição na afirmação de que a
revelação cristã é histórica, mas não verificável
historicamente. Com efeito, é histórica na medida em
que pertence à Geschichte, mas não é verificável
historicamente na medida em que não pertence à
Historie.222
b) A Hermenêutica – Em estreita conexão com o problema
histórico encontra-se o problema hermenêutico. Assim,
relacionando-se com a correta compreensão do texto
sagrado, que, como sabemos, relata um fenômeno
histórico, esse problema não pode deixar de coincidir,
em muitos aspectos, com o problema histórico.
Portanto, é compreensível que Bultmann, ao
desenvolver o seu pensamento em torno da
hermenêutica, retome muitos conceitos que já
encontramos anteriormente, quando examinamos a sua
concepção de história. O problema hermenêutico revela
melhor do que qualquer outro os três grandes momentos
do desenvolvimento do pensamento teológico de
Bultmann. Efetivamente, ele está presente de maneira
evidente em todos os três momentos. No primeiro, o da
221 Mondin, op., cit., p.154. 222 Seria a história no sentido mais concreto.
passagem da teologia liberal para a teologia dialética,
temos a elaboração de um novo método exegético, o
método histórico-morfológico (Formgeschichte). No
segundo, o da passagem da teologia dialética para a
teologia existencialista, encontramos o reconhecimento
da necessidade de uma “pré-compreensão” do texto por
parte do exegeta. No terceiro, o da demitização, temos
uma nova e mais radical formulação das funções da
hermenêutica.223
O método histórico-morfológico – Na polêmica com a
escola liberal, Bultmann, juntamente com Dibelius,
desenvolve o método histórico-morfológico
(Formgeschichte). Esse método conserva alguns
elementos do método histórico-critico da teologia
liberal, mas possui dois elementos novos, muito
importantes: um diz respeito à natureza do objeto, o
outro ao modo de abordálo. No método histórico-
morfológico, o objeto da investigação não é mais o
Cristo em si mesmo, mas o Cristo como aparecia para a
comunidade primitiva. Para descobrir a representação
que a comunidade primitiva tinha dele, o método
histórico-morfológico analisa os Evangelhos, separa os
elementos que os compõem segundo os vários gêneros
literários, depois reagrupa-os novamente e, de tal modo,
obtém diversas representações de Cristo, ditadas pelas
múltiplas exigências da comunidade primitiva
(exigências catequéticas, polêmicas, apologéticas,
exorcistas, missionárias, etc.). Por fim, através da
análise de tais representações, procura estabelecer qual
era a tradição cristã primitiva.224 Para o correto uso do
método histórico-morfológico, Bultmann ressalta a
223 Mondin, op., cit., p.155. 224 Mondin, op., cit., pp.155,156.
importância, por um lado, de fixar para cada elemento o
seu Sitz im Leben, ou seja, “o lugar de aparecimento e o
ponto de inserção na comunidade” e, por outro lado, de
enquadrar cada elemento no gênero literário apropriado.
A exegese neotestamentária logo se assenhoreou do
método históricomor-fológico, cujo uso fez com que
realizasse notáveis progressos. Mas muitos exegetas
empregavam-no do mesmo modo como a escola liberal
utilizara o método-critico, vale dizer, com a presunção
de obter resultados “objetivos”, ou seja, tradições e
representações naturalistas e atemporais de Cristo.
Logo que se converteu à filosofia existencialista de
Heidegger, Bultmann apressou-se em protestar contra
essa utilização da exegese histórico-morfológica
e de qualquer exegese em geral. Então, ele proclamou
que não é possível uma verdadeira compreensão do
texto bíblico, como de resto de qualquer texto, sem
uma pré-compreensão existencial.
A pré-compreensão existencial – Antes de mais nada,
declara Bultmann, não se pode considerar o texto como
uma coleta de informações, nem como uma descrição de
algo qualquer (was). Se os fatos narrados fossem
considerados como comunicação de algo, eles não
poderiam ter, em última análise, nenhuma pretensão;
tampouco se poderia ter deles uma autêntica
compreensão, mas apenas um saber ou um ter-como-
verdadeiro. As coisas narradas seriam cadáveres e nós
seríamos necroscópicos. Com efeito, não se pode extrair
nenhuma relação vital de testemunhos históricos do
passado. Certamente permanece vital o interesse da
coisa em si mesma, mas ela só se torna vital através do
aspecto por meio do qual se manifesta. “Toda
interpretação que tenciona compreender deve pressupor
uma relação de vida preliminar com a coisa que se
apresenta no texto ou indiretamente nas palavras,
porque tal relação serve de guia para a intencionalidade
da pesquisa. Sem essa relação vital em que texto e
intérprete são correlatos, não são possíveis nem o
interrogar nem o compreender, aliás, não há nenhum
motivo para uma pesquisa. Por isso é que se diz, isto
sim, que toda interpretação deve basear-se
necessariamente numa certa pré-compreensão
(Vorverstãndnis) do objeto em discussão ou em exame”. 225Além disso, prossegue Bultmann, é preciso interrogar
o texto. Quem quer compreender deve ter uma
disposição de pesquisa, de quem interroga, de
quem226está pronto para ouvir. O teólogo de Marburg
chama esse conjunto de disposições de “pré-
compreensão”, como já o haviam feito os estóicos e
clemente de Alexandria. “Se os textos não são
interrogados, permanecem mudos”. Bultmann
acrescenta no caso da Biblia também uma disposição
especial, relacionada com a existência de Deus. Com
efeito, enquanto narração do agir divino, a Bíblia
implica uma compreensão do significado fundamental
da ação de Deus na medida em que ela difere da ação
do homem e dos acontecimentos naturais. “A pré-
compreensão diz respeito ao problema de Deus que
move a vida humana. Portanto, ela não significa que o
exegeta deva conhecer todo o possível de Deus, mas
sim que tenha consciência do fato de que parte do
problema existencial de Deus, independentemente da
forma que tal problema pode assumir de cada vez na sua
consciência, seja o problema da salvação, o da
libertação da morte, o da segurança diante do destino
225 Mondin, op., cit., p.157.
caprichoso ou o da verdade deste mundo enigmático”.
Por fim, conclui Bultmann, repetindo a propósito disso
o quejá dissera ao tratar da história, a pré-compreensão
deve ter um caráter existencial. A interrogação
fundamental deve ser dirigida a si mesmo, ao próprio
eu. O texto trata de mim, é algo pessoal. A mensagem
me interpela em minha existência e me impele a
escolher novamente essa minha existência; solicita-me
uma nova decisão. “O ser humano é um poder-ser
(Sein-konnen), que deve se realizar na autodecisão. Sem
essa decisão, sem essa disponibilidade do homem a ser
um ser humano, uma pessoa que assume a
responsabilidade da própria existência, não se pode
captar uma só palavra da Bíblia como palavra dirigida à
própria existência pessoal”249. Por outro lado, esse
encontro existencial com a Palavra de Deus é de
importância capital, porque de tal encontro depende a
realização sobrenatural do próprio ser. A plena
realização do próprio ser só é possível através da
aceitação da relação com essa Palavra. Sem o encontro
com ela, uma escolha de si mesmo seria contraditória,
porque então eu poderia escolher a mim mesmo, ou
seja, poderia fundar minha existência em mim mesmo.
Já quando, através do encontro com a Palavra de Deus,
me é oferecida a possibilidade de decidir além de mim
mesmo sobre mim mesmo, então eu fujo a esse absurdo. 227
c) A Filosofia - A teologia é por definição inteilectusfidei,
inteligência da fé. A sua função primária é obter e
conservar a inteligibilidade da Revelação. Para cumprir
essa fumção, serve-se precipuamente da filosofia.
Quando examinamos o pensamento de Bultmann sobre
227 Mondin, op., cit., p.157.
a história e a hermenêutica, já vimos que para ele o
teólogo não pode prescindir da filosofia. Com efeito,
tanto o historiador como o exegeta devem ter uma pré-
compreensão do seu objeto. Ora, toda pré-compreensão
implica uma filosofia. A dificuldade de que nessa
concepção a exegese, a história e, conseqüentemente,
também a teologia podem cair sob o controle da
filosofia, Bultmann responde que na realidade assim é;
“mas é preciso perguntar-se de que modo isso deve ser
entendido. Com efeito, é ilusório pretender que uma
exegese possa ser independente das representações
mundanas. Todo intérprete, consciente ou
inconscientemente, depende das representações que
herdou de uma tradição; e toda tradição se subordina a
uma filosofia, qualquer que seja. Assim, por exemplo, a
exegese do século XIX era, quando muito, tributária da
filosofia idealista, de suas idéias e de sua compreensão
da existência humana. Muitos inérpretes são ainda hoje
influenciados pelas representações idealistas. Disso
deriva que nunca se deveria realizar cegamente um
estudo histórico e exegético, sem levar em conta as
concepções que o orientam. Isso significa, em outras
palavras, colocar a questão da filosofia ‘justa”.
Bultmann passa então a demonstração de que, hoje, a
filosofia “justa”, aquela que assegura uma pré-
compreensão apta a entender o fenômeno histórico do
cristianismo e os textos bíblicos, éo existencialismo.
“Aqui, devemos ver bem claro que nunca haverá uma
filosofia justa no sentido de um sistema filosófico
absolutamente perfeito, capaz de responder a todas as
questões e resolver todos os enigmas da existência
humana. A questão reside apenas em saber qual é a
filosofia que hoje oferece as perspectivas e os conceitos
mais apropriados para a compreensão da existência
humana. Parece-me que, chegados a esse ponto,
devemos aprender algo da filosofia da existência,
porque a existência é o objeto primeiro sobre o qual
essa escola filosófica volta sua atenção. A filosofia da
existência pode oferecer representações apropriadas
para a interpretação da Bíblia, porque esta se interessa
pela compreensão da existência”. Por conseguinte, a
quintessência da mensagem bíblica consiste na
revelação de uma nova compreensão da existência,
entendida como submissão total e obediência a Deus.
Mas não é possível compreender a mensagem bíblica
sobre a existência se não se sabe nem mesmo o que
significa existir. Numa palavra, é necessária uma pré-
compreensão da existência. Por que a pré-compreensão
a ser adotada na interpretação da Escritura deve ser
exatamente a do existencialismo? Por que não pode ser
a do idealismo ou do romantismo? Segundo Bultmann,
a pré-compreensão idealista e a romântica não estão
aptas porque não se limitam a fornecer esquemas gerais
de compreensão, mas já os preenchem com seu
conteúdo, razão pela qual terminam por controlar
totalmente a interpretação da Escritura.228 Tanto o
idealismo como o romantismo têm um conceito tal do
homem que tomam impossível a livre decisão de viver
em total obediência a Deus. Com efeito, o idealismo
identifica o homem com Deus e nessa identificação não
sobra nenhum lugar para a decisão humana; já o
romantismo, centrando tudo no homem, não deixa mais
espaço para uma intervenção extraordinária de Deus. O
existencialismo, ao contrário, fornece teólogo só um
esquema geral da autêntica existência, sem
predeterminar ia atuação concreta em cada instante
particular. Para provar que o existencialismo não
228 Mondin, op., cit., pp.158-159.
oferece um modelo de existência concreta, Bultmann
recorre ao exemplo da análise existencial do amor.
“Seria ‘ erro”, afirma ele, “crer que a análise existencial
do amor possa permitir-me compreender a maneira
como devo amar neste lugar e neste momento. Essa
Eiálise limita-se a explicar-me que não posso
compreender o amor a não ser amando. Nenhuma
análise pode substituir-se ao meu dever de compreender
o inu amor como um encontro que se realiza em minha
existência pessoal”.229 E o mesmo em relação à
existência: “A análise filosófica não tem a pretenção de
trar-me minha autocompreensão pessoal. A análise
puramente formal da istência não considera a relação
entre o homem e Deus, uma vez que não
a em conta os acontecimentos concretos da vida pessoal,
os encontros ncretos que formam a existência pessoal.
Se é verdade que a revelação de Ius não se cumpre
senão nos acontecimentos da vida, neste lugar e neste
IuInento, e que a análise da existência limita-se à vida
temporal do homem 1bida na sucessão de lugar e
tempo, então essa análise revela um domínio qii só a fé
está em condições de compreender, na medida em que
constitui o ânínio da relação entre o homem e Deus... A
filosofia da existência não leva consideração a relação
entre o homem e Deus: esse fato comporta o
flzihecimento de que eu não posso falar de Deus como
do meu Deus até que i olhe para dentro de mim mesmo.
A minha relação pessoal com Deus só
ser estabelecida por Deus, do Deus que opera e que me
encontra em sua palavra”. 230Noutro trecho, Bultmann
precisa que a diversidade entre filosofia da siência e
Escritura não deve ser colocada no plano do
229 Mondin, op., cit., p.159. 230 Idem.
conhecimento, mas sim no plano da ação. Com efeito,
assegura o teólogo de Marburg, no plano do
conhecimento a filosofia não tem nada a apreender do
Novo Testamento, porque já sabe aquilo que significa
“existência histórica”. Já no plano da ação a Escritura
afasta-se da filosofia. Esta considera que o homem é
capaz de libertar-se sozinho da escravidão do homem
velho e da morte, ao passo que a Escritura ensina
exatamente o contrário. Ela faz ver que o homem,
mesmo sabendo aquilo que deve fazer, é incapaz de
fazê-lo. Para ser libertado, o homem tem necessidade de
uma intervenção especial, de um “ato” de Deus. Por
isso, a boa nova do Novo Testamento não é uma
doutrina sobre o autêntico ser do homem, mas “o
anúncio de um ato de redenção realizado por Cristo”.231
Para compreender corretamente o pensamento de
Bultmann sobre essa questão, é preciso notar que ele
considera que a filosofia não está em condições de
descobrir o pecado. Por isso afirma que a filosofia pode
considerar como transponível o abismo que separa a
vida inautêntica da vida autêntica. “A auto- afirmação
do homem cega-o para o fato do pecado e essa é a prova
mais clara de que ele é um ser decaído. Portanto, de
nada serve dizer-lhe que é um pecador. Responderá que
se trata de uma mitologia. Mas isso não quer dizer que
está com a razão. O pecado deixa de ser mitologia
quando o amor de Deus encontra o homem, como uma
força que o abraça e sustenta também em sua condição
de pecado e soberba. O amor de Deus trata o homem
como se fosse diferente daquilo que é. Assim fazendo,
liberta-o da condição em que se encontra”. 232
Segundo Bultmann, o existencialismo presta-se
231 Idem, ibid., p.160. 232 Mondin., op., cit., p.160.
admiravelmente à interpretação da Escritura, não só por
sua pré-compreensão da existência humana em geral,
mas também por sua concepção do homem em suas
características específicas. Segundo o existencialismo, o
homem distingue-se das outras criaturas porque,
diversamente delas, não é algo finito, verificável,
“tangível”, mas sim uma mina de possibilidades, as
quais fazem de sua vida uma vida de “decisões”. E ele
se perde quando, ao invés de manter-se continuamente
alerta, vigilante em relação às suas escolhas, deixa-se
arrastar pelo hábito e se aprisionar pelo passado, pelo
homem velho, por aquilo que já é, ao invés de tender
para aquilo que pode e deve ser. Contudo, ao contrário,
salva-se quando vive em contínua tensão para as suas
possibilidades. A existência humana é uma luta perene
entre vida inautêntica e vida autêntica. A plenitude e a
completeza da vida só podem ser alcançadas quando se
aceita e se vive para a extrema possibilidade, a morte.
Ora, segundo Bultmann, partindo dessa concepção do
homem, o kerygma Cristão é plenamente iteliíveL
Numa palavra, o esquema do kerygma enquadra-se
perfeitamente com o esquema do existencialismo.
Também o cristianismo fala de homem velho e de
homem novo, de queda e redenção, de possb}k1ades e
decisões. Por essa razão, deve-se considerar o
existencialismo a filosofia “justa”, que “oferece as
representações apropriadas para a interpretação da
Bíblia”.233
10. Existencialismo e demitização: Há ainda uma última
razão pela qual ele vê no existencialismo um
instrumento indispensável para a teologia
233 Mondin, op., cit., p.161.
contemporânea: só o existencialismo oferece categorias
adequadas para operar a demitização da mensagem
cristã que ele considera ser hoje a tarefa máxima da
teologia. Mais adiante, retomaremos esse tema. Em
virtude de todos esses motivos, Bultmann conclui:
“Pretendo ater-me ao existencialismo até que alguém
me faça conhecer um método exegético melhor”.234
Hoje, Bultmann é para todos o símbolo da demitização.
Desde 1941, ano em que publicou o célebre ensaio
Neues Testament und Mythologie, até hoje, os teólogos,
exegetas e filósofos nunca mais falaram de mito e
demitização sem referir-se necessariamente a ele. Essa
parte do seu pensamento é bastante conhecida e, além
disso, é bastante acessível: para tomar conhecimento
dela, basta ler as breves e estimulantes páginas de Neues
Testament und Mythologie. Por isso, limitamos-emos
aqui a uma rápida síntese dos pontos principais. Seu
ponto de partida é a distinção, na mensagem cristã, entre
conteúdo essencial e forma estrutural; o primeiro
permanece necessariamente imutável; já a segunda pode
variar de geração para geração.
A forma estrutural pode ser tríplice: mítica, metafisica
e científica. Entretanto, para ser compreensível, deve
corresponder à mentalidade da geração à qual a
mensagem é endereçada. Se a geração tem uma
mentalidade mítica, a mensagem deve assumir uma
forma mítica; se tem uma mentalidade metafisica, deve
assumir uma forma metafisica; se tem uma mentalidade
científica, deve assumir uma forma científica.
Colocadas a distinção entre conteúdo e forma e a
divisão da mentalidade em mítica, metafisica e
científica, Bultmann estabelece que os cristãos dos
234 Mondin, op., cit., p.161.
primeiros séculos tinham uma mentalidade mítico-
metafisica e, portanto, conclui que eles deram à
mensagem de Cristo uma expressão mítica e metafisica.
Entende por mito “a descrição do transcendente sob
vestes mundanas, das coisas divinas como se se
tratassem de coisas humanas”.
São três os elementos típicos da descrição mítica: 1)
poderes sobrenaturais; 2) que operam neste mundo; 3)
assumindo formas antropomórficas. Todos os três se
encontram nos escritos neotestamentários. Neles, por
conseguinte, o mundo é concebido como um edificio de
três andares, com o andar superior ocupado pelo céu, o
andar central pela terra e o andar inferior pelo inferno:
“O céu seria a morada de Deus e dos seres celestes; o
mundo subterrâneo é o inferno, o lugar da pena. A terra
é, por sua vez, não só o teatro dos acontecimentos
naturais e cotidianos, da previdência e do trabalho, do
cálculo ordenado e regulado, mas também o teatro da
ação de poderes sobrenaturais, isto é, de Deus e dos
seus anjos, de Satanás e “dos seus demônios”.
Segundo Bultmann, a principal característica da
mentalidade metafisica é a de objetivar – isto é,
exteriorizar – os nossos estados mentais, reconhecendo-
lhes um estado objetivo fora de nós. Uma vez
objetivados, tais estados tomam o nome de anjos ou
espíritos benéficos, quando se trata de bons impulsos,
ou então tomam o nome de demônios, quando se trata
de maus impulsos. Reconhecendo-lhes uma existência
autônoma, se obtém, acima de nós, um céu povoado de
uma hierarquia de anjos e seres sobrenaturais, sob o
domínio onipotente de Deus, e sob nós um infemo
repleto de espíritos malignos. “Tais poderes se inserem
nos acontecimentos naturais não menos do que no
pensamento, na vontade e na ação do homem; por isso,
o milagre não é uma coisa rara.235
O homem não é dono de si mesmo; os demônios podem
possuí-lo: Satanás pode sugerir-lhe maus pensamentos;
assim, Deus também pode infundir- lhe o seu próprio
pensamento e a sua vontade, fazê-lo descobrir figuras
celestes e ouvir a sua palavra de comando e conforto,
dar-lhe o poder sobrenatural do seu espírito. A história,
portanto, não segue um curso constante e regular,
mas recebe movimento e direção das forças
sobrenaturais”.236
Depois, Bultmann procede à aplicação da distinção
entre forma míticometafisica e conteúdo salvífico aos
Evangelhos, concluindo que o conteúdo “Neves
Testamen! una Mythologie. O mito sempre esteve no
centro das preocupações bultniana. A referência ao mito
é constante, ainda que nem sempre necessariamente
explícita, em toda a sua obra. Mas em poucas ocasiões
ele tenta elaborar uma definição clara do conceito de
mito. Além da definição citada acima, também é digna a
nota aquela que Bultmann dá em Jesus Christ and
Mythology: “A mitologia exprime uma certa
compreensão da existência humana. Para ela, o mundo e
a vida humana encontram o seu fundamento e os seus
limites num poder situado al& daquilo que nós podemos
prever e dominar. A mitologia fala desse poder de
maneira inadequada e insuficiente. medida em que fala
235 Mondin, op., cit., p.162. 236 Idem.
dele como se se tratasse de um poder mundano”237
salvífico consiste “num juízo (de Deus) que nos declara
livres dos poderes do mundo sob cujo domínio nós
caímos”. Deus deu expressão visível a esse juízo na
morte de Cristo, que, conseqüentemente, é o sinal
visível da redenção da humanidade das potestades de
que era escrava. Toda a essência do kerygma está aqui,
segundo o teólogo de Marburg: no juízo de Deus que se
renova a cada instante no simples fiel, que se salva
submetendo-se humildemente a ele.238 Ao contrário,
todo o embasamento histórico do Novo Testamento faz
parte da forma mítico-metafisica: isto é, o relato de que
na plenitude dos tempos foi enviado ao mundo o Filho
de Deus, ou seja, uma essência divina preexistente ao
seu fenômeno, a qual, dando início à escatologia com
sua morte e ressurreição, cancelou o pecado e triunfou
sobre os poderes demoníacos que dominaram o mundo
até a sua vinda. Portanto, a maior parte dos
acontecimentos relacionados com a vida de Cnsto,
segundo Bultmann, são fruto do colorido niítico-
metafisico, especialmente os milagres, a morte vicária e
a ressurreição. Uma vez estabelecido que a mensagem
cristã foi expressa mediante categorias mítico-
metafisicas, Bultmann se pergunta: “A pregação cristã
pode pretender que o homem moderno reconheça como
verdadeira uma imagem mítica do mundo?” A resposta
é obviamente negativa: “Isso não tem sentido e é
impossível. Não tem sentido: com efeito, a imagem
mítica do mundo, enquanto tal, não é de modo algum
uma realidade especificamente cristã, mas sim a
imagem do mundo formulada no passado e ainda não
elaborada pelo pensamento científico. Impossível:
237 Idem. 238 Mondin, op., cit., p.163.
porque não se pode fazer própria uma imagem do
mundo simplesmente através de uma decisão da
vontade, mas ela é dada ao homem juntamente com a
situação. histórica”. Ora, “para o homem moderno, a
concepção mitológica do mundo, as representações da
escatologia, do redentor e da redenção são ultrapassadas
e superadas”. Por isso, é preciso demitizar. Demitizar
significa “procurar descobrir o significado mais
profundo que está oculto sob as concepções
mitológicas. O seu objetivo não é eliminar os
enunciados mitológicos, mas sim interpretá-los”,
servindo-se da autocompreensão que o homem moderno
tem de si mesmo. O resultado da demitização
bultmanniana do Novo Testamento é bastante
conhecido Consiste na descoberta, feita já no Jesus e
confirmada depois em todas as suas obras posteriores,
de que “o significado mais profundo da pregação
mitológica de Jesus é o seguinte: devemos estar abertos
para o futuro de Deus, futuro que, para cada um de nós,
é iminente; estar preparados para receber esse futuro,
que pode sobrevir como um ladrão na noite, no
momento em que menos o esperamos; estar prontos,
porque esse futuro será o juízo de todos os homens
agarrados ao mundo, que não são livres nem abertos
para o futuro de Deus”.239 Esse processo de demitização
que pode nos parecer tão surpreendente – segundo
Bultmann – não é novo nem recente, masjá se
encontrava nas Epístolas de São Paulo e no Evangelho
de são João, que foram seus iniciadores. Assim,
enquanto a pregação de Jesus “era conservada e
continuada pela comunidade primitiva sob forma mítica,
já começava em boa hora o processo de demitização,
parcialmente com Paulo e radicalmente com João. O
239 Mondin, op., cit., p.163,164.
passo decisivo foi dado quando Paulo declarou que a
virada do mundo antigo para o mundo novo não estava
situada no futuro, mas se produzira com a vinda de
Jesus Cristo: ‘Quando, porém, chegou a plenitude do
tempo, enviou Deus o seu Filho’ (Gl 4,4). E verdade
que Paulo ainda esperava o fim do mundo sob a forma
de um drama cósmico, aparusia de Cristo sobre as
nuvens do céu, a ressurreição dos mortos, o juízo final;
porém, com a ressurreição de Cristo, o evento decisivo
já teve lugar... Depois de Paulo, João demitizou a
escatologia de maneira radical. Para João, a vinda e a
partida de Jesus constituem o acontecimento
escatológico... Esses exemplos - parece-me - mostram
que a demitização teve início no Novo Testamento
mesmo e que, conseqüentemente, hoje a nossa tarefa de
dcmitizar é justificada”.240
Concluindo, “demitizar quer dizer repelir a idéia deque
a mensagem bíblica e eclesial esteja ligada a uma visão
antiga e ultrapassada do mundo. A tentativa de
demitização parte desta idéia essencial: a pregação
cristã, enquanto Palavra de Deus pregada em sua ordem
e sob o seu nome, não apresenta uma doutrina que seria
necessário aceitar seja com um ato de razão, seja às
custas de um sacrficium inteilectus.241
A pregação cristã é um kerygma, ou seja, uma
proclamação que não se dirige à razão especulativa, mas
ao ouvinte tomado na sua ipseidade. E assim que Paulo
se recomenda à consciência de cada homem diante de
Deus (2Cor 4,2). A demitização quer evidenciar essa
240 Mondin, op., cit., 164. 241 Idem.
função da pregação como mensagem pessoal: fazendo
isso, eliminará um falso escândalo e colocará à luz do
dia o verdadeiro escândalo, a palavra da Cruz”. A
teologia genial e revolucionária de Rudolf Bultmann é
atormentado pelas exigências da fé e da razão que em
seu pensamento se apresentam como irremediavelmente
contrastantes.242
A fé quer o reconhecimento de algo que a razão não
pode compreender; a razão, ao contrário, recusa-se a
acolher tudo aquilo que não está em conformidade com
suas leis. Na dialética entre as exigências da fé e as
exigências da razão, a primeira sai sistematicamente
derrotada. Nós o vimos em todos os momentos mais
significativos do seu pensamento, na demitização, na
história e na hermenêutica.243
A demitização corresponde inegavelmente a uma das
necessidades permanentes da fé, a de conservar pura
a mensagem revelada e manter intacta a sua
inteligibilidade. Bultmann teve o mérito singular de ter
revelado sua urgência num momento em que, por
múltiplas razões, a mensagem original parece poluída
por muitos elementos estranhos e parece ter perdido
toda eficácia.244
O teólogo de Marburg realiza a demitização com
critérios tais que, no fim de sua operação, muito pouca
coisa resta da fé cristã: o evento salvífico resolve-se no
apelo à decisão e a Revelação se reduz a uma pura onda
sonora proveniente de uma estação transmissora
242 Mondin, op., cit., pp.164,165. 243 Mondin, p.165. 244 Idem.
totalmente desconhecida, ao passo que são eliminados
do núcleo da mensagem tanto o embasamento histórico
como o componente sobrenatural. Mas será admissível
uma demitização tão radical assim? Parece-me que ela é
incompatível com os testemunhos daqueles que foram
os primeiros depositários, imediatos e diretos, do
kerygma, os quais afirmam terem sido restemunhas
oculares de realidades e acontecimentos extraordinários
e repelem uergicamente a acusação de tê-los imaginado
com a própria fantasia; que, aliás, dão mais importância
aos acontecimentos extraordinários do que à sua cisão
de fé, pois sem tais acontecimentos esta última seria
completamente absurda: “Se Cristo não tivesse
ressuscitado, vã seria a nossa fé”. São os ontecimentos
extraordinários que dão origem ao apelo e conduzem à
decisão e a uma nova concepção da existência, e não o
contrário. Por isso, não se pode rnitizar o keiygma ao
ponto de eliminar dele tudo aquilo que pertence ao
nbasamento histórico e sobrenatural. Pois também esse
embasamento, como demonstrou Oscar Cullmann,
pertence à essência do cristianismo. A operação de
demitização bultmanniana baseia-se na tese de que todo
o basamento histórico e sobrenatural faça parte da
forma e não do conteúdo Revelação, na medida em que
seria fruto da visão científica e filosófica dos primeiros
cristãos. Tal tese, porém, como já dissemos, está em
aberto conflito com o claro testemunho dos autores
sacros.245
A distinção entre Historie e Geschichte também
corresponde a uma eugência da fé, porque a história da
salvação não é constituída por fatos históricos
imediatamente observáveis e sujeitos às técnicas da
245 Mondin, op., cit., p.165.
investigação histórica. Se assim fosse, a fé não seria
mais fé, mas simples constatação empírica. A distinção,
contudo, é aproveitada por Bultmann para escavar um
tal abismo entre as duas que a razão não tem mais
nenhum motivo para acolher a Geschichte mas encontra
muitas razões para negar sua existência, de maneira que
a Geschichte torna-se um evento absurdo para a razão.
Mas também aí Bultmann encontra-se em contradição
com a Escritura. Esta, com efeito, não concebe a
história sagrada como negação da história profana, mas
como redenção e sublimação dela. Bultmann prestou
um imenso serviço à exegese bíblica com a introdução
do método da Formgeschichte. Mas também esse
método é utilizado por ele de modo arbitrário: serve
para que ele erga uma barreira intransponível entre o
Cristo da fé e o Cristo da história, deixando-nos
unicamente a possibilidade de tomar contato somente
com o primeiro. Bultmann reconhece que o kerygma
pressupõe o fato de que Jesus viveu e foi crucificado,
mas nega que nós possamos conhecer o que quer que
seja a respeito daquilo que ele efetivamente ensinou e
realizou. O que (das) radica o kerygma na história e
impede-lhe que se resolva em simples mito. Mas o
aquilo (was) não tem importância e, portanto, não há
motivo de preocupação se não pode ser recuperado.246
O Novo Testamento, entretanto, não opera e não
justifica essa separação. Ao contrário, em seu chamado
à fé, ele pretende comunicar um conteúdo que deriva
daquilo que aconteceu na história. A pregação cristã
primitiva identifica o Cristo que proclama como Senhor
e Salvador com Jesus de Nazaré, o qual, como
verdadeiro homem, viveu, ensinou, sofreu e morreu em
246 Mondin, op., cit., p.166.
completa obediência a Deus e entrega de si mesmo. Em
sua vida, viu a manifestação do amor salvífico do
próprio Deus. Quando Paulo prega o perdão dos
pecados através da fé em Cristo, pressupõe claramente
que Deus realmente agiu no Jesus histórico para fazer
conhecer o seu amor reconciliador. Portanto, a
personalidade histórica de Jesus é a base indispensável
da fé cristã. Sem essa referência histórica e ontológica,
o apelo do kerygma toma-se totalmente subjetivo.
Bultmann, por conseguinte, tem razão quando insiste
em que o kerygma expressa o significado que Jesus
tinha para a comunidade primitiva. Mas está errado
quando sustenta que tal significado é inteiramente
independente do Cristo histórico. A doutrina
bultmanniana sobre a pré-compreensão existencial
mereceria longos comentários. Limitar-nos-emos,
porém, a poucas observações de caráter geral.
Afirmando, contra Barth e Cullmann, a necessidade de
uma précompreensão, Bultmann reconheceu justamente,
junto com Brunner, Niebuhr, RUDOLF BULTMÁV 167
Tillich e os teólogos católicos, a exigência de parte da fé
de encontrar no homem um ponto de junção para que
este possa verdadeiramente considerar-se crente.
Ademais, ele viu muito bem quando observou que a
pré-compreensão varia de época para época, de geração
para geração e, portanto, sustentou legitimamente que,
para preservar intacta a inteligibilidade do kerygma,
deve-se expressá-lo através das categorias daquela pré-
compreensão que é própria da geração à qual a
mensagem é destinada. Por fim, pode-se estar de acordo
com Bultmann também sobre a oportunidade de utilizar
o existencialismo para a pré- compreensão do kerygma
no século XX.247
247 Mondin, op., cit., pp. 166,167
Com efeito, a fé é um evento existencial. O Evangelho
diz respeito ao homem, à existência humana. Do início
ao fim, as Escrituras proclamam aquilo que Deus fez e
faz pelos homens. O Deus da Bíblia é o Deus de
Abraão, Isaac e Jacó, isto é, do simples indivíduo e não
da espécie humana. Ademais, o Evangelho dirige-se a
toda a pessoa e não apenas à parte racional, às
faculdades intelectivas, e a resposta que ele exige de
nossa parte é o confiante abandono de todo o nosso ser
nas mãos de Deus e não apenas a aceitação intelectual
de uma série de dogmas. Deus deve ser encontrado
como pessoa e não como objeto. O verdadeiro crente
não é um simples espectador, mas um ator que toma
parte no evento salvífico. Tudo isso é expresso
apropriadamente pelas categorias do existencialismo,
dentre as quais Bultmann deu justo relevo à categoria da
decisão, que é aquela na qual o conteúdo da Revelação
melhor se estampa. Ela abarca efetivamente uma parte
essencial do keiygma, que propõe ao homem um novo
modo de existir contrário ao modo de ser mundano e
pede-lhe que se decida entre os dois. A categoria da
decisão ressalta bem o papel reservado ao homem na
obra da salvação. Fazendo- a sua, o teólogo de Marburg
afasta-se de Barth e, aliás, da teologia protestante, para
a qual Cristo só redimiu então, de uma vez por todas,
sem ulteriores ações; para nós, só restaria a memória do
evento. Vinculando a realização da redenção à minha
decisão presente, Bultmann está mais próximo da
posição católica e da posição paulina do adimpleo ea
quae desunt Christ passionum (Cl 1,24).248
Dito isso a favor da pré-compreensão existencial,
devemos ressaltar prontamente que ela, por si só, não
248 Mondin, op., cit. p.167.
basta para servir de forma a toda a riqueza da
mensagem cristã; porque, transcurando completamente
o aspecto objetivo tudo aquilo que pertence a Deus e a
Jesus Cristo em si mesmos; tudo aquilo que pertence ao
passado e ao futuro e não diz respeito imediatamente ao
presente), ela o mutila gravemente. Tem razão Wingren
ao afirmar que Bultmann, comprimindo o kerygma
dentro da pré-compreensão existencial, “faz
deliberadamente do homem moderno a norma. A norma
da compreensão que o homem modemo tem de si
mesmo decide aquilo que pode ser apreendido do Novo
Testamento”. Ainda uma vez, no conflito entre as
exigências da fé e da razão, quem leva a melhor é a
razão.
Para Bultmann, a vitória da fé sobre a razão é apenas
aparente; ela serve para libertar a fé de todas as
superestruturas com que foi circundada para tomá-la
mais aceitável para a própria razão.
Assim sendo, não se deve atribuir a demitização radical
da fé a uma tendência racionalista que Bultmann teria
herdado da escola liberal, mas muito mais a uma nova
interpretação do princípio protestante da sola fides. Essa
lides, para ser verdadeiramente sola, não deve de modo
algum se apoiar em expedientes que possam
impressionar e influenciar a razão. Por isso, para
salvaguardar a “solitude” da fé, o teólogo tem o dever
de utilizar a razão para demolir todos os artificios com
os quais se procurou adoçar o escândalo da fé.
Como se vê, Bultmann estabelece para a teologia tarefas
totalmente diversas e opostas àquelas que sempre lhe
estabeleceram a teologia católica e, bastante
freqüentemente, também a protestante. Para todos os
teólogos católicos e para a maior parte dos protestantes,
a função da ciência sacra é lançar pontes entre a fé e a
razão. Já para Bultmann a sua função é cortar todas as
pontes entre uma e outra. Assim, ainda que por caminho
diferente, Bultmann chega às mesmas conclusões de
Barth: ambos levam às últimas conseqüências o
princípio fundamental do protestantismo, a sola fides.