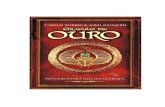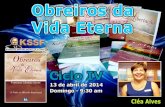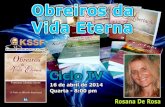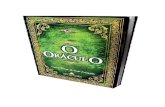capitulos-07
-
Upload
renan-moura -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of capitulos-07
-
A INTEGRALIDADE DO CUIDADO COMO EIXO DA GESTO HOSPITALAR
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CECILIO
EMERSON ELIAS MERHY
Campinas , maro de 2003.
Uma defini o inicia l de inte gr a l i da d e
Nossa primeira tarefa, quando nos ocupamos de pensa r o tema da integr al idade
da ateno no hospital, tenta r const rui r uma definio de integra lidade que
sirva de guia para a conduo de nossas reflexes. Par tindo do senso comum e
correndo o risco de uma tautologia, poderamos dizer que a ateno integral de
um pacient e no hospital seria o esforo de uma abordag e m completa , holstica,
portan to integra l , de cada pessoa portador a de necessidad es de sade que, por
um cer to perodo de sua vida, precisasse de cuidados hospitala r e s . Tal
abordag e m implica ria em garan t i r desde o consumo de todas as tecnologias de
sade disponveis para melhora r e prolonga r a vida, at a criao de um
ambiente que resultasse em conforto e segura n a para a pessoa hospitalizada .
Cuidado integr al em sade ocorre r ia a par ti r de uma combinao generos a e
flexvel de tecnologias duras, leve- duras e leves (MERHY , 2002) 1. Tecnologia eHumaniza o combinad as , no desafio de adota r o lugar do pacient e e suas
necessidade s singula re s como ponto de par tida para qualque r interveno
hospitalar . Achamos que tal tipo de definio, em princpio, bastan t e razovel
como ponto de par tida para a const ruo do texto, mas no suficiente . Outras1 Tecnologias duras: aquelas ligados a equipa me n to s, procedime n to s; tecnologias leve- duras:
aquelas decor ren t e s do uso de sabere s bem estru tu r a d os, como a Clnica e a Epidemiologia;tecnologias leves: aquelas relacionais, no espao intersubje tivo do profissional de sade epacien te .
1
-
questes precisa m ser agrega d a s a ela, na perspec t iva de se trat a r a
integra lidade da ateno como tema da gesto hospitala r . A integral idade da
aten o hospitala r pode ser problema t izad a a parti r de dois ngulos: a
integra lidade da ateno olhada no hospital e a partir do hospital (a integra lida detendo como referncia o atendimen to no ambiente hospitalar em si) e aintegra lidade tendo como refernci a a insero do hospital no sistem a de
sade. Exploramos, a seguir , estes dois ngulos.
A inte gr a l id a d e do cuidad o no hospi t a l: o cuidad o com o snt e s e demlt ip lo s cuidad o s .
O cuidado, nas organizaes de sade em geral, mas no hospital em par ticular ,
, por sua natu reza , necessa r ia m e n t e multidisciplina r , isto , depende da
conjugao do trabalho de vrios profissionais . Mecanismos institudos dedominao e de relaes muito assimt r ica s de poder entre as vrias
corporaes profissionais ocultam a imprescindvel colabor a o que deve existir
ent re os vrios trabalhado r e s , como operado r e s de tecnologias de sade , para
que o cuidado acontea . O cuidado, de forma idealizada , recebido/vivido pelo
pacient e somatrio de um grande nmero de pequenos cuidados parciais que
vo se compleme n t a n do, de maneira mais ou menos conscien t e e negociada ,
ent re os vrios cuidador e s que circulam e produze m a vida do hospital. Assim,
uma complexa trama de atos, de procedimen tos , de fluxos, de rotinas, de
sabere s , num processo dialtico de compleme n t a o , mas tamb m de disputa ,
vo compondo o que entende m os como cuidado em sade. A maior ou menor
integra lidade da ateno recebida resul ta , em boa medida, da forma como se
articulam as prticas dos trabalha do r e s do hospital .
O cuidado hospitala r ocorre no contexto de uma crescen te racionalizao das
pr ticas hospitala r e s (CARAPINHEIRO , 1998), carac te r iza da , entre outras
2
-
coisas, pela decomposio do ato mdico global em inmeros outros atos
diagnsticos e terapu t icos , realizados por vrios trabalhado r e s diferent e s . Para
ilustra r este fato, basta imaginar mos os cuidados de um paciente com diabet es
interna do com um quadro de descompe n s a o . Alm dos cuidados iniciais do
plantonis t a , que o recebe e interna a par ti r do pronto- socorro, ele recebe r
tambm cuidados da enferma g e m, poder ser visto, em algum momento, pelo
cirurgio vascula r , pelo cardiologista , pelo endocrinologis ta , pela nutricionista ,
pela assisten t e social e pela psicloga . Alm do mais, ter seu corpo escrut inado
por uma bateria de exames, alguns deles bastan t e complexos, realizados em
servios diferen te s e por profissionais disitntos. Uma das sobreca r g a s - talvez a
maior - do processo gerencial do hospital contempor n eo consegui r coorden a r
adequa da m e n t e este conjunto diversificado, especializado, fragmen t a do de atoscuidador e s individuais , que resul te em uma dada coorden a o do cuidado
(MERHY & CECILIO , 2002). Esta dinmica , cada vez mais presen t e na vida doshospitais , um aspecto cent ral a ser conside ra do na discusso da integra lidade e
na sua correlao com o processo de gesto. Uma coisa pensa r o trabalho em
equipe como somatri a de aes especficas de cada profissional, como linha de
montage m do trat am e n to da doena , tendo a cura como ideal (...) a hiera rquia ea rigidez de papis codificados (NICCIO apud SILVEIRA, 2003 ); a outra , pensa r arranjos institucionais , modos de opera r a gesto do cotidiano sobre amicropoltica do trabalho que resultem em uma atuao mais solidria e
concer t a d a de um grande nmero de trabalhado r e s envolvidos no cuidado. Nesta
medida, parece- nos que o tema da integra lidade do cuidado no hospital, como
nos demais servios de sade, passa, necessa r i a m e n t e , pelo aperfeioa me n t o da
coordena o do trabalho de equipe como uma tema para a gesto hospitala r .
O hosp i t a l no sis t e m a de sad e: o outro ngu l o da inte gra l id a d e .
3
-
Sistema de sade (entre aspas) j sinaliza a discusso que ns pretende m osfazer. A noo de sistema traz implcita a idia de funcionam e n to harmonioso
entre parte s, cada qual com sua funo, que contribua para o bom
funcionam e n to do todo. O concei to de sistema de sade denota uma concepo
idealizada , de car te r normat ivo da sade, que no se susten t a na pr tica.
Qualque r observador aten to do Sistem a nico de Sade (SUS), seja ele uminvestigado r engajado em uma pesquisa , seja um dirigen te ou geren t e , sabe queo denomina do sistem a de sade , na verdade , um campo atravess ado por
vrias lgicas de funcionam e n to , por mltiplos circuitos e fluxos de pacient es ,
mais ou menos formalizados , nem sempr e racionais, muitas vezes
inter rom pidos e truncados, const rudos a parti r de protagonis mos, interes se s e
sentidos que no podem ser subsumidos uma nica racionalidade insti tucional
ordena do r a . Mais do que um sistema, deveramos pensa r em uma rede mvel,
assimt r ic a e incomplet a de servios que operam distintas tecnologias de sade
e que so acessados de forma desigual pelas diferen t e s pessoas ou
agrupa m e n tos , que deles necessi t a m. Uma das conseqncias desta forma de
funcionam e n to a imensa dificuldade de se consegui r a integr a lidade do
cuidado, quando nosso ponto de observa o o usurio e no este ou aquele
servio de sade. A integra lidad e do cuidado que cada pessoa real necessi t a ,
freqen t e m e n t e transve rs a l iza todo o sistem a. No h integr a lidade radical
sem esta possibilidade de transve rs a lidad e . A integr alidade do cuidado s pode
ser obtida em rede . Pode haver algum grau de integra lidade focalizada quando
uma equipe, em um servio de sade, atravs de uma boa articulao de suas
pr ticas, consegue escut a r e atende r , da melhor forma possvel as necessidad es
de sade trazida por cada um (CECILIO , 2001). Porm, a linha de cuidadopensad a de forma plena, atravess a inmeros servios de sade. O hospital pode
ser visto como um componen t e funda me n t a l da integr alidad e do cuidado
pensad a de forma ampliada ,como uma estao no circuito que cada indivduo
percor r e para obter a integra lidade de que necessi t a . Como desdobr a m e n t o de
4
-
tal premissa , nos fica a tarefa de pensa r quais dispositivos podem ser pensados,
no hospital, que o conecte m, de forma mais adequad a rede de servios de
sade. Como pensar a integr alidad e , olhando desta estao que o hospital .
A forma mais tradicional de se pensa r o hospital no sistem a de sade como
referncia em deter mina d as situaes de maior complexidade ou gravidade. Por
tal concep o, o hospital contribui ri a para a integr alidade do cuidado, fazendo
uma adequad a contra- referncia aps realizar o atendimen to . Com cer teza, seria
j um grande ganho a implemen ta o efetiva desses circuitos base- topo e topo-base, que, na prtica, sabemos bem, nem sempr e so muito bem sucedidos
(porm, entende r melhor porque os sistemas de referncia- contra r efe r n ciapouco funcionam com a racionalidade pretendida continua sendo um bom tema
de investigao). Mesmo se funcionasse m bem, novas possibilidades de sepensa r a contribuio do hospital deveriam ser imaginad as . Sabemos, por
exemplo, que, por mais que se amplie e se aprimor e a rede bsica de servios,
as urgncia s/e me r g n c ia s hospitala re s seguem sendo impor t an t e s portas de
entrad a da populao no seu desejo de acessa r o SUS. Sem quere r aponta r asexplicaes para tal fato, o que quere mos rete r , aqui, que no temos sabido
trabalha r de forma mais cuidadosa esta demand a espontne a que tanto aflige os
trabalha do r e s e os geren t e s nos seus cotidianos . Atender , dia aps dia, esta
demand a interminvel, torna- se uma tarefa desgas t a n t e e de resul tados sempre
duvidosos , se o crit rio uma avaliao dos impactos sobre a sade da
populao. No entan to, as urgncias /e m e r g n ci as seguem funcionando de forma
tradicional, na base da queixa- conduta , resul tando em um Clnica reducionis ta e
ineficaz, que, em princpio, aponta para tudo, menos para a integr alidad e .
Porque as pessoas continua m buscando atendime n to nos servios de urgncia?
Uma forma de explicar este fenmeno to observado, reconhe c- lo como uma
estra t gi a intuitiva e selvagem das pessoas na busca da integra lida de! Um
aparen t e paradoxo, mas tamb m um sintoma que caberia aos servios
5
-
examina r e m sem nenhum preconcei to ou a priori e, mais do que isso, busca r
inventa r novos disposi tivos e novas formas de escuta para tais rudos. Um bom
ponto de par tida parece ser a organizao de equipes de acolhimento nos
servios de urgncia capaci tada s para o reconhecim en to e encaminha m e n to de
pacient es que necessi t a m de cuidados mais regular e s e aprop riados em outros
servios da rede. Neste caso, o hospital quem faria a referncia para outros
servios, colocando em questiona m e n t o a idia do senso comum de que a alta
complexidade est no topo, l onde fica o hospital . Para o hiper t enso ou o
portado r de qualque r doena crnica, seja adulto ou criana , o topo, emdeter minado momento da vida, acessa r a rede bsica, ser bem acolhido e
esta r vinculado a uma equipe. (CECILIO , 1997).
Se pensamos o hospital como uma estao pela qual circulam os mais variados
tipos de pessoas , portador a s das mais diferen t es necessidad es , em diferent e s
momentos de suas vidas singula re s , podemos imagina r ainda outras formas de
trabalha r a integr a lidade . Por exemplo, o momento de alta de cada pacient e deve
ser pensado como um momento privilegiado para se produzir a continuidade do
trata m e n t o em outros servios, no apenas de forma burocr t ica , cumprindo um
papel do contra- referncia, mas pela const ru o ativa da linha de cuidado
necess r i a quele pacient e especfico. O perodo da interna o pode, inclusive,
ser aprovei tado para apoiar o paciente na direo de conquist a r uma maior
autonomia e na recons t r u o de seu modo de andar a vida. Retorna r e m os a esses
pontos ao apresen t a r m o s , baseados em algumas experincias que temos
acompan h a do , modos de se fazer a gesto hospitala r a parti r do eixo do cuidado.
A inte gr a l id ad e da aten o com o balizad or da ges t o hospi t a l ar: as linhas
de produo do cuidado como estratgia gerencial.
6
-
Por todas as questes aponta da s acima, que temos procura do pensa r , nos
ltimos dois anos, modos de fazer a gesto que tomem como referncia a
produo do cuidado da forma mais integra l possvel e que nos servisse, ao
mesmo tempo, como referenci al para a interveno na gesto da micropol tica do
trabalho em sade, nestes estabelecime n tos , fazendo a modelage m da gesto
como um todo a par ti r do cuidado ao pacient e . Desde o incio da dcada de 1990,
como a que vivenciamos na Santa Casa do Par (CECILIO , 1994), j vnhamosexperimen t a do novas formas de governa r o hospital, a par ti r de dois
movimentos principais: reduo dos nveis decisrios (achat a m e n to dosorganogr a m a s ) e conduo colegiada das decises, tanto na alta direo, comonas equipes pres t ado r a s de servio. Descent r a l izao e democr a t izao das
decises: os dois eixos capazes de reinven ta r um hospital de tradio
cent ralizado r a e com fortes esque m a s insti tudos de dominao e controle. A
apost a de fundo deste tipo de opo era que seria possvel, a par ti r de uma
condu o mais par ticipa t iva do hospital, obter um maior grau de adeso dos
trabalha do r e s para o projeto de const ruo de hospitais pblicos de boaqualidade . Claro que outros arranjos e dispositivos foram sendo implemen t a dosna perspec t iva da qualificao da assistncia , porm, o que queremos destaca r
que, esses modos de fazer a gesto que fomos experime n t a n do, por suas
premissa s de democr a t iza o do modo de governa r ) , eram devedore s de umaconcepo poltica do mundo carac t e r izada , entre outras coisas, pela defesa
radical de uma sociedade mais igualit ria e par ticipa tiva , mais solidria e
inclusiva que, ent re outras coisas, conseguisse viabilizar um sistema pblico de
sade universal , qualificado e sob controle social. Trabalhva m os um projetopara os hospitais , especificame n t e , que, no fundo, para alm da racionalizao
gerenci al, era um desdobr a m e n to de um projeto para a sociedade brasileira .Gesto democr t ica , adeso dos trabalha do r e s , const ru o de hospitais pblicos
de boa qualidade , implant a o do SUS, transfo rma o da sociedade: a cadeia de
7
-
apost as (quase seqencial) que implicitam e n te os novos modelos de gestofaziam!
Com tudo que conseguimos experime n t a r e inovar, percebe mos , no corre r dos
anos, que o nosso desejo de democr a t iza r a vida do hospital , apesa r de nosparece r to justo e necess r io , encont r ava dificuldades na sua implemen t a o , es parcialment e ocorria. Algo como se o hospital funcionasse com lgicas
insti tudas que teimavam em escapa r dos novos arranjos mais coletivos queamos experimen t a n do. Algo como se os espaos de transpa r n c i a e explicitao
de compromissos pblicos (com a qualidade do cuidado) que amosexperimen t a n do no conseguisse m ser totalmen te continen t e s para o mundo real
do hospital , com suas carac t e r s ticas singula r es de funciona m e n to. Sem
desconhec e r que tais arranjos que propiciara m uma reflexo mais coletiva esolid ria segue m sendo import an t e s estr a t gi as de gesto (tanto quecontinua mos adotando, sempr e que possvel, modos colegiados de faz- la),comeamos a nos inter roga r que outras lgicas do hospital, que nos fugiam,
precisava m ser melhor compree n d id as e trabalha da s na e pela gesto. Foi a
par ti r deste tipo de indaga o que nos voltamos de uma maneira mais precisa
para o tema da produo do cuidado. No que ele no estivesse presen te nas
formulaes ante r io res , mas tra tava- se, agora , de radicaliz- lo como o eixo do
processo gerencial hospitala r . E, alm disso, tnhamos mais elementos
concei tuais para abordar a produo do cuidado com a discusso da
micropoltica do trabalho vivo em sade (MERHY , 2002) e temtica da suacoordena o nos hospitais (MERHY & CECILIO, 2002).
8
-
Pensar a gesto de um hospital , antes de mais nada, tenta r estabelece r da
forma mais clara possvel, quais os mecanis mos de coordena o adotados para
tocar , da melhor maneira possvel, o seu cotidiano. Convivem, nos hospitais ,
mltiplas formas de coordena o, apoiadas em lgicas bem diferen t es . H um
modo de coorden a r que se apoia, clara me n t e , na lgica das profisses . O pessoal
de enferm ag e m conversa entre si para estabelece r as escalas de trabalho, as
rotinas, as trocas de planto, como cobrir as faltas de colegas, etc. Seria uma
conversa entre enfermei ros para organiza r o mundo do trabalho da
enferm a ge m . A referncia para este grupo profissional a chefia ou diretor a de
enferm a ge m do hospital. Os mdicos conversa m entre si para cobrir escalas,
para solicita r parece r e s tcnicos de outros colegas , em particula r para buscar
apoio nas horas em que os problema s dos paciente s so mais desafiado re s e
exigem uma outra opinio. A mesma forma de coorden a o pode ser
identificada ent re os assisten t e s sociais, os psiclogos, os dentistas , os
fisioterap e u t a s e outros profissionais de nvel universi t rio que atuam
direta m e n t e na assistncia aos paciente s . H um outro modo de se fazer a
coordena o que segue a lgica de unidades de produo, ou seja, umacoordena o voltada para produtos ou servios, envolvendo, necessa r i a m e n t e ,
mltiplos tipos de trabalha do r e s ou uma equipe, como ocorre nas chamad a s
reas meio, qual seja, aquelas produtor a s dos insumos que sero usados nocuidado ao pacient e . Exemplos desta coorden a o por unidades de produo: a
coordena o do labora t r io, da nutrio e diet tica, da radiologia, do
almoxarifado, etc. O fornecimen to do servio ou produ to que carac te r iza m estas
unidades (sua misso) garan t ido pela coorden a o de distintos processos detrabalho de vrios tipos de profissionais, que bem diferent e da lgica de
coordena o por profisses. S que neste ltimos casos, quando vamos olhar
como se faz a coorden a o das unidades tipicamen t e assistenciais , no
possvel identifica r mos uma coorden a o ou gerncia nica. Quando observa mosa coordena o das unidades produtor a s de cuidado, no h, normalme n t e , esta
9
-
coordena o unificada (um chefe nico), na medida em que esta se faz, deforma mais visvel, pela lgica das profisses: chefia mdica do CTI e chefia de
enferm a ge m do CTI; chefia mdica da mate r nidad e e chefia de enferma ge m da
mate r nidad e , e assim por diante. Desta maneira , se possvel nomear e
reconhece r , de fato, um chefe (de toda a equipe) do labora t r io, um chefe (detoda a equipe) do almoxarifado, o mesmo no ocorre nas unidades assistenci ais:cada profisso zela para prese rva r seus espaos de poder e autonomia , segue
um lgica prpria de trabalho e de pr ticas profissionais e, portan to, de
coordena o dos seus cotidianos . Seria possvel dizer que o chefe (mdico) doCTI coordena , de fato toda a equipe? Que ele tem poder para interferi r na lgicade coordena o do trabalho da enferma ge m? Sabemos que no. Ento, como se
explica que, afinal, se consegue realizar o cuidado ao paciente de forma integra l,
com comeo, meio e fim, do momento da interna o at a hora da alta, (ou daentrad a no PS ou at a sada com uma recei ta . . .) carac te r iza ndo uma tercei ra (ecrucial) lgica de coordena o: aquela basead a no cuidado?
10
-
O delicado processo de coorden a o do cuidado se faz atravs de dois
mecanismos principais . O primeiro deles, a criao de pontes ou pontos de
conta to entre as lgicas da profisso: mdicos e enfermei ros e os outros
profissionais tm que conversa r para que o cuidado se realize. Uma coorden a o
em ato, o encont ro de duas prticas , de dois sabere s , em geral carac t e r izad a
por uma situao tipo comando- execuo, principalme n te na relao entre
mdico e enfermei ros/cor po de enferma ge m . A prtica da enferm ag e m (e dosoutros profissionais) , em boa medida , comand a d a , modelada , conduzida ,orientada pelo ato mdico (centr al) que detm o monoplio do diagns tico e daterapu t ica principal. Tal fato, estabelece uma relao de deter mina o da
pr tica mdica em relao s outras pr ticas profissionais , mesmo sem
desconside r a r que os profissionais no- mdicos, todos eles, conserva m sua
especificidade e um bom grau de autonomia prprios de suas profisses. Pode-
se afirma r que estes pontos de conta to, estes canais, nem sempre so livres,
bem definidos e vistos ou aceitos como regra s do jogo insti tucional e, por issomesmo, so fonte perman e n t e s de rudos, de tenses e de disputas . A ques to
que nos interes s a : seria possvel pensa r uma forma de coordena o mais
horizontal , mais desobst r uda , mais regula r , mais insti tucionalizada entre os
vrios profissionais , cent ra d a no cuidado?
A segunda estra t gia para o sucesso da coorden a o na lgica do cuidado o
papel quase silencioso da pr tica da enferm ag e m, no cotidiano, de garan ti r
todos os insumos necess r ios ao cuidado: a enferma ge m articula e encaminha
todos os procedimen tos necess r ios realizao de exames compleme n t a r e s ,
supervisiona as condies de hotela ria , dialoga com a famlia, conduz a
circulao do pacient e ent re as reas , responsvel por uma gama muito
grande de atividades que resulta m, afinal, no cuidado .
11
-
A propost a de se fazer a gesto a par ti r da integr a lidad e do cuidado tenta dar
conta destas complexas questes . Tem a pretens o de criar mecanismos que
facilitem a coordena o das pr ticas cotidianas do hospital de forma mais
articulada , leve, com canais de comunicao mais definidos, mais solidria,
mais democr t ica , menos ruidosa, em particular a coorden a o da prtica dos
vrios profissionais envolvidos no cuidado.
Como fazer isso? A primeira coisa foi compre en d e r m o s que a custosa
coordena o do hospital se faz seguindo vrias lgicas, de forma que a lgica de
funcionam e n to de cada unidade de produo/cuida do (que esper va mos podercompree n d e r ou captu r a r nos colegiados de cada unidade) apenas um delas.A lgica de coordena o das corpor ae s um insti tudo muito poderoso na vida
da organizao hospitala r e que, por sua natureza - lugar de const ruo de
identidades profissionais, de defesa de espaos de autogover no, de relaes de
dominao - escapa das dimenses mais coletivas da coordena o e segue
reproduzindo- se. A prpria lgica, em si, da produo do cuidado, e sua
micropoltica, transbo rd a o processo de coorde r n a o e as atribuies de uma
equipe assis tencial , na medida que s pode ser realizada de forma
transve rs a l izada , isto , percor r e ndo vrias unidades de cuidado do hospital .
Mais do que isso, podemos dizer que, na perspec t iva da integralidade , a
transve rs a l idade do cuidado realiza- se em uma rede mais ampla de servios, na
qual o hospital apenas uma estao, como afirmamos antes.
Tratava- se, pois, de parti r das experincias de gesto par ticipa tiva que vnhamos
experimen t a n do , desde o incio dos anos 90, para tenta r m os pensa r novos
arranjos e disposi tivos que fossem capazes de inter roga r , absorver , transform a r ,sem neg- los, alguns institudos que identificvamos que tinham muita fora no
imaginr io da organizao . Atuar sobre a lgica da coordena o das
corporaes , como percebe mos , um dos melhore s desafios para isso. Como
12
-
respei ta r a coordena o da enferma g e m como corpora o profissional, com seus
valores , suas repres e n t a es , sua lgica de funcionam e n to , que lhe garant e sua
identidade , mas integr an do- a, ao mesmo tempo, a uma lgica de coorden a o
mais horizontal e interdisciplina r do cuidado? Como respei t a r a autonomia
inerent e pr tica mdica, incorpor a ndo- a, no entanto, lgica do cuidado
pensad a de forma mais integra l? Como const rui r a gesto de forma que a
responsabilizao pelo cuidado se desse em uma linha de produo do cuidado,
contnua e que se transve rs a liza , atravessa n do, sem descontinuidad e , vrios
lugare s do hospital ou mesmo outros servios de sade? Como subsumi r toda a
lgica da produo dos insumos hospitala r es lgica da produo do cuidado?
Como recria r os espaos colegiados de forma a torn- los mais continen tes a
essas vrias lgicas? Estas foram algumas das ques tes cent rai s que
orienta r a m os novos desenhos organizacionais que vimos experimen t a do,
ultimam e n t e . Entende mos que as linhas de produo do cuidado so centra d as
em processos de trabalho marcados de modo muito claro pela micropolt ica do
trabalho vivo em ato, enquan to as linhas de produo de insumos, como regra ,
obedece m a outros arranjos de micropoltica , nos quais a dimenso do trabalhomorto muito mais presen t e (MERHY, 2002) e (MERHY & CECILIO, 2002).
Na seqncia , aprese n ta m os , o modelo bsico de remodelage ns que temos
trabalha do em trs hospitais: O Hospital Materno Infantil President e Vargas de
Porto Alegre/RS, o Hospital So Joo Batista em Volta Redonda/RJ e o Cent ro
Infantil Dr. Boldrini em Campinas /SP. So hospitais com histrias diferent e s de
interven o, mas que compar t i lha m, neste momento , desenhos de gesto
const rudos sobre o princpio da integr a lidade e da qualidade do cuidado, nas
direes que aponta mos at agora . A idia geral do modo de fazer a gesto que
consiga combinar , de forma mais abrange n t e , as vrias lgicas de coordena o
do hospital , tornando- as mais explcitas para o coletivo gestor como suas
13
-
matr ias primas de interveno gerencial , tem a seguinte repres e n t a o grfica,
em geral:
Fluxo gr a m a de mod e l o de ges t o centrad o na coord e n a o do
cuidad o
A: Linha de cuidad o a ( atravess a as unidades de cuidado 1, 2,3 e 4).B : Linha de cuidad o b ( atravessa as unidades de cuidado 1, 5,6 e 7).C: Linha de cuidad o c (atravessa as unidades de cuidado 1,8,9 e 10).D : Linha de ens in o e pes qu i s a (atr avess a / t r a n sve r s a liza todas as unidades decuidado). E: Linha de apoio admin i s t ra t ivo (suprime n to , finanas , RH, servios gerais,etc).F : Linha de apoio tcn ic o (labora t r io, Imagem, Banco de sangue, Nutrio,etc).
Esta a repres en t a o do esquem a geral que tem sido adotado nos trs hospitais
citados, com variaes em funo de suas especificidades . A primei ra
diferenciao diz respei to ao nmero e composio das linhas do cuidado. No
14
uc uc2 uc3 uc4
uc1
uc6 uc7uc5
uc1 uc8 uc9 uc10
A
B
C
D
E F
I
-
Centro Infant i l Boldrin i , um hospital (filant rpico) pedi t rico especializado denvel terci rio/qua t e r n r io , as linhas de cuidado so duas: cuidados com crianas
portado r a s de cncer e cuidados com as crianas portado r a s de patologias
hematolgicas . No Hospi t a l Mater n o Infant i l Presid e n t e Vargas de Porto
Alegre, as linhas de cuidado so quat ro: linha mate rnida d e segura , linha de
cuidado de crianas e adolescen te s , linha de cuidado da mulher e linha de
cuidado da sade mental da mulher . Em Volta Redonda , o Hospi t a l Munic ipa l
So Joo Batis t a est trabalhan do com duas linhas de cuidado: a linha depacient es adultos clnico- cirrgicos e uma linha de cuidado mate r no- infantil.
As linhas de cuidado so coordena d a s , sempre , por uma dupla formada por um
profissional mdico e por um profissional enfermeiro, pelo menos, pois h
situaes nas quais equipes multiprofissionais fazem parte desta composio,
como no caso do Boldrini. Busca- se, com este arranjo, incorpor a r a lgica dascorporaes mais impor tan t e s , porm subsumida , ou pelo menos inter roga d a de
modo claro pela lgica horizontalizada do cuidado. Cada unidade de produo
de cuidado, que pode ser atravess ad a por mais de uma linha de produo de
cuidado, tem um coorden a o unificada , isto , tem um coorden a do r respons vel
pela coorden a o de todo o trabalho da equipe. Este coorden ado r de unidade
pode ser um enfermeiro, um mdico ou qualque r outro profissional de nvel
universi t r io.
Os coordena do r e s de linha tm como atribuies principais:
1. facilita r e estimula r uma boa articulao funcional entre as vrias unidades de
cuidado atravessa d a s pela linha, buscando a maior integra lidade possvel da
sua produo. Um bom exemplo da impor tncia desta atribuio pensar o
quan to uma assistncia qualificada ao parto depende de uma boa articulao
15
-
entre os profissionais que fazer a recepo da paciente , a garan t ia de vaga na
mate r nidad e , o acesso sala de par to, os cuidados com a purpe r a e com o
neona to, a eventual necessidade de leito em unidade de terapia intensiva para
a me e para o filho, o uso do banco de leite. Uma linha contnua e articulada
de cuidados que vo sendo realizados em unidades de cuidado diferent e s .
2. Apoiar os coordena do r e s das unidades de cuidado no exerccio de suas
atribuies .
3. Fazer uma interlocu o direta com mdicos e enfermeiros, em todos os
aspec tos de sua vida funcional e profissional, tendo sempr e a perspec t iva do
cuidado. A lgica de coordena o das corporaes respei tada , mas inserida na
perspec t iva horizontal do cuidado.
Alguma modificaes impor tan t e s tm sido realizada s nos organog r a m a s
hospitalar e s em funo da adoo de coordena o por linhas de cuidados. Uma
delas a criao de uma dire toria colegiada do hospital compos t a pelos
coordena do r e s de linha de produo do cuidado, pelos coorden ado r e s das linhas
de produo de insumos e pela coordena o da linha de ensino e pesquisa. Com
tal composio, pretend e- se criar uma espao matricial de direo superior do
hospital cent rado na lgica da produo do cuidado, mas contem plan do sua
necess r i a articulao com as lgicas de coordena o das profisses e de
produo de insumos. Ao mesmo tempo, criam- se colegiados tcnicos em cada
linha de produo de cuidado, dos quais par ticipam os coorden a do r e s daquela
linha, os coordena do r e s ou geren t es das unidades assistenciais atravess ad a s pela
linha e convidados para a discusso de temas ligados ao cuidado. Por exemplo,
das reunies do colegiado tcnico da linha de cuidado da ateno mate rn idad e ,
par ticipam os coordena do r e s da linha (um profissional mdico e um profissionalenferm eiro), os geren te s do ambula t rio (onde se faz o pr- natal), o geren t e dobloco obstt rico, a geren t e do alojamento conjunto, o geren t e do CTI neona ta l eo geren te do CTI de adultos, mas podero ser convidados o gerent e do
16
-
labora t r io ou do banco de sangue ou da nutrio e diet t ica para discutir e
delibera r sobre todas as ques tes especficas afetas ao cuidado (rotinas, fluxos,protocolos de atendime n to, etc). Como os dois coorden a do r e s de linha presen t e s reunio fazem par te da direo superior do hospital (direto ria colegiada) , cria-se um arranjo institucional que facilita a conexo, digamos assim, de processosdecisrios (referen t e s micropoltica do hospital) autnomos, descent r a l izados eagilizados com a direcionalidade mais geral pre tendida pelo hospital.
Trabalha ndo com a concepo do hospital como uma estao de uma intricada
rede de cuidados, os coorden ado r e s das linhas de produo do cuidado tero,
como uma das suas atribuies , ajudar na criao e estabilizao de linhas querompe m os limites do hospital e se transve r sa l izam por outros servios visando a
integra lidade do cuidado. Basta pensar como uma linha de cuidados cirrgicos ,
por exemplo, lida com pessoas que vm de algum lugar e depois devero ir
para outro lugar, para imagina r a consti tuio da integra lidad e do cuidado.
Queremos dizer, com isto, que todo o processo de acesso agenda do blococirrgico, o pr- opera t rio, o ato cirrgico e o acompa nh a m e n t o ps- opera t rio
compem um continuun de equipes, profissionais e responsveis que esto dentro,
mas tamb m fora do espao fsico rest r i to do hospital . Os coordena do r e s de linha
de cuidado devero ter a preocupa o de busca r uma melhor articulao entre
estas vrias estaes cuidador a s. Isto vale para todas as linhas. A assis tncia
ao par to, por exemplo, s pode ser pensada na sua integra lidade quando o
hospital consegue se articular adequa d a m e n t e com a rede bsica de servios, na
qual a produo do cuidado se inicia (pr- natal), mas continua aps o par to(cuidados com a purpe r a e com o recm- nascido, anticoncep o, etc) e assimpor diante. A integr a lidad e do cuidado tarefa de rede. A gesto do hospital
cent rad a no cuidado dever aprende r a trabalha r , de forma radical, o hospital
como apenas uma das estaes da rede de cuidado. Nesta medida, reitera mos ,
que o papel do hospital no sistema de sade no pode se rest r ingi r a fazer
17
-
contra r efe r n ci a de pacientes encaminha dos . Dos coorden ado r e s das linhas de
produo de cuidado, esper a- se uma postu r a mais ativa na const ruo destes
fluxos institucionais , estabilizados e regula r es de pacientes ent re as estaes
produto ra s de cuidados. Para isso so necess r ios processos de negociao com
outros atores extra- hospitala r e s , em particula r com as secre t a r i as municipais de
sade ou outros gestores , com as coorden aes de distri tos (ou regies) de sade(onde existi rem) e com as unidades bsicas . Este fato agrega novas tarefas paraos coordena do r e s de linhas de produo do cuidado que, com toda a cer teza , no
so simples e desprovidas de dificuldades . Mas possveis, e necess r ia s , com
certeza . O desenho de fruns gestore s, mais unificados para a gesto integra l
das linhas de cuidado, precisam ser experimen t a dos .
BIBLIOGRAFIA
CARAPINHEIRO, G. Saberes e poderes no hospital: uma sociologia dos servios hospitalares.Porto/Por tug al : Editora Afrontam e n to , 1998, 3 edio.
CECILIO, L.C.O . Inventando mudana na sade. So Paulo: HUCITEC, 1994.
CECILIO, L.C.O. Modelos tecno- assistenciais: da pirmide ao crculo, umapossibilidade a ser explorada. Cadernos de Sade Pblica: Rio de Janeiro, 13(3):469- 478, jul- set, 1997.
CECILIO, L.C.O As necess idade s de sade como concei to estru tu r a n t e na lutapela integr alidade e eqidade na ateno sade" IN: Pinheiro, R. e Mattos , R.A(org) Os sentidos da integralidade na ateno e no cuidado sade. Rio de Janeiro: IMS-UERJ- ABRASCO, 2001.
MERHY.E.E. & CECILIO, L.C.O O singula r processo de coordena o doshospitais. Campinas , Mimeo (no prelo da revista Sade em Debate), 2002.
MERHY, E.E. Sade: a cartografia do trabalho vivo. So Paulo: HUCITEC, 2002.
SILVEIRA, L.T. Const ruindo indicado res e escut ando rudos : uma estra t gi a
combinada de avaliao de uma poltica de sade, por um autor/a to r implicado.
18
-
O Qualis/Zerbini/SP (uma modelage m do PSF). Campinas: DMPS/FCM/Unica mp .Tese de doutor ado, 2003.
19