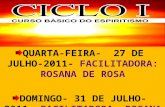cardoso-2011 (1)
-
Upload
luziaminotti -
Category
Documents
-
view
220 -
download
3
description
Transcript of cardoso-2011 (1)
-
Maria Joo Dias Cardoso
Licenciatura
Estudo dosimtrico para implementao da tcnica
radioteraputica Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)
Dissertao para obteno do Grau de Mestre em Engenharia Biomdica
Orientador: Nuno Teixeira, Professor Doutor, ESTeSL Co-orientador: Adelaide Jesus, Professora Doutora,
FCT/UNL
Jri:
Presidente: Prof. Doutor Orlando Teodoro
Arguente: Prof. Doutora Grisel Margarita Mora Paula Vogal(ais): Prof. Doutor Nuno Jos Coelho Gomes Teixeira
Prof. Doutora Maria Adelaide de Almeida Pedro de Jesus
Setembro 2011
-
I
Estudo Dosimtrico para implementao
da Tcnica Radioteraputica
Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)
Copyright by Maria Joo Dias Cardoso, FCT/UNL
A Faculdade de Cincias e Tecnologia e a Universidade Nova de Lisboa tem o direito,
perpetuo e sem limites geogrficos, de arquivar e publicar esta dissertao atravs de
exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro
meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar atravs de repositrios
cientficos e de admitir a sua copia e distribuio com objectivos educacionais ou de
investigao, no comerciais, desde que seja dado crdito ao autor e editor.
-
II
-
III
AGRADECIMENTOS
Gostaria de agradecer Fundao Champalimaud e MedicalConsult S,A a
oportunidade que me foi concedida, desenvolvendo este trabalho. Obrigada pelo
privilgio. Obrigada ainda pela integrao na rea da Radioterapia e pelos conhecimentos
adquiridos no contacto com novas tcnicas e equipamentos.
Um agradecimento especial ao meu orientador, Professor Doutor Nuno Teixeira,
pela possibilidade de realizar este projecto. Obrigada pela disponibilidade, apoio e
conhecimento dispendidos ao longo desta etapa. Agradeo tambm minha co-
orientadora, Professora Doutora Adelaide Jesus pela sua orientao, apoio e ajuda.
Ao Doutor Paulo Ferreira pelo incentivo e ajuda. Pelas perguntas sempre
pertinentes. Pelos conhecimentos transmitidos. Obrigada.
equipa do servio de Radioterapia da Fundao Champalimaud gostaria de
agradecer a ajuda, motivao, apoio e conhecimentos transmitidos. Em especial Ana,
Dalila e ao Milton. Obrigada.
Aos meus pais. Obrigada por tudo.
Ao Pedro e Cristina pelo apoio, incentivo e pacincia. E Catarina. Obrigada.
minha sobrinha pelos momentos de brincadeira nas etapas mais desanimadoras.
Aos amigos com quem tive o privilgio de partilhar estes ltimos anos. Obrigada.
Um enorme Obrigado a todos!
-
IV
-
V
RESUMO
Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) uma tcnica de radioterapia externa
em arco que conjuga simultaneamente a modulao da intensidade do feixe conseguida
com colimador multilminas (MLC) dinmico, com a variao da taxa de dose e da
velocidade de rotao da gantry. Neste trabalho realizou-se um estudo para implementar
esta tcnica em modo clnico.
Analisou-se a estabilidade do output do AL e constatou-se que posicionando a
gantry a 180 se obtinha a maior variao do outupt em relao ao output medido com a
gantry a 0. Variando as unidades de monitor (MU), o output teve uma variao mdia
inferior a 0,14% em relao ao output medido com 100MU. A variao da taxa de dose no
alterou o output mais que 0,11%, em relao ao output medido com 300MU/min. Obteve-
se 1,58% para a transmisso das lminas do MLC. Irradiaram-se semi-arcos (350-10)
variando a taxa de dose e a simetria e homogeneidade dos perfis de dose obtidos,
determinadas com base no protocolo Elekta, eram inferiores a 102% a 105%.
Os testes especficos para VMAT evidenciaram que dinamicamente as lminas,
gantry e diafragmas esto dentro das especificaes para VMAT. A anlise dos erros que
ocorreram nos testes e das respectivas tolerncias indicou que o seu desempenho
dinmico est dentro das especificaes para VMAT. A velocidade das lminas superior a
2cm/s.
Utilizando o ArcCHECK foi possvel verificar que o AL consegue reproduzir
planimetrias de VMAT tendo-se obtido resultados de anlise gama (3%,3mm) superiores a
90%, evidenciando a correspondncia entre o planeado no sistema de planimetria e o que
o AL reproduz efectivamente. O ArcCHECK mostrou-se mais funcional e prtico que o
Delta4. A MatrixX com o MultiCube, embora tenha por base uma comparao 2D, veio
complementar a anlise efectuada com o ArcCHECK, garantindo que o AL consegue
reproduzir planimetrias de VMAT.
Palavras Chave: Volumetric modulated arc therapy (VMAT), radioterapia, dosimetria,
ArcCHECK, Delta4, MatrixX
-
VI
-
VII
ABSTRACT
Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) is an external radiotherapy technique in
arc that combines the modulation of beam intensity achieved with dynamic multileaf
collimator (MLC), with the variation of dose rate and gantry rotation speed.In this work it
was developed a study to implement this technique in clinical mode.
It was analyzed the stability of the LINAC output and was found that with the
gantry at 180 it's possible to obtain the largest outupt variation in relation to output
measured with the gantry at 0 . Changing the monitor units, the output had an average
variation less than 0.14%, compared to the output measured with 100MU. The variation of
the dose rate did not change the output more than 0.11%, compared to the output
measured with 300MU/min. To the MLC it was obtained a transmission of the leaves of
1.58%. Varying the dose rate during delivery of semi-arcs (350-10) the symmetry and
flatness of profiles were less than 102% and 105%, calculation based on Elekta protocol.
The VMAT specific tests showed that dynamically diaphragms, gantry and leaves
are within the specifications for VMAT. The error analysis of the diaphragm, gantry and
leaves dynamic performances and their tolerances, indicated that it is within specifications
for VMAT. The speed of the leaves is greater than 2 cm/s. Using ArcCHECK it was
verified that the LINAC can delivery VMAT plans. The gamma analysis (3%, 3 mm) had
results above 90%, showing the correspondence between the planned in TPS and what
effectively was delivery by LINAC. The ArcCHECK shown to be more functional and
practical than Delta4, in terms of daily needs required by this type of equipment. The
MatrixX with MultiCube, although based on a 2D comparison, complements the analysis
with ArcCHECK , ensuring that the AL can delivery VMAT plans.
Keywords: Volumetric modulated arc therapy (VMAT), radiotherapy, dosimetry,
ArcCHECK, Delta4, MatrixX
-
VIII
-
IX
NDICE
Agradecimentos ................................................................................................................................................... III
Resumo...................................................................................................................................................................... V
Abstract .................................................................................................................................................................. VII
ndice ....................................................................................................................................................................... IX
ndice de tabelas ................................................................................................................................................ XIII
ndice de Figuras ................................................................................................................................................ XV
Lista de Siglas e Abreviaturas ...................................................................................................................... XIX
Introduo ............................................................................................................................................................... 1
1. Captulo I ........................................................................................................................................................ 5
1. Evoluo tecnolgica: da descoberta dos raios-X aos aceleradores lineares .................... 5
1.1. Radioterapia convencional, IMRT, Arco dinmico, VMAT ..................................................... 6
1.2. Objectivo da radioterapia ................................................................................................................... 7
1.2.1. Planeamento em Radioterapia ..................................................................................................... 8
1.2.2. Volumes em radioterapia ............................................................................................................... 9
1.2.2.1. GTV, PTV, CTV, TV, IV e OR ....................................................................................................... 9
1.2.3. Sistemas de Planimetria Computorizados (TPS)................................................................ 10
1.2.3.1. Avaliao da planimetria ......................................................................................................... 11
1.2.3.2. Curvas de Isodose, Estatsticas de dose e HDV ............................................................... 12
2. Captulo II .................................................................................................................................................... 13
2. Aceleradores Lineares ............................................................................................................................ 13
2.1. Principais Componentes de um acelerador linear.................................................................. 13
2.2. Produo Feixe de electres ............................................................................................................ 14
2.3. Sistema de transporte do feixe ....................................................................................................... 15
2.4. Principais sistemas de colimao .................................................................................................. 15
2.4.1. Colimao geral ................................................................................................................................ 16
2.4.2. Colimao precisa MLC .............................................................................................................. 18
-
X
2.5. Parmetros de caracterizao dos feixes de radiao .......................................................... 19
2.5.1. Parmetros geomtricos SSD, SAD e Dimenso de Campo ......................................... 20
2.5.2. Distribuies da dose absorvida ............................................................................................... 20
2.5.2.1. PDD ................................................................................................................................................... 22
2.5.2.2. Perfil ................................................................................................................................................. 23
2.5.2.3. Homogeneidade e Simetria..................................................................................................... 24
3. Captulo III ................................................................................................................................................... 25
3. Sistemas Dosimtricos ........................................................................................................................... 25
3.1. Ionometria ............................................................................................................................................... 26
3.1.1. Condio Equilbrio Mdio de Partculas Carregadas ...................................................... 27
3.1.2. Cmaras de Ionizao .................................................................................................................... 27
3.1.2.1. Cmara de Ionizao Cilndrica ............................................................................................ 28
3.1.2.2. Cmara de Ionizao de Placas Paralelas ......................................................................... 28
3.2. Dosimetria Fotogrfica ...................................................................................................................... 29
3.3. Dodos ....................................................................................................................................................... 30
4. Captulo IV ................................................................................................................................................... 33
4. Materiais e Mtodos ................................................................................................................................ 33
4.1. Acelerador ............................................................................................................................................... 33
4.2. Equipamento Dosimtrico ................................................................................................................ 35
4.2.1. Cmaras de Ionizao e Electrmetro .................................................................................... 36
4.2.2. MatrixX................................................................................................................................................. 37
4.2.2. ArcCHECK ......................................................................................................................................... 37
4.2.3. Delta 4 .............................................................................................................................................. 38
4.3. Fantomas ................................................................................................................................................. 39
4.3.1. Fantoma de Placas gua slida .................................................................................................. 39
4.3.2. MultiCube........................................................................................................................................ 39
4.3.3. Cirs ......................................................................................................................................................... 40
4.4. Metodologia - Sequncia para a implementao da tcnica VMAT ................................. 40
4.5. Aquisio de dados do feixe, introduo dados do AL no TPS e validao ................... 42
-
XI
4.6. Testes de aceitao e validao prvios...................................................................................... 43
4.6.1. Homogeneidade e Simetria do Campo .................................................................................... 44
4.6.2. Estabilidade do Output do MLC ................................................................................................. 45
4.6.2.1. Estabilidade em funo da rotao da Gantry ................................................................ 46
4.6.2.2. Estabilidade em funo das Unidades Monitor .............................................................. 46
4.6.2.3. Estabilidade em funo da Taxa de Dose .......................................................................... 47
4.6.3. Determinao do factor de transmisso T do MLC ............................................................ 47
4.7. Testes especficos para o VMAT ..................................................................................................... 48
4.7.1. Verificao do desempenho dinmico do diafragma (jaw) ............................................ 48
4.7.2. Verificao do desempenho dinmico da Gantry ............................................................... 49
4.7.3. Verificao dinmica das lminas do MLC ............................................................................ 50
4.7.4. Medio velocidade das lminas ............................................................................................... 51
4.7.4.1. Banco lminas Y1 ........................................................................................................................ 51
4.7.4.2. Banco lminas Y2 ........................................................................................................................ 52
4.8. ArcCheck e Delta4 ........................................................................................................................ 52
4.8.1. Testes de avaliao dos equipamentos .................................................................................. 53
4.8.2. Calibrao e Background do ArcCheck ................................................................................... 54
4.8.2.1. Calibrao Relativa..................................................................................................................... 54
4.8.2.2. Calibrao Absoluta ................................................................................................................... 56
4.8.3. Calibrao do Delta4 ...................................................................................................................... 57
4.8.4. Planos de IMRT e VMAT nas patologias Prostata e Cabea e Pescoo para
avaliao no ArcCHECK e Delta4 .................................................................................................................. 59
4.8.5. Irradiao efectiva do Delta4 e do ArcCHECK com os planos calculados no AL ... 61
4.8.5.1. Anlise Gama ................................................................................................................................ 62
4.9. ArcCheck e MatrixX & Multicube ........................................................................................... 62
5. Captulo V .................................................................................................................................................... 65
5. Resultados e Discusso .......................................................................................................................... 65
5.7. Testes prvios necessrios ............................................................................................................... 65
5.7.1. Homogeneidade e Simetria do Campo .................................................................................... 65
-
XII
5.7.2. Estabilidade em funo da rotao da Gantry ..................................................................... 69
5.7.3. Estabilidade em funo das Unidades Monitor ................................................................... 70
5.7.4. Estabilidade em funo da Taxa de Dose ............................................................................... 72
5.7.5. Determinao do factor de transmisso T ............................................................................ 73
5.8. Testes especficos para VMAT ......................................................................................................... 74
5.8.1. Verificao do desempenho dinmico do diafragma ........................................................ 74
5.8.2. Verificao do desempenho dinmico da Gantry ............................................................... 75
5.8.3. Verificao dinmica das lminas do MLC ............................................................................ 75
5.8.4. Medio velocidade das lminas: Banco lminas Y1 e Y2 .............................................. 75
5.9. Calibrao do ArcCHECK e Delta 4 ................................................................................................ 76
5.10. Irradiao efectiva do ArcCHECK e Delta 4 no AL com as planimetrias calculadas
76
5.11. Irradiao efectiva do ArcCHECK e da MatrixX com MultiCube no AL com as
planimetrias calculadas .................................................................................................................................... 83
6. Captulo VI ................................................................................................................................................... 87
6. Concluses ................................................................................................................................................... 87
6.7. Perspectivas Futuras........................................................................................................................... 90
Bibliografia ............................................................................................................................................................ 93
Anexo ....................................................................................................................................................................... 97
-
XIII
NDICE DE TABELAS
Tabela 4.1: Equipamentos (modelos e n srie) para leitura do output do AL. ...................... 36
Tabela 4.2: Principais caractersticas das CI CC13 e FC65................................................................. 36
Tabela 4.3: Definies de Homogeneidade, Simetria e Penumbra pela Elekta. (Platform,
2010) ........................................................................................................................................................................ 44
Tabela 4.4: Clculo das UM para o teste da verificao do desempenho dinmico do
diafragma. (Elekta, 2010) ................................................................................................................................ 48
Tabela 4.5: Principais etapas da calibrao do ArcCHECK. ............................................................ 55
Tabela 4.6: Principais etapas da calibrao do Delta4. ................................................................... 58
Tabela 4.7: Condies das planimetrias elaboradas para testar sua a reprodutibilidade no
AL. .............................................................................................................................................................................. 60
Tabela 4.8: Planimetrias elaboradas na TAC do CIRS para avaliar no ArcCHECK. .............. 60
Tabela 4.9: Planimetrias elaboradas na para avaliar no ArcCHECK e na MatrixX Evolution
com MultiCube. ................................................................................................................................................ 63
Tabela 5.1: Simetria e Homogeneidade obtidas com a gantry a 0 e durante a irradiao de
pequenos arcos, variando a taxa de dose. ................................................................................................. 65
Tabela 5.2: Estabilidade do output em funo da rotao da gantry, para a energia de
10MV com um campo de 5cm x5cm. ........................................................................................................... 69
Tabela 5.3: Variao do outup com a rotao da gantry para as energias de 6, 10 e 15 MV e
para as dimenses de campo 5cmx5cm e 10cmx10cm. ..................................................................... 70
Tabela 5.4: Variao do output em funo da variao das UM, para a energia de 10MV
com um campo de 20cm x 20cm. ................................................................................................................. 71
Tabela 5.5: Variao mdia do output em funo das UM. ................................................................ 72
Tabela 5.6: Variao do output em funo da taxa de dose, para as energias de 6, 10 e 15
MV e para as dimenses de campo 5cmx5cm e 10cmx10cm. .......................................................... 73
Tabela 5.7: Determinao da Transmisso do MLC com o Output medido nas condies A e
B. ................................................................................................................................................................................ 74
Tabela 5.8: Erros mximos obtidos na verificao do desempenho dinmico dos
diafragmas. ............................................................................................................................................................ 74
Tabela 5.9: Velocidades das lminas obtidas no teste de medio da velocidade das
lminas dos bancos Y1 e Y2. ........................................................................................................................... 75
Tabela 5.10: Anlise Gama: taxa de correspondncia entre o medido no ArcCHECK e o
calculado no TPS, para vrios planeamentos, durante a fase inicial. ............................................ 78
-
XIV
Tabela 5.11: Anlise Gama: taxa de correspondncia entre o medido no ArcCHECK e o
calculado no TPS, para vrias planimetrias. ............................................................................................ 81
Tabela 5.12: Anlise Gama: taxa de correspondncia entre o medido no ArcCHECK ena
MatrixX com MultiCube e o calculado no TPS, para vrias planimetrias. .................................... 83
6.1: Frequncia e definio testes QA para VMAT ................................................................................ 91
-
XV
NDICE DE FIGURAS
Figura 1.1: Definio de volumes em Radioterapia (ICRU, 1993) .................................................... 9
Figura 1.2: Esquema comparativo dos mtodos de planeamento. ................................................. 11
Figura 2.1: Diagrama de blocos representativo de um Acelerador Linear Adaptado:
(Podgorsak, 2005); (Greene & Williams, 1997) e (Clark) ................................................................. 14
Figura 2.2: Principais componentes da cabea de tratamentos num LINAC.
Adaptado:(Khan, 2003) .................................................................................................................................... 16
Figura 2.3: Representao da modificao dos contornos das curvas de isodoses obtidas na
irradiao de um fantoma de gua com feixe de fotes. (Smith, 2000) ....................................... 17
Figura 2.4: Efeito filtro difusor (scattering foil) na distribuio dos electres. (Adaptado:
(Greene & Williams, 1997) ............................................................................................................................. 17
Figura 2.5: Efeito de um filtro (cunha) nas isodoses obtidas na irradiao com feixe de
fotes. ....................................................................................................................................................................... 18
Figura 2.6: Principais parmetros geomtricos definidos num feixe que irradia um tumor.
(Adaptado: (Jayaraman & Lanzl, 2004) ..................................................................................................... 20
Figura 2.7: Curva PDD - Deposio de dose de um feixe de fotes num paciente. Adaptado:
(Podgorsak, 2005) .............................................................................................................................................. 21
Figura 2.8: Geometria para definio de PDD (Podgorsak, 2005) ................................................. 22
Figura 2.9: Perfil de Campo, formao da Penumbra (P) e dimenso de campo. Adaptado:
(Smith, 2000) ........................................................................................................................................................ 23
Figura 3.1: Relao entre a tenso aplicada e a carga produzida num detector gasoso.
Diferentes regies de operao. Adaptado: (Podgorsak, 2005) ...................................................... 26
Figura 4.1: Acelerador Linear Elekta Synergy instalado no servio de radioterapia da
Fundao Champalimaud (Lisboa). ............................................................................................................. 33
Figura 4.2: Principais componentes do AL Elekta Synergy. ............................................................... 34
Figura 4.3:Cmara Ionizao modelo FC65 da marca IBA dosimetry....................................... 36
Figura 4.4: Cmara Ionizao modelo CC13 da marca IBA dosimetry. .................................... 36
Figura 4.5: Electrmetro modelo Dose-1 da marca IBA dosimetry. .......................................... 37
Figura 4.6: MatrixX Evolution da Iba Dosimetry. (IBA Dosimetry, 2009) ........................... 37
Figura 4.7:Matriz helicoidal de dodos do ArcCHECK. (SunNuclear, 2010) ............................... 38
Figura 4.8: ArcCHECK, SunNuclear utilizado neste trabalho. ........................................................... 38
-
XVI
Figura 4.9: MultiCube e Conjunto MatrixX no Multicube, da Iba Dosimetry. (IBA
Dosimetry, 2009) ................................................................................................................................................ 40
Figura 4.10: Diagrama representativo da sequncia para implementao de VMAT. ........... 41
Figura 4.11: Setup com fantoma de placas para verificar a estabilidade do Output............... 46
Figura 4.12: Campo em forma de T para determinar a transmisso das lminas do MLC. .. 48
Figura 4.13: Exemplo dos erros ocorridos no desempenho dinmico dos diafragmas e
respectiva tolerncia. (Elekta, 2010) .......................................................................................................... 49
Figura 4.14: Exemplo dos erros ocorridos no desempenho dinmico da gantry e respectiva
tolerncia. (Elekta, 2010) ................................................................................................................................ 50
Figura 4.15: Exemplo dos erros ocorridos no desempenho dinmico das lminas e
respectiva tolerncia. (Elekta, 2010) .......................................................................................................... 51
Figura 4.16: Exemplo da variao da posio das lminas em funo do tempo utilizado
para determinar a velocidade das lminas. (Elekta, 2010) ............................................................... 52
Figura 4.17: Principais fases do commissioning de um novo sistema de dosimetria 3D. ...... 53
Figura 4.18: Setup para calibrao do ArcCHECK. (adaptado (SunNuclear, 2011) .............. 57
Figura 4.19: ArcCHECK no AL Elekta Synergy. ....................................................................................... 61
Figura 4.20: MatrixX no MultiCube no AL Elekta Synergy. ................................................................ 62
Figura 4.21: Sensor de Angulao da MatrixX Evolution. .............................................................. 63
Figura 5.1: Variao da dose com a angulao da Gantry para a energia de 10MV com um
campo de 5cm x5cm. ......................................................................................................................................... 69
Figura 5.2: Variao do outup com a rotao da gantry para as energias de 6, 10 e 15 MV e
para as dimenses de campo 5cmx5cm e 10cmx10cm. ..................................................................... 70
Figura 5.3:Variao do output em funo da variao das UM, para a energia de 10MV com
um campo de 20cm x 20cm. ........................................................................................................................... 71
Figura 5.4: Variao do output em funo da variao das UM, para as energias de 6, 10 e
15 MV e para as dimenses de campo 5cmx5cm e 10cmx10cm. .................................................... 72
Figura 5.5: Variao do output em funo da taxa de dose, para as energias de 6, 10 e 15
MV e para as dimenses de campo 5cmx5cm e 10cmx10cm. .......................................................... 73
Figura 5.6: Resultado apresentado no software do ArcCHECK na comparao entre o
medido com o ArcCHECK e a dose da planimetria VMAT H&N - 28-07-2011 TPS (248,6
cGy). Anlise Gamma (3%,3mm): AD=96,9%. ........................................................................................ 80
Figura 5.7: Resultado apresentado no software do ArcCHECK na comparao entre o
medido com o ArcCHECK e a dose da planimetria VMAT Prostate - 29-07-2011 TPS (248,6
cGy). Anlise Gama (3%,3mm): AD=95,3%. ............................................................................................ 82
Figura 5.8: Anlise no software Omnipro I'mRT - comparao entre o medido com a
MatrixX com MultiCube e a planimetria do TPS para o caso Mister Prostate. ....................... 84
-
XVII
Figura 5.9: Anlise no software SNCPatient - comparao entre o medido com ArcCHECK
e a planimetria do TPS para o caso Mister Prostate. Anlise Gama (3%,3mm): AD=96.6%.
.................................................................................................................................................................................... 84
-
XVIII
-
XIX
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
AL Acelerador Linear
CPE Charged Particle Equilibrium
CTV Clinical Target Volume
CQ Controlo da Qualidade
GTV Gross Tumor Volume
Gy Gray
HDV Histograma Dose Volume
IMAT Intensity Modulated Arc Therapy
IMRT Intensity Modulated Radiation Therapy
ITP Inverse Treatment Planning
IV Irradiated Volume
MLC Multileaf collimator
NTCP Normal Tissue Complication Probability
MU Monitor Unit
MV Megavoltage
PDD Percentage depth dose
OAR Organ at Risk
OD Optical Density
PET Positron emission tomography
PTV Planning Target Volume
QA Quality Assurance
RA RapidArc
SAD Source-Axis Distance
SSD Source-Surface Distance
T Factor de Transmisso
TAC Tomografia Axial Computadorizada
TCP Tumour Control Probability
TPS Treatment Planning System
TV Treated Volume
VMAT Volumetric Modulated Arc Therapy
-
XX
-
1
INTRODUO
O cancro representa a segunda causa de morte em Portugal, como tambm na
Unio Europeia, precedido apenas pelas doenas do aparelho circulatrio. Actualmente
existem diversas tcnicas e metodologias de tratamento para as patologias do foro
oncolgico, sendo a Radioterapia Externa (RE) uma das mais requisitadas. uma tcnica
que utiliza radiaes ionizantes de forma controlada e precisa, produzidas usualmente
num acelerador linear (AL) para administrar uma rigorosa dose no volume tumoral.
A inovao tecnolgica presenciada no decorrer das ltimas dcadas trouxe mais
rigor e preciso aos tratamentos efectuados em RE, uma vez que aliou o poder
computacional a equipamentos mais avanados, permitindo assim o desenvolvimento de
novas tcnicas. O avano dos sistemas de planimetria (Treatment Planning System -TPS) e
dos colimadores multi-lminas (Multileaf collimator - MLC) permitiu desenvolver a
radioterapia de intensidade modulada (Intensity Modulated Radiation Therapy -IMRT),
possibilitando assim, modelar a intensidade da fluncia do feixe de radiao. Sempre com
o intuito de aplicar rigorosamente a dose no volume alvo, poupando os tecidos saudveis
adjacentes, surgem as tcnicas que adicionam a rotao da gantry modulao da
intensidade. Actualmente surgem tcnicas de RE rotacionais que permitem a modulao
da intensidade atravs de uma nica rotao da gantry, e durante a qual o MLC se adapta,
em cada instante, forma do volume tumoral, efectuar tratamentos, que aliam rapidez ao
rigor.
A instalao de uma nova tcnica de radioterapia num (novo) AL envolve vrias
etapas at que seja possvel o seu uso clnico. Engloba um conjunto de testes de aceitao e
commissioning que garantem o estado operacional seguro do equipamento e que este se
encontra apto para uso clnico.
O objectivo deste trabalho efectuar um estudo extensivo para a implementao
da tcnica VMAT em modo clnico, no servio de radioterapia da Fundao Champalimaud
-Lisboa. VMAT uma tcnica de radioterapia externa em arco que conjuga a modulao da
intensidade do feixe conseguida com MLCs dinmicos (IMRT), com a variao da
velocidade da gantry e taxa de dose durante a rotao da gantry. Para atingir este
objectivo, pretende-se efectuar um conjunto de testes mecnicos e dosimtricos que visam
garantir que os componentes do acelerador linear e as caractersticas do feixe de radiao
-
2
esto dentro das especificaes necessrias para a aplicao da tcnica VMAT, bem como
avaliar se o AL efectivamente reproduz o planeado no TPS.
Aps ter conhecimento das tcnicas de RE, das caractersticas dos AL, da
especificidade da tcnica VMAT e dos vrios equipamentos dosimtricos, foi necessrio
estabelecer e definir os testes a realizar, estruturando-os em trs etapas distintas,
contribuindo assim para a sistematizao dos testes para a implementao da tcnica
VMAT. A etapa inicial englobou um conjunto de testes usuais na implementao de
tcnicas de radioterapia convencionais, que avaliaram a estabilidade do output, a simetria
e homogeneidade dos perfis de dose obtidos durante pequenas rotaes da gantry, a
transmisso das lminas do MLC e a preciso do posicionamento das lminas do MLC.
Concluda esta etapa, avanou-se para a realizao de um conjunto de testes especficos
para o VMAT que avaliam parmetros mecnicos e dosimtricos, que asseguram e
verificam o correcto funcionamento do acelerador e dos seus componentes
especificamente para o VMAT. Os testes garantem a preciso do posicionamento das
lminas do MLC e do desempenho dinmico da gantry e diafragmas. A ltima, mas no
menos importante, etapa deste trabalho consistiu em avaliar um conjunto de planimetrias
de VMAT, verificando se o AL consegue reproduzir as condies calculadas pelo TPS e se o
tratamento preciso em termos de dose absoluta administrada durante o tratamento.
Para tal, recorreu-se a dois equipamentos, recentemente apresentados no mercado, para
dosimetria 3D (ArcCHECK, SunNuclear e Delta4, ScandiDos) ideais e especficos para
avaliar as planimetrias de tcnicas de RE rotacionais e um equipamento 2D da IBA
Dosimetry (MatrixX Evolution com MultiCube). Utilizou-se o fantoma CIRS para simular
o paciente e foram seguidos os passos convencionais de uma planimetria, desde a
aquisio de Tomografia Axial Computorizada (TAC), prescrio do tratamento,
delimitao dos volumes de interesse e elaborao e aprovao da planimetria. Concludos
e aprovadas as vrias planimetrias, o ArcCHECK, a MatrixX com MultiCube e o Delta4
foram irradiados segundo essas mesmas planimetrias. Analisaram-se os resultados
obtidos em termos de dose absoluta e relativa, comparando o planeado no TPS com o
medido nos equipamentos para as vrias planimetrias. Este QA (quality assurance) da
planimetria permite analisar se possvel implementar a tcnica VMAT em modo clnico e
particularmente se a planimetria em questo reprodutvel no AL. Procurou-se ainda
comparar os dois equipamentos dosimtricos, ArcCHECK e Delta4, analisando qual se
evidencia mais especfico, reprodutvel e prtico para utilizao diria.
A presente dissertao est dividida em trs partes. Na primeira parte,
Fundamentos Tericos, efectua-se uma abordagem s componentes tericas do trabalho,
apresentando os principais objectivos da radioterapia, as componentes de um AL, com
-
3
especial incidncia no MLC, os parmetros dos feixes de radiao, as principais tcnicas
dosimtricas referenciando ainda o controlo da qualidade num AL. A segunda parte,
Trabalho Experimental, inicialmente dedicada apresentao dos materiais e
equipamentos utilizados, seguidamente so apresentados, discutidos e analisados os
resultados dos testes mecnicos e dosimtricos realizados e finaliza com a comparao
dos equipamentos ArcCHECK e Delta4 e avaliao de vrias planimetrias no
ArcCHECK e na MatrixX com MultiCube . Na ltima parte desta dissertao, Concluses
e Perspectivas Futuras, so apresentadas as principais concluses deste trabalho e
sugeridas algumas abordagens futuras de trabalho relacionadas com a tcnica VMAT.
A contribuio particular para este trabalho pretende, aps interiorizao das
tcnicas de RE, dos equipamentos dosimtricos e da importncia de assegurar a qualidade
e preciso, quer dos equipamentos dosimtricos, quer dos componentes do AL, seleccionar
e sistematizar um conjunto de testes que visam assegurar a implementao da tcnica
VMAT e garantir que possvel avanar para a sua prtica clnica. A aprendizagem
resultante da utilizao dos novos equipamentos dosimtricos, em especial do
ArcCHECK e Delta4, visa contribuir para uma sedimentao das etapas subjacentes ao
QA necessrio na tcnica VMAT, permitindo assim que, neste trabalho, seja iniciada uma
comparao entre os dois equipamentos deixando ainda definidas linhas gerais para
continuar a comparao entre eles.
-
4
A. FUNDAMENTOS TERICOS
-
5
1. CAPTULO I
1. Evoluo tecnolgica: da descoberta dos raios-X aos aceleradores lineares
Os primeiros avanos na rea da radioterapia so dados no final do sculo XIX, com
as descobertas dos raios-X por Wilhelm Roentgen em 1985, da radioactividade por
Beqquerel em 1896 e do Rdio pelo casal Curie em 1898. Os primeiros tratamentos surgem
logo aps estas descobertas. Associados s primeiras tentativas de tratamento de tumores
com a utilizao de raios-X, em 1986, surgem os nomes de Emil Grubb (Chicago), Victor
Despeignes (Frana), Lopold Freund (ustria). A utilizao de fontes radioactivas para
tratamentos teraputicos foi iniciada, em 1900, com o uso do Rdio para braquiterapia
superficial pelo Dr. Danlos (Hospital Saint-Louis - Paris).
A radioterapia comeou a ser aplicada mais amplamente medida que apareciam
aparelhos com tenses de acelerao superiores, produzindo assim raios-X com energias
mais elevadas. Em 1920 surgiu na Alemanha um aparelho que produzia raios-X com
energias at 200kV e, em 1928, a Califrnia dispunha de um aparelho com tenso de
550KV. Nos Estados Unidos, o Laboratrio Kellogg, em 1935, construiu um aparelho de
radioterapia de 1MV, apesar da necessidade da presena de engenheiros para a sua
utilizao. Com a corrida energia nuclear, na poca da 2 Guerra Mundial, surgem
istopos radioactivos produzidos artificialmente, como o Cobalto 60 e, em 1950, aparece a
primeira unidade de cobalto para utilizao clnica, em radioterapia. Popularizam-se
unidades de telecobaltoterapia, capazes de gerar energias na ordem de 1MeV (raios gama
com 1.17MeV e 1.33MeV) e tratar leses a uma maior profundidade.
A procura de energias mais elevadas, que permitissem melhorar os tratamentos,
leva pesquisa de outras formas de acelerao de partculas, deixando de parte as
mquinas convencionais de Raios-X que aceleravam as partculas atravs da diferena de
potencial, potenciando energias de apenas 2 ou 3 MV. A acelerao de partculas atravs
de um guia de ondas, inicialmente proposta em 1924, s aps a 2 Guerra Mundial foi
aplicada concretamente em aceleradores de partculas. Foram apresentados dois
aceleradores lineares, por dois grupos distintos, na dcada de 50, um instalado em
Londres, no Hammersmith Hospital, com 8MeV de energia, e o outro surge nos Estados
Unidos resultante de uma cooperao entre o MIT e a Universidade de Stanford. (Instituto
de Radioterapia So Francisco) (Lopes, 2007)
-
6
O avano tecnolgico das ltimas dcadas trouxe inovaes e optimizaes na
concepo dos equipamentos, desde a tcnica de acelerao de electres, passando pela
modulao e colimao do feixe at aos sistemas de planimetria e algoritmos de clculo.
Todos estes avanos resultam da exigncia de optimizao das tcnicas de radioterapia e
visam sempre melhorar os resultados clnicos.
1.1. Radioterapia convencional, IMRT, Arco dinmico, VMAT
A radioterapia uma tcnica que utiliza, de forma controlada e precisa, radiaes
ionizantes com fins teraputicos. Visa essencialmente o tratamento oncolgico, atravs da
administrao rigorosa de uma dose de radiao no volume tumoral (volume alvo),
procurando erradicar as clulas tumorais e causar os menores danos possveis nos tecidos
sos adjacentes.
A Radioterapia conformacional tridimensional (3D-CRT) surgiu com a introduo
dos sistemas de planimetria, que trouxeram maior rapidez e eficincia aos clculos das
distribuies de dose, possibilitando o clculo da dose para a configurao de campos
desejada. Inicialmente recorria a blocos de uma liga metlica de alta densidade para
colimar o feixe, que possibilitavam o bloqueio da radiao, protegendo assim alguns dos
tecidos sos adjacentes ao volume tumoral. A introduo dos MLCs (multi leaf collimator)
para substituio dos blocos de proteco deu incio a uma nova abordagem da 3D-CRT
com modulao precisa do feixe de radiao e consequente melhoria em termos da dose
administrada no volume alvo e proteco dos rgos de risco.
A tcnica de IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) permite obter
distribuies de dose de intensidade modulada, possibilitando assim modular a fluncia
do feixe e obter distribuies de dose muito variadas e precisas. Actualmente so vrias as
metodologias disponveis que permitem a realizao de um tratamento em IMRT. Destaca-
se a modulao da intensidade com MLC, a Tomoterapia e a Arcoterapia de Intensidade
Modulada (IMAT).
A modulao da intensidade com recurso ao MLC pode ser efectuada em modo
esttico (SMLC) ou step-and-shoot e em modo din}mico (DMLC) ou sliding window. O
primeiro mtodo subdivide o campo de tratamento, isto , a rea irradiada, e cada diviso
de campo criada pelo MLC. A modulao da fluncia do feixe conseguida controlando o
nmero de divises que resultam do campo de tratamento (segmentos) e a intensidade da
radiao distribuda em cada diviso. Neste modo, durante o tratamento, o feixe de
radiao interrompido enquanto as lminas do MLC adquirem a forma de cada diviso
-
7
de campo. J no mtodo em modo dinmico a intensidade modulada atravs do
movimento das lminas do MLC, durante a irradiao, onde a variao da posio e da
velocidade das lminas permite criar um perfil de fluncia modulado.
A Tomoterapia tem por base a tcnica de IMRT mas com recurso a um acelerador
com um design diferente, semelhante a um aparelho de TC, que possui um micro
colimador que apenas admite duas posies das lminas: abertas ou fechadas. Envolve um
conceito de tratamento slice-by-slice ({s fatias) { medida que a gantry gira em torno do
paciente. Uma nova abordagem desta tcnica Tomoterapia Helicoidal alia o movimento
da mesa de tratamentos simultaneamente rotao da gantry.
A tcnica IMAT recorre utilizao do MLC em modo dinmico juntamente com a
rotao da gantry para a criao de arcos dinmicos, durante os quais efectuada a
distribuio de dose. atravs da criao de vrios arcos rotacionais durante os quais a
forma do campo definida pelo movimento das lminas do MLC, que se obtm a
modulao de intensidade desejada. Em cada arco podem ser definidos vrios campos,
com diferentes ponderaes, de acordo com a velocidade de rotao da gantry.
O recente desenvolvimento das tcnicas de tratamento rotacionais RapidArc
(RA) da Varian1 e VMAT da Elekta2 desencadeou uma onda de interesse na tcnica IMRT.
Tanto o RA como VMAT so similares IMAT, pois recorrem a um MLC que altera a forma
do campo de tratamento dinamicamente enquanto a gantry roda volta do paciente. A
diferena significativa que, ao contrrio do que sucede na tcnica IMAT, apenas
necessria uma nica rotao da gantry, tornando o tratamento potencialmente mais
rpido. (Bortfeld & Wedd, 2009)
O VMAT, recente e avanada tecnologia da Elekta, permite efectuar tratamentos de
uma forma controla, precisa e rpida, com uma nica rotao da gantry, durante a qual o
MLC se adapta, em cada momento, forma do PTV, proporcionado uma adequada
distribuio 3D de dose. conseguido atravs da alterao simultnea de trs parmetros
durante o tratamento, a velocidade de rotao da gantry, a forma do campo tratamento
atravs do coordenado movimento das lminas do MLC e a taxa de deposio de
dose.(Palma, Verbakel, Otto, & Senan, 2010)
1.2. Objectivo da radioterapia
Existem dois mtodos distintos para aplicar uma dose rigorosa de radiao no
volume tumoral previamente definido, originando uma classificao da radioterapia em
Radioterapia Externa e Radioterapia Interna, ou Braquiterapia. Na Radioterapia Externa 1 Varian Medical Systems, Palo Alto, CA, USA. 2 Elekta AB, Stockholm, Sweden.
-
8
so utilizadas fontes de radiao ionizante (X, gama, e-) que s~o colocadas { dist}ncia
(pequena) do paciente, isto , do volume tumoral. Na Braquiterapia, so utilizadas fontes
radioactivas (sementes iodo, ) que podem estar na superfcie do paciente ou no interior
do mesmo, localizadas muito prximas do tumor.
A radiao ionizante, que possui energia necessria para ionizar tomos e
molculas, pode interagir de forma directa com o tecido biolgico provocando danos no
DNA ou, de forma indirecta, dando origem a radicais livres que iro interagir com o DNA
danificando-o. Uma vez que o alvo crtico da radiao ionizante para a destruio celular
o DNA, e o maior dano que a radiao causa ocorre quando as clulas se encontram em
diviso (mitose), ento as clulas que possuem uma maior taxa de mitose so mais
radiossensveis, ou seja, so mais susceptveis aos efeitos degenerativos provocados pela
radiao. A radiao ionizante afecta, no apenas as clulas cancergenas, como tambm as
clulas saudveis, mas o maior efeito destrutivo provocado pela radiao obtido nas
clulas cancergenas pois estas dividem-se mais rapidamente do que as clulas ss.
O facto de as respostas do tecido tumoral e do tecido normal mesma dose de
radiao no serem iguais permite que exista algum controlo tumoral, ou seja, dano no
tecido tumoral e, simultaneamente, no seja efectuado um dano significativo no tecido
normal.
1.2.1. Planeamento em Radioterapia
O planeamento do tratamento em radioterapia de extrema importncia, sendo
nele delineadas todas as etapas do percurso do paciente. Numa fase inicial uma consulta
multidisciplar avalia o doente, o seu estado clnico, o estdio da sua patologia definindo o
principal objectivo do tratamento, curativo ou paliativo. Escolhe ainda o tratamento mais
indicado, cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, ou a combinao de mais do que um tipo
de tratamento, assim como a ordem a serem efectuados. Aps definido o modelo de
tratamento e quando se recorre radioterapia externa, determinado o sistema de
imobilizao do paciente e so adquiridas imagens anatmicas do paciente, recorrendo a
uma tomografia computorizada, a que pode ser complementada com ressonncia
magntica e PET-CT. Com recurso s imagens anatmicas adquiridas so delimitados os
volumes alvo e rgos de risco, por parte do mdico radioterapeuta, definindo ainda dose
a administrar (por fraco, por dia e total). Aps da definio dos volumes a irradiar, da
responsabilidade do fsico/radioterapeuta a definio da tcnica de tratamento, bem como
a determinao da melhor configurao de feixes que produz a distribuio de dose 3D
pretendida, recorrendo aos sistemas de planimetria e efectuar uma avaliao do plano
-
9
obtido. Finalmente, da responsabilidade do mdico radioterapeuta a aprovao final do
plano de tratamento, verificando sempre se a distribuio de dose obtida est de acordo
com o prescrito e avaliando a dose recebida pelos rgos de risco. (Rodrigues)
1.2.2. Volumes em radioterapia
Sendo o principal objectivo da radioterapia administrar uma dose de radiao no
volume alvo, bem definido, limitando ao mximo a radiao nos tecidos sos adjacentes,
importante uma correcta definio dos volumes de interesse e dos rgos de risco para a
realizao do tratamento. De acordo com a localizao do tumor, o mdico oncologista
define os volumes GTV (Gross Tumor Volume), CTV (Clinical Target Volume) e PTV (Planing
Target Volume). Partindo da definio destes volumes e do plano de tratamento so ainda
definidos os volumes TV (Treated Volume) e IV (Irradiated Volume). Os volumes so
delimitados considerando os OAR (Organ at Risc), que devem ser devidamente
identificados.
Figura 1.1: Definio de volumes em Radioterapia (ICRU, 1993)
1.2.2.1. GTV, PTV, CTV, TV, IV e OR
O menor volume considerado o GTV que corresponde ao volume tumoral, isto ,
parte palpvel e visvel do tumor, onde existe a maior concentrao de clulas
cancergenas. Pode ser observado e delimitado a partir dos diferentes exames de imagem
mdica, como ressonncia magntica ou tomografia computorizada, ou a partir de exames
clnicos de diagnstico (inspeco, palpao, endoscopia). Adicionando uma margem ao
GTV, que englobe a difuso local do tumor, define-se um outro volume, o volume alvo
clnico - CTV. Este volume deve ser adequadamente tratado de forma a atingir o objectivo
do tratamento, curativo ou paliativo. Com o objectivo de garantir que todos os tecidos
tumorais esto includos no CTV e que este volume recebe toda a dose prescrita,
-
10
necessrio definir um volume ligeiramente maior, o PTV que dimensionado tendo em
considerao as variaes geomtricas possveis.
Uma vez que a dose no administrada apenas e exclusivamente ao PTV, devido a
vrias limitaes das tcnicas de tratamento, surge um novo conceito de volume que
engloba todos os tecidos que receberam alguma dose durante o tratamento, o volume
tratado - TV. Este volume encontra-se dentro de uma superfcie de isodose (linha em que
todos os pontos possuem igual valor de dose) e recebe uma dose especificada, aquela que
permite atingir os objectivos do tratamento. O volume tratado deve ser ajustado forma e
dimenso do PTV, normalmente superior ao PTV mas nunca dever ser inferior. Outro
volume a considerar o volume irradiado (IV) que corresponde a um volume de tecido
que recebe uma dose considerada significativa em relao tolerncia dos tecidos
normais. (ICRU, 1993)
Os rgos de risco so tecidos normais (sos), geralmente muito radiossensveis,
localizados na proximidade do volume tumoral, podendo influenciar o tratamento e a dose
prescrita. Existem tabelas de limites de dose para os tecidos sos e que so respeitadas na
realizao da planimetria. (ICRU, 1993)(Podgorsak, 2005)
1.2.3. Sistemas de Planimetria Computorizados (TPS)
Um Sistema de Planimetria Computorizado (TPS - Treatment Planning System)
uma ferramenta de extrema importncia no processo de planeamento do tratamento em
radioterapia. Consiste num conjunto de software e hardware que permite a introduo de
dados relativos ao paciente, as suas definies anatmicas e delimitaes de volumes,
permite gerar a melhor configurao do feixe (ou feixes), calcular as distribuies de dose,
efectuar uma avaliao do planeamento definido, em termos de dose e efeitos nos volumes
definidos, bem como permite ainda a exportao de dados para outras unidades
(acelerador linear, por exemplo) e sada de documentao. Actualmente todos os servios
de Radioterapia utilizam algum tipo de TPS, existindo desde os mais simples 2D aos mais
complexos 3D baseados em simulaes Monte Carlo. Os sistemas 3D-TPS permitem a
simulao 3D dos feixes, consideraes 3D do paciente e visualizaes avanadas da
anatomia do paciente. (IAEA, 2004)
Os TPS consideram duas abordagens distintas para determinar a distribuio de
dose pretendida, uma o planeamento directo, utilizado normalmente para a 3D-CRT e
outra o planeamento inverso, utilizado para o IMRT e VMAT. No planeamento directo o
nmero e tipo de campos (angulaes da gantry), a configurao das lminas do MLC, os
filtros a aplicar so definidos pelo responsvel do planeamento e o sistema de
-
11
planeamento determina a distribuio tendo em considerao os campos definidos. A
avaliao da distribuio obtida efectuada e o melhor planeamento alcanado pelo
mtodo tentativa-erro. Pelo contrrio, no sistema inverso primeiro especifica-se o nmero
e localizao dos campos e so definidos os objectivos e as restries, ou seja, a dose
requerida, a dose mxima nos volumes alvo, os limites de dose nos rgos e tecidos
adjacentes. Depois, a configurao das lminas do MLC e dos pesos dos campos so
determinados pelo computador que executa a distribuio de dose e a respectiva
optimizao. (Carvalho, 2009) As principais caractersticas destes dois sistemas de
planeamento esto resumidas esquema que se segue.
Figura 1.2: Esquema comparativo dos mtodos de planeamento.
Os algoritmos de clculo da dose so os principais componentes do software de um
TPS. So responsveis pela correcta representao da dose no paciente, podendo estar
associadas aos clculos do tempo de feixe ou das unidades monitor (MU). Devido rpida
evoluo do poder computacional, os algoritmos de clculo de dose so um processo em
constante evoluo, existindo actualmente vrios algoritmos utilizados nos TPS. A
abordagem geral destes algoritmos consiste em decompor e analisar o feixe de radiao
em componentes primrias e de disperso, permitindo assim incorporar na distribuio
da dose mudanas na disperso devido a mudanas na forma do feixe, a intensidade do
feixe, a geometria do paciente e as heterogeneidades do tecido.
1.2.3.1. Avaliao da planimetria
A etapa final do planeamento do tratamento a aprovao desse mesmo plano.
uma etapa fundamental que implica, por vezes, a deciso de admitir mais dose num rgo
de risco para proteger outro ou para irradiar melhor o volume alvo. So ponderados todos
Planeamento Directo
Aquisio de imagens: definio de volume alvo e outras regies de
interesse;
Seleco de feixes, energias, filtros e configurao MLC;
Clculo tridimensional de dose;
Avaliao da curva de isodose em 2D e 3D;
Aprovao do plano de tratamento.
Planeamento Inverso
Aquisio de imagens: definio de volume alvo e outras regies de
interesse;
Definio dos objectivos e restries na distribuio de dose nos volumes
alvo e rgos de risco;
Procedimento computacional de optimizao de distribuio 3D da
dose;
Avaliao da distribuio de dose;
Aprovao do plano de tratamento.
-
12
os riscos, tendo em considerao a radiossensibilidade dos diferentes tecidos. A avaliao
efectuada recorrendo-se normalmente avaliao de curvas de isodose, estatsticas das
doses e histogramas dose-volume (HDV). Alguns TPS permitem ainda a utilizao de um
modelo radiobiolgico que permite estimar as probabilidades de controlo tumoral (TCPs)
e as probabilidades de complicao no tecido normal (NTCPs), indicando assim a
qualidade do plano de tratamento. (IAEA, 2004)
1.2.3.2. Curvas de Isodose, Estatsticas de dose e HDV
As curvas de isodose so linhas que unem pontos de igual dose. Permitem uma
representao volumtrica ou planar da distribuio da dose mostrando facilmente o
comportamento de um ou mais feixes. (Khan, 2003) As curvas de isodose podem
representar a dose real, em Gray (Gy), no entanto, mais comum uma representao
normalizada para 100% num dado ponto. As normalizaes usuais so a normalizao no
isocentro ou a normalizao para 100% na profundidade de dose mxima no eixo central.
Por vezes, quando um grande nmero de planos utilizado para os clculos so usuais
representaes nos planos sagital e coronal das curvas de isodose. Uma forma alternativa
de representar as isodoses mape-las em 3D, sobrepondo as isosuperfcies, constituindo
assim uma representao 3D com os volumes alvo e outros rgos. Esta representao,
embora permita visualizar o volume alvo, no evidencia a distncia entre as isosuperfcies
e os volumes anatmicos nem d informaes quantitativas dos volumes. (Podgorsak,
2005)
As estatsticas das doses permitem efectuar uma avaliao quantitativa da dose
recebida pelo volume alvo e estruturas crticas. Os parmetros avaliados, para qualquer
volume, so a dose mxima, mnima e mdia que recebem, e, para o volume alvo, a dose
recebida em, pelo menos, 95% do volume, e o volume irradiado com, pelo menos, 95% da
dose prescrita. Para os OR esta avaliao percentagem de dose em determinada
percentagem de volume depende do rgo em questo e das tolerncias aceites pelo
mdico. (Podgorsak, 2005)
Os histogramas dose volume resumem a informao contida nas distribuies 3D
de dose e so ferramentas de extrema importncia na avaliao quantitativa dos planos de
tratamento. As curvas apresentadas num HDV representam a distribuio de dose no
volume de um determinado rgo a tratar e a distribuio de dose nos rgos de risco.
Pode ento verificar-se que o volume alvo se encontra correctamente coberto pela dose
prescrita e que a irradiao dos rgos de risco no ultrapassa as tolerncias
recomendadas internacionalmente.
-
13
2. CAPTULO II
2. Aceleradores Lineares
O acelerador linear um equipamento que permite, atravs de mecanismos de
acelerao e colimao, obter feixes direccionados de electres ou de fotes de alta
energia. o equipamento mais comum na radioterapia externa e usualmente dispe de
duas ou trs energias de fotes, utilizadas para tratamentos mais profundos, e vrias
energias de electres utilizadas para irradiar volumes mais superficiais. um
equipamento isocntrico pois permite a irradiao segundo vrias direces de incidncia
e os eixos centrais intersectam-se num mesmo ponto do espao (isocentro), situado
normalmente a 100 cm do foco do feixe.
Para alm dos elaborados sistemas de produo, colimao e controlo da radiao,
associado a um acelerador linear esto equipamentos para posicionamento do paciente e
sistemas de localizao e verificao dos campos a irradiar. O posicionamento do paciente
efectuado numa mesa de tratamento especfica com o auxlio de um sistema de lasers. O
sistema de verificao de campos constitudo por um sistema de deteco de radiao
que permite, com auxlio de um sistema informtico, verificar a conformidade entre os
campos irradiados e os campos planeados. O sistema de verificao electrnico,
normalmente localizado no brao do acelerador, permite adquirir imagens (imagem
portal) na altura do tratamento e verificar a sua conformidade com as imagens do sistema
de planimetria.(Rodrigues)(Carvalho, 2009)
2.1. Principais Componentes de um acelerador linear
O acelerador linear, com recurso a uma fonte de electres e a microondas de
frequncia prxima dos 3GHz, gera feixes de electres com energias cinticas de 3 MeV at
cerca de 25MeV. (Podgorsak, 2005)
-
14
As componentes bsicas que constituem um acelerador, esquematizadas na figura
2.1, so a fonte de energia - modulador, a fonte de microondas, o sistema de ejeco de
electres, os guias de onda de acelerao, o sistema de magnetos e a cabea de tratamento.
Figura 2.1: Diagrama de blocos representativo de um Acelerador Linear Adaptado: (Podgorsak, 2005);
(Greene & Williams, 1997) e (Clark)
2.2. Produo Feixe de electres
A fonte de energia-modulador (pulsed modulator) fornece pulsos de alta tenso
fonte de electres (electron gun) e fonte de microondas. A fonte de electres, que
consiste num ctodo aquecido a uma alta temperatura (aproximadamente 1100C) e num
nodo, colocada num sistema de vcuo, produz electres por emisso termoinica e
injecta um pulso de electres nos guias de onda, onde so acelerados. Os guias de ondas
tm como base a acelerao num tubo de ondas progressivas. O electro acelerado ao
longo do tubo, da esquerda para a direita. estabelecida uma diferena de potencial entre
os vrios elctrodos ao longo do tubo e atravs da inverso momentnea do campo
elctrico os electres so acelerados. A distncia dos elctrodos aumentada
progressivamente, uma vez que o electro vai aumentando a sua velocidade, permitindo
que, desta forma, no seja perdido o sincronismo na acelerao do electro. A diferena de
potencial necessria acelerao dos electres no guia de ondas estabelecida pelos
pulsos de microondas, gerados pela fonte de microondas, tipicamente a uma frequncia de
3GHz. (Greene & Williams, 1997)
Os pulsos de microondas so gerados pela aplicao de pulsos de alta tenso, com
cerca de 50kV, gerados pela fonte energia-modulador, fonte de microondas, que
usualmente um Magnetro ou ento, em aceleradores de maior energia, um Klystro. O
-
15
Magnetro usado geralmente para energias de electres at 15MeV e o Klystro para
energias superiores. (Smith, 2000)
2.3. Sistema de transporte do feixe
O sistema de transporte do feixe recorre a campos magnticos para controlar o
percurso e energia do feixe de electres desde o guia de acelerao at cabea de
tratamento. Engloba trs etapas distintas - direccionar, focar e curvar o feixe de electres.
Ao entrarem e sarem do guia de ondas os electres so direccionadas de forma a
localizarem-se o mais prximo possvel do eixo. Isto efectuado com dois (pares de)
dipolos ortogonais de bobines de direco (steering coils). As bobines localizadas entrada
do guia de ondas direccionam o electro (feixe de electres) para a correcta posio,
imediatamente aps deixar o canho de electres (electron gun), e as bobines localizadas
sada permitem guiar o feixe de electres com preciso para o alvo de raios-X ou janela de
electres (electron window), no caso de uma cabea de tratamento in line, ou para os
sistemas de curvatura do feixe (bending systems), que sero abordados de seguida. Ao ser
acelerado ao longo do guia de ondas, o feixe de electres, sujeito aco de foras, pode
divergir a sua trajectria, essencialmente devido repulso electro-electro. Para
minimizar este factor de divergncia, existem as bobines de focagem (focusing coils), que
no so mais do que um solenoide volta do guia de ondas, que permitem que o feixe de
electres no divirja, mantendo assim uma menor rea de seco recta. Aps a acelerao
do feixe de electres, ele sofre uma mudana de direco de forma a ficar no plano da
mesa de tratamento, caso a cabea de tratamento n~o seja in line. Existem v|rias formas
de obter esta curvatura do feixe, que recaem essencialmente nos sistemas de rotao a
90, e a 270. Em ambos os sistemas, o feixe entra numa caixa de vcuo, localizada entre
dois magnetos, e, devido aco do campo magntico criado pelos magnetos, faz uma
trajectria circular. (Greene & Williams, 1997)
2.4. Principais sistemas de colimao
Aps o sistema de transporte do feixe de electres, o feixe ir ser colimado,
existindo vrias componentes para o efeito na cabea de tratamentos do acelerador linear.
A figura seguinte apresenta os principais componentes presentes numa cabea de um
LINAC, adaptado para fotes A) e electres B).
-
16
Figura 2.2: Principais componentes da cabea de tratamentos num LINAC. Adaptado:(Khan, 2003)
A) para feixe de fotes com alvo e com filtro flattening no feixe;
B) para feixe de electres e com filtro scattering no feixe
O feixe de electres poder ser utilizado para tratamentos directamente com
electres ou para tratamentos com fotes, sendo necessrio, para o efeito, fazer colidir o
feixe de electres com um alvo de elevado nmero atmico e, devido ao efeito de
Bremsstrahlung, so emitidos fotes (raios-X).
2.4.1. Colimao geral
O feixe de fotes, aps atravessar o colimador primrio, passa num filtro
(flattening filter) que tem por objectivo deix-lo mais uniforme, com uma distribuio de
dose mais homognea. (Smith, 2000)
-
17
Figura 2.3: Representao da modificao dos contornos das curvas de isodoses obtidas na irradiao
de um fantoma de gua com feixe de fotes. (Smith, 2000)
a) sem filtro b)com filtro flattening.
Para os tratamentos com electres, o alvo retirado da trajectria do feixe e
utilizado um filtro difusor (scattering foil), que permite obter um feixe de electres mais
uniforme e com maior seco til.
Figura 2.4: Efeito filtro difusor (scattering foil) na distribuio dos electres. (Adaptado:(Greene &
Williams, 1997)
De seguida, aps atravessar um sistema de cmaras de ionizao onde so
monitorizadas a dose, a taxa de dose e a distribuio de dose no campo, o feixe limitado
por um segundo colimador que restringe o campo projectado para uma dimenso mxima,
em geral, de 40cm x 40cm. O ltimo sistema de colimao do feixe o colimador multi-
lminas (MLC) que permite obter campos irregulares, mais prximos das formas dos
volumes a tratar.
Para definir a forma e dimenso do campo so utilizados, no caso de feixe de
electres, diversos tipos de aplicadores, diminuindo ainda os efeitos de disperso que se
evidenciam neste tipo de partculas. No caso dos fotes, uma vez que tm maior poder de
penetrao, podem ainda ser utilizados blocos e cunhas que permitem adequar o campo
forma e intensidade desejada, que so colocados aps o colimador secundrio e MLC.
-
18
Figura 2.5: Efeito de um filtro (cunha) nas isodoses obtidas na irradiao com feixe de fotes.
(Smith, 2000)
Como a maioria dos aceleradores produz electres e fotes com vrias energias,
ento possuem um sistema mvel (Carrocel) que permite a colocao do alvo caso se
pretenda obter fotes e a sua ausncia para tratamentos com electres, e que possibilita
tambm a seleco do filtro flattening para cada energia de fotes, assim como seleco do
filtro scattering para cada energia de electres. (Khan, 2003)
2.4.2. Colimao precisa MLC
Os colimadores multi-lminas, cada vez mais presentes nas unidades de
radioterapia, so responsveis pelas recentes evolues na radioterapia conformal
tridimensional (3D-CRT). Para alm de substiturem os blocos para conformao dos
campos de radiao, os MLCs possibilitam a utilizao de tcnicas especiais de
radioterapia baseadas essencialmente na modulao do feixe de tratamento, como a
radioterapia de intensidade modulada (IMRT), arco dinmico, VMAT. O MLC um sistema
adicional de colimao do acelerador que modifica a geometria (forma) do feixe.
Constitudo por um conjunto de lminas, controladas por computador, e que se podem
movimentar at uma posio pr-definida, o MLC permite bloquear a radiao em uma
determinada regio, criando feixes de intensidade modulada, adaptados s formas do
volume alvo. Nos aceleradores Elekta colocado antes dos diafragamas (jaws). Nos
aceleradores Varian considerado como uma colimao terciria, colocado depois dos
sistemas tradicionais de colimao. Este facto torna-se vantajoso pois permite uma
adaptao do MLC a unidades j existentes, bem como a continuao do acelerador em
servio atravs do uso de tradicionais blocos, caso se verifique uma falha no MLC. O facto
de se localizar mais afastado da cabea de tratamento implica que a dimenso do MLC seja
maior, contudo so admitidas maiores tolerncias no posicionamento das lminas. (Galvin,
1999)
-
19
Um acelerador Elekta comporta os trs principais componentes de
colimao/modelao de um feixe de radiao. O MLC um sistema de colimao
primrio, seguido pelas backup jaws (diafragma Y) que se movimentam na direco das
lminas do MLC e pelas lower jaws que se movimentam numa direco perpendicular
direco das lminas do MLC. As backup jaws tm 3 mm de espessura, pretendem
minimizar a transmisso das lminas e a sua transmisso deve ser determinada e inserida
no TPS. As lminas movimentam-se no eixo x e o movimento de cada lmina
controlado independentemente. As bordas das lminas so ligeiramente arredondadas e
os lados das lminas, de todo o MLC, possuem uma espcie de encaixe entre elas,
designado por Tongue and Groove, que permite minimizar a radiao transmitida entre as
lminas adjacentes. Entre pares de lminas opostas existe um gap de 5 mm e no ocorre
interdigitao. (Liu, 2008)
Um sistema de colimador multi-lminas caracterizado pelo nmero de pares de
lminas que possui, pelo tamanho mximo de campo que permite obter, pela largura das
lminas projectada ao nvel do isocentro, pela distncia mxima que alcanada pelas
lminas relativamente ao eixo central e pela transmisso do MLC. (LoSasso, Chui, & Ling,
1998) importante considerar o MLC como um sofisticado dispositivo elctrico-mecnico
que necessita de um vasto conjunto de passos distintos para a sua introduo em modo
clinicamente operacional. Requer um controle de qualidade rigoroso, comeando com um
conjunto de testes de aceitao e medidas de commissioning, avanando para a sua
correcta caracterizao no TPS e finalmente para uma rotina de controlo de qualidade com
um conjunto de vrios testes. Como principais fontes de erro na caracterizao do MLC no
TPS destaca-se:
Modelao da terminao e das faces laterais das lminas;
Transmisso da backup jaw;
Interaco da backup jaw e das extremidades lminas MLC
Interaco da lower jaw e do MLC na direco perpendicular s lminas;
Transmisso das lminas e entre as lminas do MLC .(Liu, 2008)
2.5. Parmetros de caracterizao dos feixes de radiao
Os vrios equipamentos de radioterapia permitem a produo de feixes de
radiao de diferentes qualidades, isto , diferentes tipos (fotes, electres), energias e
alcance/penetrao. So definidas vrias quantidades fsicas para caracterizao dos
feixes de radiao, teis em uso prtico para clculo especfico das doses administradas
-
20
durante os tratamentos e para comparao dos diferentes tipos de feixes. De seguida so
definidas algumas dessas quantidades fsicas e relaes entre elas.
2.5.1. Parmetros geomtricos SSD, SAD e Dimenso de Campo
A correcta deposio da dose no paciente requer um correcto posicionamento
deste em relao fonte de radiao. A figura 2.6 esquematiza um feixe colimado que
irradia um tumor e representa parmetros geomtricos que caracterizam a irradiao
num tratamento.
Figura 2.6: Principais parmetros geomtricos definidos num feixe que irradia um tumor. (Adaptado:
(Jayaraman & Lanzl, 2004)
A Distncia Fonte Superfcie (DFS), tambm designada por SSD - Source Skin
Distance (Jayaraman & Lanzl, 2004) ou Source Surface Distance (Smith, 2000) a distncia
entre a fonte (foco) e a pele do paciente ou a superfcie do fantoma. A Distncia Fonte Eixo
(SAD - Source Axis Distance) adiciona a profundidade do tratamento (d) distncia SSD.
A seco recta do feixe, designada por dimenso/tamanho de campo, pode
especificar-se pela rea Ad profundidade d da superfcie do paciente, como tambm pela
rea A0 superfcie do paciente. (Jayaraman & Lanzl, 2004)
2.5.2. Distribuies da dose absorvida
Uma medio directa e precisa da distribuio de dose num tecido (paciente)
praticamente impossvel. Apesar de esta medio ser possvel no ar ou no vcuo, onde a
fluncia de partculas, de um feixe de fotes ou de electres (embora num curto espao
pois facilmente interagem com o meio perdendo energia) inversamente proporcional ao
-
21
quadrado da distncia fonte, a propagao de um feixe de fotes num paciente afectada
pela atenuao e disperso do feixe no paciente, no ar e no colimador, dando origem a
fotes dispersos e a electres secundrios (disperso Compton).
A dose absorvida no paciente/fantoma varia com a profundidade, dependendo de
factores como a energia do feixe (h), o tamanho de campo (A), a distncia da fonte (f), o
sistema de colimao do feixe e a profundidade (d). Assim, devem ser considerados estes e
outros parmetros no clculo de dose no paciente, uma vez que afectam a distribuio de
dose em profundidade.
A distribuio de dose ao longo do eixo central (variao da dose com a
profundidade) caracterizada em relao dose a uma dada profundidade de referncia,
geralmente a profundidade de dose mxima. A figura 2.6 representa uma distribuio
tpica da dose ao longo do eixo central curva PDD (Percentage depth dose), destacando
pontos e zonas importantes.
Figura 2.7: Curva PDD - Deposio de dose de um feixe de fotes num paciente. Adaptado: (Podgorsak,
2005)
O feixe de fotes entra no paciente (fantoma), deposita uma certa dose superfcie
e rapidamente, numa zona superficial, a dose aumenta e atinge um valor mximo
a uma dada profundidade . Seguidamente, medida que a profundidade
aumenta, a dose diminui quase exponencialmente, atingindo um valor no ponto de
sada . A dose superficial depende de factores como a energia do feixe e a dimenso
de campo, contribuindo para o valor desta dose fotes dispersos (scattered) nos
colimadores, filtros e ar; fotes retrodispersos (backscattered) no paciente bem como
electres de alta energia produzidos por interaces de fotes no ar. A regio build-up a
regio localizada entre a superfcie e a profundidade onde a dose mxima . O
aumento da dose nesta regio resulta essencialmente da deposio de energia no paciente
por parte de energticas partculas secundrias carregadas (electres), que so
produzidas nessa zona devido interaco dos fotes no meio (efeito fotoelctrico,
-
22
disperso Compton, produo pares). A profundidade onde a dose mxima
(profundidade de equilbrio electrnico) depende essencialmente da energia inicial do
feixe e, aps esta profundidade a dose diminui devido atenuao dos fotes no paciente.
A regio build-down, localizada na sada do meio considerado, caracterizada por um
decrscimo significativo da dose absorvida. Este facto resulta essencialmente da
diminuio (ausncia) da contribuio da radiao retrodispersa para a dose absorvida
devido alterao do meio material. Quando o meio material existente para alm da
interface considerada possuiu menor densidade, o que se verifica na relao tecido
biolgico-ar, a radiao retrodispersa diminuiu e, consequentemente, a dose absorvida no
meio considerado vai decrescer acentuadamente. (Podgorsak, 2005)(Khan, 2003)
(Teixeira, 2002)
2.5.2.1. PDD
A Percentagem de Dose em Profundidade (Percentage depth dose - PDD) pode
definir-se como a razo percentual entre a dose a determinada profundidade ,
dentro do meio, e a dose mxima (profundidade de equilbrio electrnico) e pode
ser escrita como:
Figura 2.8: Geometria para definio de PDD (Podgorsak, 2005)
onde a profundidade no fantoma/paciente, a dimenso de campo, a SSD e a
energia do feixe, factores de que depende a PDD, a dose no ponto e a dose
mxima. A figura 2.7 representa a geometria para a definio de PDD. O ponto Q um
ponto arbitrrio profundidade e o ponto o ponto de referncia onde a dose
mxima ( .
-
23
2.5.2.2. Perfil
Para alm da caracterizao da deposio da dose ao longo do eixo central, como
descrito anteriormente para os PDDs, importante verificar como se distribui a dose fora
desse eixo. O Perfil uma representao grfica da distribuio da dose em funo da
distncia ao eixo central do feixe, medida perpendicularmente ao eixo, a uma dada
profundidade. Evidenciam-se trs zonas distintas num perfil: a regio central, a penumbra
e a cauda. A regio central representa a poro central do perfil e afectada pela energia
com que os electres colidem com o alvo, pelo nmero atmico do alvo e forma e nmero
atmico do filtro flatenning. A penumbra depende dos colimadores que definem o feixe, da
dimenso da fonte e do desequilbrio electrnico lateral. A cauda a regio onde a dose
geralmente muito baixa e resulta essencialmente da radiao transmitida atravs do
colimador. (Podgorsak, 2005) Normalmente a dimenso de campo definida num perfil
como a distncia entre pontos com intensidade de 50%. (Smith, 2000)
Figura 2.9: Perfil de Campo, formao da Penumbra (P) e dimenso de campo. Adaptado: (Smith, 2000)
A consistncia de um perfil uma importante caracterstica para a preciso e
reprodutibilidade da dose depositada em radioterapia, podendo avaliar a
uniformidade/qualidade de um feixe atravs das suas caractersticas. Os parmetros
utilizados na avaliao da consistncia de um perfil so a simetria, a homogeneidade
(flatness) e a penumbra. Existem diversas definies e protocolos de avaliao destes
parmetros, segundo as referncias internacionais mas tambm segundo as marcas dos
aceleradores.
-
24
2.5.2.3. Homogeneidade e Simetria
A homogeneidade (H) avalia se existem flutuaes na regio central do perfil e
definida com base nos pontos de dose mxima (Dmax) e mnimas (Dmin) existentes na regio
central, representada por 80% da largura do perfil:
O valor de H deve ser inferior a 3% quando medido num fantoma de gua, a SSD de 100cm
e a 10 cm profundidade, para a maior dimenso de campo disponvel, normalmente 40x40
cm2. (Podgorsak, 2005)
A simetria (S) usualmente determinada a uma profundidade mxima e verifica se
num perfil os valores da dose de dois pontos equidistantes do eixo central no diferem
mais que 2%.(Podgorsak, 2005)
Uma definio equivalente para a simetria o desvio entre a dose medida do lado
esquerdo e a dose medida do lado direito de num perfil, obtida a 80% da FWHM. (Nath,
et al., 1994)
-
25
3. CAPTULO III
3. Sistemas Dosimtricos
As radiaes ionizantes por si s no podem ser medidas directamente. A deteco
da radiao realizada pelo resultado produzido da interaco da radiao com um meio
sensvel (detector). Dosimetria das radiaes ou simplesmente dosimetria refere-se
medio da dose absorvida ou taxa de dose resultante da interaco da radiao ionizante
com a matria. Refere-se determinao atravs de medidas ou clculos de quantidades
radiologicamente relevantes como exposio, kerma, fluncia, dose absorvida. Estas
medies so efectuadas com equipamentos dosimtricos calibrados de acordo com
protocolos estabelecidos internacionalmente, por exemplo pela Internacional Agency of
Atomic Energy - IAEA. Os instrumentos de medida so denominados dosmetros e so
constitudos por um elemento ou material sensvel radiao e um sistema que
transforma esses efeitos num valor relacionado com uma grandeza de medio dessa
radiao. A leitura efectuada uma medida da dose absorvida depositada no seu volume
sensvel pela radiao ionizante. Esto normalmente associados a um sistema de leitura,
sendo o conjunto designado sistema dosimtrico.
Uma vez que em radioterapia necessrio determinar, da forma mais exacta
possvel, a dose absorvida na gua, e a sua distribuio espacial, assim como calcular a
dose num volume/rgo de interesse do paciente, necessrio que o sistema de
dosimetria possua caractersticas como grande exactido, preciso, linearidade,
dependncia com a dose e a taxa de dose, dependncia energtica, dependncia
direccional e resoluo espacial. (Podgorsak, 2005)
So vrios os tipos de dosmetros utilizados em radioterapia, de materiais e formas
diferentes, entre eles, as cmaras de ionizao, arrays de detectores, dodos, dosmetros
termoluminescentes (TDLs), dosmetros estado-slido (detector diamante), dosmetros
qumicos, pelculas fotogrficas e a seleco do tipo de dosmetro deve ter em conta as
suas caractersticas especficas (resoluo) e as medies que se pretendem efectuar,
-
26
avaliando o tipo de aplicao, o tamanho de campo e o tempo necessrio para concluir a
recolha de dados. (Das, et al., 2008)
3.1. Ionometria
Ao logo do percurso de interaco de uma partcula carregada com um gs
ocorrem processos de ionizao e excitao das molculas que constituem esse gs.
Quando no aplicado nenhum campo elctrico a esse gs, os ies criados vo-se
recombinar, produzindo mais uma vez espcies neutras. No entanto, na presena de um
campo elctrico, os ies positivos e electres livres produzidos comeam a movimentar-se
em direco zona onde o potencial oposto sua carga. Na presena de um nodo e de
um ctodo, os ies positivos so atrados para o ctodo e os electres para o nodo,
produzindo-se assim corrente. neste processo de coleco de cargas que se baseiam os
detectores gasosos de radiao. medida que o potencial elctrico aumentado, o nmero
de pares de ies produzidos aumenta, permitindo distinguir diferentes tipos de resposta
(Figura 3.1) e, desta forma, definem-se regies de funcionamento de diferentes tipos de
detectores gasosos: cmaras de ionizao, contadores proporcionais e tubos de Geiger-
Mller.
Figura 3.1: Relao entre a tenso aplicada e a carga produzida num detector gasoso. Diferentes
regies de operao. Adaptado: (Podgorsak, 2005)
As cmaras de ionizao operam na segunda regio, onde a carga elctrica
permanece constante apesar do potencial elctrico continuar