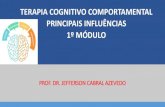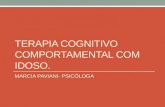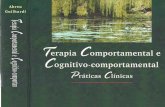CAROLINE PICHELLI GINGLIANI AZEVEDO TRANSTORNO … · modelos de intervenÇÃo: uma revisÃo na...
-
Upload
doankhuong -
Category
Documents
-
view
223 -
download
1
Transcript of CAROLINE PICHELLI GINGLIANI AZEVEDO TRANSTORNO … · modelos de intervenÇÃo: uma revisÃo na...
CETCC - CENTRO DE ESTUDOS EM TERAPIA COGNITIVO-
COMPORTAMENTAL
CAROLINE PICHELLI GINGLIANI AZEVEDO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E EFICÁCIA DE
MODELOS DE INTERVENÇÃO: UMA REVISÃO NA
PERSPECTIVA DA ABORDAGEM COGNITIVO-
COMPORTAMENTAL E ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL
SÃO PAULO
2018
1
CAROLINE PICHELLI GINGLIANI AZEVEDO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E EFICÁCIA DE MODELOS
DE INTERVENÇÃO: UMA REVISÃO NA PERSPECTIVA DA
ABORDAGEM COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E ANALÍTICO-
COMPORTAMENTAL
Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Centro
de Estudos em Terapia Cognitivo Comportamental
como parte dos requisitos necessários para obtenção do
Grau em Pós Graduação de Psicologia.
Docente responsável: Dr. Ricardo Gonzaga
SÃO PAULO
2018
2
CAROLINE PICHELLI GINGLIANI AZEVEDO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E EFICÁCIA DE MODELOS DE
INTERVENÇÃO: UMA REVISÃO NA PERSPECTIVA DA ABORDAGEM
COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL
Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Centro de Estudos em Terapia Cognitivo
Comportamental – CETCC, como parte dos requisitos necessários para obtenção do grau em
pós-graduação de Psicologia.
COMISSÃO JULGADORA
_____________________________________
_____________________________________
Centro de Estudos em Terapia Cognitivo Comportamental - CETCC
_____________________________________
3
RESUMO
O Transtorno do Espectro Autista – TEA consiste em um conjunto heterogêneo de distúrbios
da socialização, com início precoce, curso crônico e ampla variedade clínica, comprometendo
esferas medulares do desenvolvimento. Manifesta-se antes dos três anos de idade e é
caracterizado por anormalidades qualitativas em três áreas: interação social, comunicação e
comportamento, que se mostra restrito e repetitivo. As literaturas nacional e estrangeira
asseveram que o diagnóstico e a aplicação precoces de intervenções terapêuticas são fatores
centrais para a reabilitação global e a promoção de qualidade de vida da pessoa autista. Nesse
sentido, o objetivo do presente estudo foi fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema e
apresentar evidências de eficácia dos principais modelos de intervenção psicológica para seu
tratamento, sob a ótica da abordagem cognitivo-comportamental e analítico-comportamental.
Utilizaram-se artigos científicos, publicados em português ou inglês, para fins de
levantamento bibliográfico. Foram encontrados seis artigos que estavam em conformidade
com os critérios de inclusão estabelecidos. A análise do material permitiu deduzir que não há
evidências de alta qualidade para os seguintes dispositivos terapêuticos: análise do
comportamento Aplicada – ABA, intervenção comportamental intensiva, intervenção precoce
mediada pelos pais, grupos de habilidades sociais, modelo cognitivo Teoria da Mente – ToM
e Sistema de Comunicação por Troca de Figuras – PECS. Avaliou-se que isso se deve em
função do baixo rigor metodológico das pesquisas sobre TEA e ausência de estudos
randomizados controlados, assim como amostras limitadas e resultados mensurados à curto
prazo. Ademais, constatou-se que não haver consenso entre a comunidade científica acerca de
quais procedimentos terapêuticos são mais promissores para o tratamento do autismo.
Finalmente, sugere-se a realização de pesquisas de alta qualidade metodológica sobre o tema
e o investimento na instrumentalização de profissionais que atuam no cuidado da pessoa
autista.
Palavras - chave: Transtorno do Espectro Autista. Terapia Cognitivo-Comportamental.
Análise do Comportamento Aplicada.
4
ABSTRACT
The Autistic Spectrum Disorder (ASD) consists of a heterogeneous set of socialization
disorders, with a precocious onset, chronic course and wide clinical variety, compromising
core developmental domains. It manifests itself before three years of age and is characterized
by qualitative abnormalities in three areas: social interaction, communication and behavior,
which is restricted and repetitive. National and foreign literature assert that the early diagnosis
and application of therapeutic interventions are central factors for a global rehabilitation and
promotion of the autistic quality of life. Therefore, the objective of this study was execute a
bibliographic review on the subject and present evidence of efficacy of the main models of
psychological intervention, from the perspective of the cognitive-behavioral and analytic-
behavioral approach. Scientific articles, published in Portuguese or English, were used for
bibliographic review. Six articles were found that according to the established inclusion
criteria. An analysis of the material allowed to deduce that there is no evidence of high quality
for the following therapeutic devices: Applied behavior analysis - ABA, intensive behavioral
intervention, early intervention mediated by parents, social skills groups, cognitive model
Theory of Mind – ToM, and Picture Exchange Communication System - PECS. It was
assessed that this is due to the low methodological rigor of the research on ASD and the
absence of randomized controlled trials, as well as limited samples and results measured in
the short term. In addition, it was found that there is no consensus among the scientific
community about which therapeutic procedures are most promising for the treatment of
autism. Finally, it is suggested to carry out researches of high methodological quality on the
subject and the investment in the instrumentalization of professionals who work in the care of
the autistic person.
Key - words: Autistic Spectrum Disorder. Cognitive behavioral therapy. Applied Behavior
Analysis.
5
LISTA DE TABELAS
TABELA 1 – Artigos selecionados para análise...................................................................17
6
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO...............................................................................................................07
1.1 Transtorno do Espectro Autista: definição e características.............................................07
1.2 Diagnóstico e aspectos biofisiológicos do TEA...............................................................10
1.3 TEA sob a perspectiva da Terapia Cognitivo Comportamental e da Análise do
Comportamento.........................................................................................................................11
1. 4 Programas de tratamento e modelos de intervenção.........................................................13
2 MÉTODO...........................................................................................................................17
2.1 Material...............................................................................................................................17
2.2 Procedimentos.....................................................................................................................17
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO.........................................................................................18
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................24
REFERÊNCIAS......................................................................................................................26
7
1 INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro Autista – TEA abrange um conjunto heterogêneo de
distúrbios da socialização, com início precoce e curso crônico, cujos efeitos são variáveis e
impactam em esferas diversas e centrais do desenvolvimento. Segundo Paula, Ribeiro,
Fombonne e Mercadante (2011), o diagnóstico e o acesso à assistência adequada aos
portadores do distúrbio são complexos e ainda incipientes. No contexto brasileiro, não existe
uma estimativa epidemiológica oficial, entretanto, tem se observado nos últimos anos um
aumento significativo no diagnóstico de casos de autismo, em parte pelo maior acesso a
informações sobre o transtorno; ainda assim, constata-se que reduzida parcela de pacientes
recebe tratamento especializado (BRASIL, 2013). Nesse sentido, a literatura científica é
unânime ao asseverar que o diagnóstico e a aplicação precoces de programas de intervenção
terapêutica são fatores medulares para a reabilitação global da pessoa autista (LEBOYER,
1995; SCHWARTZMAN; ASSUMPÇÃO JUNIOR, 1995; SILVARES, 2000; CABALLO,
2005; ASSUMPÇÃO JUNIOR, 2007). O interesse pela autora neste tema deu-se em virtude
de sua atuação enquanto psicóloga clínica e acompanhante terapêutica de crianças autistas,
como também pela importância da atualização constante que essa prática requer.
Tendo em vista as questões apresentadas, o objetivo do presente estudo é fazer um
levantamento bibliográfico sobre o tema e apresentar evidências de eficácia dos principais
modelos de intervenção psicológica para seu tratamento, sob a perspectiva da abordagem
cognitivo-comportamental e analítico-comportamental.
1.1 Transtorno do Espectro Autista: definição e características
Conforme a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento proposta pelo
Código Internacional de Doenças - CID–10, o autismo é classificado na categoria dos
transtornos invasivos do desenvolvimento (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE,
1993). O Transtorno do Espectro Autista manifesta-se antes dos três anos de idade e é
assinalado por anormalidades qualitativas em três áreas: interação social, comunicação e
comportamento, que se mostra restrito e repetitivo (OMS, 1993).
Segundo a quinta versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
– DSM-V, da Associação Psiquiátrica Americana – APA (AMERICAN PSYCHATRIC
ASSOCIATION, 2013) o diagnóstico do TEA deve basear-se em acordo com os seguintes
critérios: 1. Déficit persistente na comunicação e na interação em vários contextos, não
8
relacionado a atrasos gerais do desenvolvimento; 2. Ausência ou dificuldade na reciprocidade
emocional e social; 3. Aproximação social anormal, falha na conversação e compartilhamento
de interesses reduzido; 4. Reprodução de falha na demonstração de emoções e afeto; 5.
Problemas para iniciar uma interação social.
Os indivíduos com esse transtorno exibem comportamento e interesses limitados,
repetitivos e estereotipados, adotando uma rotina previsível e permanente, assim como podem
insistir bruscamente em algo e apresentar anormalidades na postura (APA, 2013). Igualmente
são observados outros aspectos problemáticos, como prejuízos no uso social do contato visual
e compreensão das posturas corporais, além de anormalidade no uso e compreensão do afeto.
Ainda são verificadas perdas na coordenação da comunicação verbal e não verbal e problemas
nas relações sociais, assinaladas por dificuldades na iniciação e manutenção de
relacionamentos apropriados (APA, 2013).
Por não existirem marcadores biológicos, o diagnóstico do autismo é ainda baseado
em critérios comportamentais, pois embora as pesquisas sobre o tema estejam em constante
avanço, a compreensão desse fenômeno não foi inteiramente abrangida (MOURA; SATO;
MERCADANTE, 2005). No entanto, o conhecimento produzido desde a postulação deste
transtorno, há sessenta anos, indica um amplo conjunto de evidências que podem amparar o
diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista.
Para Assumpção Junior (2007), o Transtorno do Espectro Autista engloba uma tríade
de comprometimentos e dificuldades distintas, que podem manifestar-se em conjunto ou
isoladamente. São elas: 1. Dificuldade de comunicação: dificuldade em empregar com sentido
a comunicação verbal e não-verbal, mostrando-se inaptos para conferir valor simbólico aos
gestos, expressões faciais e linguagem corporal; 2. Dificuldade de sociabilização: este fator é
indicado pela literatura como o mais expressivo e representa a inabilidade em relacionar-se
com o outro, demonstrar emoções e sentimentos e discriminar diferentes pessoas. A
preferência pelo isolamento e a arduidade para estabelecer vínculos, resultam em uma
consciência emboprecida do outro, característica comum entre autistas; 3. Dificuldade de usar
a imaginação: é designada pela rigidez nas esferas do pensamento, linguagem e
comportamento. Esse aspecto faz-se notar pela apresentação de comportamentos obsessivos,
dificuldades para aceitar mudanças e em processos que envolvam criatividade.
9
O autismo é nomeado enquanto espectro, devido à ampla variedade clínica observada
em indivíduos com TEA, envolvendo situações e manifestações muito diferentes umas das
outras, numa gradação cujas variabilidades fluem numa crescente, da condição mais leve a
mais grave. Todas, em menor ou maior grau estão relacionadas com as dificuldades de
comunicação e relação social. Segundo Santos (2013), conforme o quadro clínico, o TEA
pode ser classificado em:
A) Autismo clássico: neste quadro, a condição de comprometimento pode variar
amplamente, entretanto, de modo geral, os portadores se encontram voltados para si mesmos,
não estabelecem contato visual com as pessoas ou com o ambiente. Podem falar, porém a fala
não é empregada como ferramenta de comunicação e ainda que logrem compreender
enunciados simples, possuem dificuldade de compreensão, concebendo somente o sentido
literal das palavras e não assimilando metáforas ou duplo sentido. Podem apresentar ecolalia,
ou seja, a repetição mecânica de palavras ou frases. Nas manifestações mais severas,
demonstram ausência total de contato interpessoal. Preferem o isolamento, não retribuem
sorrisos, repetem movimentos estereotipados, e não raro, não reagem ao afeto e ao toque.
B) Autismo de alto desempenho (antiga Síndrome de Asperger): apresentam
dificuldades semelhantes aos outros autistas, mas em proporções reduzidas, mostrando-se
verbais e inteligentes. Quanto menores as dificuldades de interação social, melhor conseguem
conduzir a vida em padrões próximos aos considerados normais.
C) Distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação: estão dentro do
espectro do autismo, porém os sinais e sintomas observados não bastam para inseri-los em
nenhuma das demais categorias do transtorno, tornando o diagnóstico mais complexo.
Em crianças com o transtorno, segundo Williams e Wright (2008), não há a percepção
dos objetos enquanto uma totalidade, porquanto se concentram apenas em partes isoladas do
todo. A criança focaliza em um determinado aspecto do objeto de forma muito concreta, em
lugar de utilizá-lo como um todo, uma vez que tem dificuldade para apreender sua essência e
significado. Desse modo, detalhes, padrões e experiências sensoriais tornam-se alvo de sua
atenção.
Atualmente, se admite a existência de causas plurais para o autismo, entre eles, fatores
genéticos, biológicos e ambientais. No entanto, a cura para o transtorno ainda é desconhecida.
10
Não há um padrão de tratamento que possa ser indicado para todos os portadores do TEA,
haja vista que cada paciente demanda um acompanhamento específico, que requer a
participação da família e de uma equipe profissional multidisciplinar, tendo em vista sua
reabilitação global. Todavia, a literatura científica é unânime em asseverar que crianças
diagnosticadas com TEA exigem uma intervenção precoce, precisa e intensa
(SCHARTZMAN; ASSUMPÇÃO JUNIOR, 1995; ASSUMPÇÃO JUNIOR, 1997; MOURA;
SATO; MERCADANTE, 2005; ASSUMPÇÃO JUNIOR, 2007; SANTOS, 2013; GOMES;
SILVEIRA, 2016; LYRA; RIZZO; SUNAHARA; PACHITO; LATORRACA;
MARTIMBIANCO; RIERA, 2017). Nesse sentido, verifica-se uma predileção pelas
intervenções comportamentais, porquanto se avalia que são aquelas que apresentam melhores
resultados no tratamento do autismo (GOMES, SILVEIRA, 2016; GOMES; SOUZA;
SILVEIRA; OLIVEIRA, 2017)
1.2 Diagnóstico e aspectos biofisiológicos do TEA
Segundo Schwartzman (1994) e Assumpção Junior (2007), o diagnóstico de TEA pode
variar do grau leve ao severo, e é importante que seja realizado por um médico com
experiência nesse transtorno. É feito através da avaliação do quadro clínico, visto que não
existem exames laboratoriais para detectar o transtorno (SCHARTZMAN, 1994;
ASSUMPÇÃO JUNIOR, 2007; APA, 2013)
Comumente, os médicos solicitam testes para averiguar possíveis doenças que
apresentam um quadro semelhante ao autismo, como a síndrome do X-frágil e esclerose
tuberosa. A síndrome do X-frágil é a causa genética mais comum associada ao TEA e está
associada a uma alteração cromossômica que compromete a linguagem e ocasiona problemas
de ordem comportamental (SCHARTZMAN, 1994). Já a esclerose tuberosa é designada pelo
crescimento anormal de células de origem ectodérmica e mesodérmica, que provocam má
formação dos órgãos, sobretudo da pele, rins, coração e sistema nervoso central. Assim,
dificilmente o diagnóstico é concludente antes dos três anos de idade.
No que tange ao processo diagnóstico, Schwartzman (1994) avalia que a ressonância
magnética viabilizou algumas das descobertas mais importantes acerca da estrutura cerebral
de indivíduos com TEA. Pesquisadores observaram que o tamanho dos sexto e sétimo lóbulos
cerebelares eram reduzidos em comparação a outras crianças da mesma idade, anormalidades
11
que desencadeariam redução de funções cognitivas e de atividades automáticas relacionadas
(CABALLO, 2005).
As causas do autismo são ainda incógnitas. Diversos autores consideram que sua
origem esteja em anormalidades no cérebro, possivelmente resultado de um conjunto de
fatores genéticos, biológicos e ambientais (SCHWARTZMAN, 1994; LEBOYER, 1995;
CABALLO, 2005).
Conforme Leboyer (1995), níveis elevados de serotonina podem ser encontrados em
portadores de TEA, e assim, constituir um fator importante em sua etiologia. A serotonina
constitui um neurotransmissor que está envolvido em processos de sono, dor, agressividade e
afetividade, dentre outros. Esse dado sugere a regulação do sistema serotoninérgico como
aspecto significativo da fisiopatologia do autismo infantil (LEBOYER, 1995).
Portanto, para Leboyer (1995), no que se refere às intervenções com medicamentos no
tratamento do TEA, os antipsicóticos neurolépticos atípicos, em comparação com
neurolépticos típicos, parecem apresentar efeitos mais benéficos. São relevantes os relatos de
alterações da função da dopamina e da serotonina em indivíduos com TEA, assim como a
afinidade entre receptores de dopamina e receptores de neurolépticos atípicos, achado que
possibilita experiências com o uso dessas substâncias no tratamento (LEBOYER, 1995).
1.3 TEA sob a perspectiva da Terapia Cognitivo Comportamental e da Análise do
Comportamento
A Terapia Cognitivo Comportamental – TCC, tem apresentado crescimento
significativo nas últimas décadas, despertando a atenção e o interesse de profissionais de
formações diversas. Para Sampaio (2005), a TCC é uma modalidade de psicoterapia
cientificamente validada e efetiva para o tratamento de inúmeros transtornos mentais.
Trata-se de uma terapia direcionada à resolução de problemas. Conforme Serra (2008),
a técnica cognitiva de Beck trouxe alterações no tratamento de alguns transtornos mentais,
visto que o mesmo estabeleceu novos critérios para a avaliação da eficácia das psicoterapias,
incentivando a produção de conhecimento e expandindo as fronteiras da psicoterapia.
Para Serra (2008), a TCC compõe um sistema integrado, que combina um paradigma
de personalidade e de psicopatologia a um paradigma aplicado, reunindo conceitos e técnicas
12
terapêuticas. Consiste em um método semi-estruturado e colaborativo, em que terapeuta e
cliente possuem papel ativo. Por ser diretivo, requer uma definição concreta das dificuldades
do cliente e dos objetivos terapêuticos, tendo em vista a construção de um novo repertório
cognitivo e comportamental. (BECK, 2013).
De acordo com Bahls e Navolar (2004), a finalidade da Teoria Cognitiva é descrever
crenças e conceitos que permeiam certo transtorno, de modo que, quando desencadeados em
determinados contextos, podem mostrar-se inapropriados e disfuncionais. Teóricos pioneiros
na abordagem comportamental como Pavlov, Watson e Skinner, asseveravam que os
psicólogos deveriam deter-se somente ao comportamento observável e mensurável, para
modificá-lo durante a terapia.
Desta forma, Skinner estabeleceu o esquema de reforço, em que se oferecem
recompensas ao sujeito à medida que se comporta da forma desejada. Assim, a terapia
comportamental encontrou na manipulação de comportamentos e variáveis, o pressuposto de
que todo comportamento, tanto os apropriados como os inapropriados são aprendidos
(SKINNER, 1967).
Logo, são os eventos presentes no meio que determinam comportamentos
problemáticos e o que os mantêm. Portanto, um transtorno deve ser analisado segundo um
conjunto de comportamentos determinados pelo histórico do indivíduo, contingências e
situações presentes. Conforme Silvares (2000), a terapia comportamental assevera que cada
sujeito é singular e que suas questões são resultantes de uma história igualmente única. Tal
proposição humaniza o processo terapêutico, haja vista que prioriza a compreensão de cada
pessoa e seu histórico antes de sugerir intervenções.
Os principais instrumentos do terapeuta comportamental são a análise funcional,
sistemas de reforço, condicionamento, modelagem e o levantamento das variáveis
relacionadas aos comportamentos desejados e indesejados do cliente. Desse modo, é possível
delimitar estratégias eficazes para o bem-estar do indivíduo e assim instaurar e aumentar a
frequência de comportamentos adequados (SILVARES, 2000; FERNANDES; AMATO,
2013). Por conseguinte, a abordagem cognitiva refere-se ao trabalho terapêutico sobre os
fatores cognitivos presentes na etiologia de um transtorno, ao passo que a abordagem
comportamental viabiliza a apreensão dos aspectos que os mantém, proporcionando vias para
a modificação de comportamentos inadequados.
13
A TCC sintetiza técnicas e conceitos oriundos das abordagens cognitiva e
comportamental, ambas terapias que apresentam distintas aplicações no tratamento de
transtornos mentais. Desta maneira, Leboyer (1995) reafirma a eficácia da TCC na
intervenção de vários distúrbios, dentre eles o TEA, já que o autismo pode ser apreciado como
uma síndrome comportamental.
1. 4 Programas de tratamento e modelos de intervenção
Segundo Duarte, Schwartzman, Matsumoto e Brunoni (2016), ainda não há nenhum
tratamento que propicie cura definitiva para os sintomas centrais do autismo. Diversas
intervenções terapêuticas foram desenvolvidas, incluindo um amplo leque de fármacos,
medicamentos alternativos e métodos de reabilitação, no entanto, a eficácia alcançada até o
presente é considerada restrita. Muitos pacientes não necessitam de medicação, contudo,
substâncias que atuem em sintomas específicos, como agressividade, agitação e irritabilidade,
podem contribuir em alguns casos, como os estabilizadores de humor, anticonvulsivantes,
antipsicóticos, antidepressivos, entre outras (DUARTE et al, 2016).
Nesse sentido, o uso de psicofármacos não é um tratamento exclusivo, tendo em vista
que junto ao tratamento farmacológico é de grande importância o acompanhamento de uma
equipe multidisciplinar. Schwartzman (1994), Duarte et al (2016) e Lyra et al (2017),
asseveram que, embora não haja cura para o TEA, o tratamento possibilita ao autista uma
melhor qualidade de vida e minimização de danos. Por meio de intervenções terapêuticas
precisas e sistemáticas, há vias para favorecer o desenvolvimento do paciente, melhorando a
comunicação e as habilidades físicas e sociais. Dessa maneira, considera-se essencial um
tratamento que inclua escolas preparadas para receber alunos com TEA, assim como o suporte
dos pais. Observa-se que crianças desenvolvem-se melhor em escolas bem estruturadas e
inclusivas, e que conte com professores treinados e experientes na tratativa do quadro clínico
do autismo (SERRA, 2010; NUNES; SANTOS, 2015; TOGASHI; WALTER, 2016).
Programas comportamentais podem reduzir a irritabilidade, agressividade e rituais,
como também fomentar um desenvolvimento mais adequado. Destarte, Silvares (2000, p.
231) afirma que “a avaliação comportamental é intrinsecamente vinculada ao tratamento”,
uma vez que intervenções exitosas confirmam hipóteses e medidas que não conduzem aos
resultados esperados, propiciam a reformulação de hipóteses e ou procedimentos empregados.
14
Portanto, a avaliação de uma criança autista, deve ser pautada em distintos critérios,
como delimitação de suas capacidades, aspectos fortes e vulneráveis e análise de
comportamento. Existem diversas avaliações empregadas para a classificação dos graus de
TEA e que viabiliza um ponto de partida para verificar o panorama geral do desenvolvimento
da criança (ASSUMPÇÃO JUNIOR, 2007). O histórico familiar e social, o ambiente onde
esta criança se encontra e, sobretudo, seu desenvolvimento cognitivo, precisam ser tomados
em consideração. O terapeuta deve identificar a frequência em que ocorrem comportamentos
adaptativos e disfuncionais, estabelecer objetivos e normas a ser cumpridas, eleger técnicas a
serem executadas e avaliar se o processo e as intervenções propostas apresentam resultados
positivos. Esta avaliação deve ser contínua e é de grande relevância, uma vez que caso a
criança não atinja os avanços esperados, o terapeuta deve rever o programa de intervenção,
quando o mesmo não logra atender a demanda do paciente (SCHWARTZMAN;
ASSUMPÇÃO JUNIOR, 1995; ASSUMPÇÃO JUNIOR, 2007).
O modelo de tratamento é tido como mais importante que o rótulo proporcionado pelo
diagnóstico, embora este tenha sua utilidade, especialmente para os pais, por frequentemente
apaziguar sentimentos de culpa e refrear a procura por novos profissionais. Nesse contexto, a
Terapia Cognitivo-Comportamental oferece meios para que a criança e a família possam
empregar estratégias terapêuticas em seu benefício. Conforme Sampaio (2005), a TCC utiliza
técnicas para manter resultados positivos obtidos na terapia, além de aplicá-las em situações
problema que podem vir a ocorrer. No viés cognitivo-comportamental, através de um manejo
bem executado, é possível obter resultados significativos de melhoria no quadro geral do
espectro, por meio de princípios básicos da TCC, como aprendizagem, reforço e modelação
comportamental (SAMPAIO, 2005).
Para Guilhardi (2001), a intervenção comportamental não deve ser fundada na
descrição clínica do transtorno, mas nos comportamentos apresentados pela criança,
avaliando-se sua funcionalidade, assim como seu desenvolvimento social. Portanto, a função
do psicólogo é estar atento ao processo terapêutico, arrolar os comportamentos emitidos pela
criança e realizar sua análise funcional, objetivando a compreensão do que mantém cada um
desses comportamentos, bem como engendrar um plano de ação eficaz para modificar seu
repertório comportamental (GUILHARDI, 2001; ASSUMPÇÃO JUNIOR, 2007). Por
conseguinte, as técnicas da TCC têm como objetivo proporcionar o desenvolvimento
compatível com as potencialidades e a faixa etária do paciente, tendo em vista promover sua
15
funcionalidade e independência, e por conseguinte, uma maior autonomia e interação com o
meio (BECK, 2013).
Sabe-se que intervenções e métodos educacionais com base na psicologia
comportamental, têm demonstrado reduzir sintomas do TEA e promover uma variedade de
comportamentos adaptativos, habilidades sociais e de comunicação. Esse método de
intervenção e ensino é conhecido como Análise do Comportamento Aplicada ou ABA, sigla
em inglês para Applied Behavior Analysis. Nesse sentido, metodologias de intervenção
ancoradas na ABA tem sido citadas como a única proposta terapêutica que apresenta
resultados cientificamente validados para pessoas com transtorno autístico (GOMES;
SILVEIRA, 2016; GOMES; SOUZA; SILVEIRA; OLIVEIRA, 2017).
De acordo com Fernandes e Amato (2013), programas baseados na ABA demandam a
verificação precisa de fatores ambientais e de sua influência nos comportamentos da criança
com TEA, tendo em vista a identificação dos determinantes do comportamento e dos aspectos
que poderão resultar em sua repetição. Considera-se que tais informações são essenciais para
a formulação e acompanhamento da intervenção.
A ABA pode ser utilizada com o objetivo de construir um repertório comportamental
que se sustente em diferentes ambientes, com diferentes pessoas, gerando inclusão social,
escolar e profissional para a pessoa com autismo, de modo a favorecer a aquisição de
comportamentos inexistentes no repertório e diminuir comportamentos inadaptativos
(FERNANDES; AMATO, 2013; GOMES; SILVEIRA, 2016).
Com pressupostos teóricos igualmente fundamentados na Análise Experimental do
Comportamento, a Comunicação Suplementar e Alternativa - CSA tem sido largamente
utilizada em indivíduos com autismo, em função de seus prejuízos na comunicação expressiva
e receptiva. A CSA compõe um conjunto de práticas clínicas e educacionais que oferecem
vias para comunicação àqueles sem fala funcional. Envolve sinais ou símbolos pictográficos,
ideográficos e arbitrários, a fim de substituir ou suplementar a fala humana, com outras
formas de comunicação (NUNES; SANTOS, 2015; TOGASHI; WALTER, 2016).
Dentre tais sistemas alternativos de comunicação, destaca-se o PECS - The Picture
Exchange Communication System ou Sistema de Comunicação por Troca de Figuras. O
programa foi desenvolvido para crianças com TEA e com déficit severo na comunicação oral,
16
pressupondo que a linguagem é um comportamento como qualquer outro, adquirido a partir
de contingências (MIZEAL; AIELLO, 2013; NUNES; SANTOS, 2015; TOGASHI;
WALTER, 2016). O PECS perfaz um protocolo de ensino desenvolvido em seis fases que
habilita o indivíduo com distúrbios de comunicação a se expressar por meio de um sistema
pictográfico.
O Ministério da Saúde sugere, enquanto tecnologias de cuidado, a aplicação da ABA e
PECS no atendimento de pessoas com TEA, embora enfatize que nenhuma abordagem
terapêutica deva ser privilegiada em detrimento de outras (BRASIL, 2015). Nesse sentido, o
órgão recomenda que a escolha da intervenção seja pautada por sua efetividade e segurança,
assim como pela especificidade de cada caso. A despeito disso, o documento não discute
medidas de eficácia dos modelos de tratamento propostos, reafirmando a relevância e a
pertinência do objetivo do presente estudo, haja vista que a complexidade do transtorno em
questão demanda intervenções sistemáticas, precisas, e, sobretudo, efetivas.
17
2. MÉTODO
2.1 MATERIAL
Foram utilizados artigos científicos, publicados em português ou inglês, com o
objetivo de fazer uma pesquisa bibliográfica.
2.2. PROCEDIMENTOS
Realizou-se a busca de artigos indexados na base de dados eletrônica Scientific
Electronic Library Online – SciELO. Após a seleção da base de dados, foram definidos os
seguintes descritores: “transtorno autístico”; “transtorno do espectro autista” e “autismo”.
Os critérios de inclusão dos artigos foram: (a) abordar o TEA e suas modalidades de
intervenção psicológica sob uma ótica cognitiva-comportamental e/ou
analítica/comportamental, (b) estar publicado nos idiomas português e/ou inglês (c) estar
disponível na íntegra na base de dados na modalidade de artigo científico e (d) ter sido
publicado no período de 01/01/2013 até 31/10/2017. Foram excluídos os artigos que não
apresentavam modelos de tratamento para o transtorno.
Inicialmente foram encontrados 221 artigos. Os artigos em duplicidade foram
eliminados restando 98 artigos, cujos resumos foram lidos para selecionar somente aqueles
que atendessem aos critérios de inclusão descritos. Quando a leitura do título e resumo não se
mostrava suficiente para determinar sua inclusão, procedia-se à leitura do artigo completo.
Um total de 92 artigos foram removidos após a leitura dos resumos, restando seis finais que
foram lidos na íntegra, como apresentado na Tabela 1.
Tabela 1. Artigos selecionados para análise
Bases de Dados Total artigos
encontrados
Total artigos
selecionados
Autores
Scielo 221 06 Lyra, Larissa; Rizzo, Luiz Eduardo;
Sunahara, Camila Sá; Pachito,
Daniela Viana; Latorraca, Carolina de
Oliveira Cruz; Martimbianco, Ana
Luiza Cabrera; Riera, Rachel, 2017
18
Tabela 1. Artigos selecionados para análise
Bases de Dados Total artigos
encontrados
Total artigos
selecionados
Autores
Scielo 221 06 Gomes, Camila Graciella Santos;
Souza, Deisy das Graças; Silveira,
Analice Dutra; Oliveira, Inaiara
Marprates, 2017
Togashi, Claudia Miharu; Walter,
Catia Crivelenti de Figueiredo, 2016
Nunes, Débora Regina de Paula;
Santos, Larissa Bezerra, 2015
Mizael, Táhcita Medrado; Aiello,
Ana Lucia Rossito, 2013
Fernandes, Fernanda Dreux Miranda;
Amato, Cibelle Albuquerque de La
Higuera, 2013
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os seis artigos elegíveis segundo os critérios de inclusão estabelecidos para esse
estudo tiveram seus resultados apresentados e analisados a seguir.
Em revisão sistemática da literatura sobre modelos de terapia baseadas na ABA para
pessoas com autismo, Fernandes e Amato (2013) analisaram 52 artigos científicos e
deduziram que não há evidência suficiente para afirmar a eficácia da ABA sobre outros
dispositivos terapêuticos. Nesse contexto, as autoras apresentaram duas meta-análises que
somavam 200 participantes e cujos resultados indicavam que a ABA não apresentava
vantagens significativas em comparação a outros programas de tratamento (CALLAHAN;
SHUKLA-MEHTA; MAGEE; WIE, 2010 apud FERNANDES; AMATO, 2013).
Uma terceira pesquisa que revisou cinco estudos de meta-análise sobre Intervenção
Comportamental Intensiva - modelo que se baseia nos princípios da ABA, identificou
limitações em tais estudos, dada à inconsistência das descrições metodológicas e das
intervenções realizadas (REICHBOW, 2012 apud FERNANDES; AMATO, 2013). Sete
19
artigos apontaram que as intervenções aplicadas eram controversas, caras e dependentes de
variáveis externas, como o meio e a interação com medicamentos, asseverando assim, a
relevância da execução de estudos acerca de tais modelos terapêuticos (VISMARA;
ROGERS, 2010; ODOM; BOYD; HALL; HUME, 2010 apud FERNANDES; AMATO,
2013). Ademais, três revisões apresentavam posições contrárias ao emprego da ABA como
principal proposta de intervenção para pessoas com TEA, por avaliá-la ineficaz e sem
fundamentação científica (BOYD; MCDONOUGH; BODFISH, 2012 apud FERNANDES;
AMATO, 2013).
Três artigos relataram resultados exitosos decorrentes da utilização da ABA, sobretudo
em modelos de intervenção precoce intensiva, no entanto, esses estudos não incluíam grupos
controle (HAELY; KENNY; LEADER; O’CONNOR, 2008; ELDEVIK; HASTINGS; JAHR;
HUGHES, 2012; GRINDLE; HASTINGS; SAVILLE; HUGHES; HUXLEY; KOVSHOFF,
2012 apud FERNANDES; AMATO, 2013). No que se refere à relação entre a quantidade de
horas de treinamento e os resultados obtidos, descritos como exitosos em todos os casos, são
citadas por 12 artigos, perfazendo um total de 182 participantes. Somente um estudo, com seis
participantes, verificou que um programa de uma hora semanal de intervenção proporcionava
resultados satisfatórios (VISMARA; COLOMBI; ROGERS, 2009 apud FERNANDES;
AMATO, 2013). Outros dez artigos, que comparavam os resultados de intervenções com
abordagem ABA a diferentes metodologias terapêuticas e que compreendiam um total de 453
participantes, não observaram diferenças expressivas dentre os resultados.
Em seu estudo, Fernandes e Amato (2013) chegaram à mesma conclusão de outras
revisões de literatura no que tange à eficácia da ABA, ou seja, não há evidências que possam
sustentar sua superioridade em relação a outras abordagens terapêuticas. Além disso, os
autores ressaltaram que, para que uma proposta de intervenção possa ser avaliada mais eficaz
que outras, é fundamental a execução de estudos controlados, com casuística relevante e
critérios precisos de inclusão e de análise dos resultados, aspectos que, a despeito de sua
importância, não foram averiguados em expressiva parcela das pesquisas revisadas.
Gomes, Souza, Silveira e Oliveira (2017), em estudo que objetivou avaliar os efeitos
do primeiro ano de Intervenção Comportamental Intensiva no desenvolvimento de nove
crianças com autismo, identificou ganhos no desenvolvimento dos participantes, exceto na
área de desempenho cognitivo verbal. Nesse sentido, as autoras assinalam que os resultados
obtidos no estudo convergem com a literatura levantada, que indica benefícios decorrentes
20
dessa modalidade de intervenção no desenvolvimento de crianças com TEA, sobretudo
quando iniciada em idade inferior a 48 meses. No entanto, igualmente salientam a relevância
de replicações com delineamentos experimentais mais rigorosos, apesar dos fatores que
podem obstar a realização deste tipo de pesquisa, como a longa duração, de dois anos ou mais,
o difícil controle de variáveis e o alto custo de execução.
As autoras concluem o estudo apresentando a necessidade de novas investigações,
com número maior de participantes e melhor controle experimental, assim como avaliação
dos efeitos em longo prazo das intervenções aplicadas (GOMES; SOUZA; SILVEIRA;
OLIVEIRA, 2017). Uma vez que a literatura recomenda que intervenções comportamentais
intensivas devam ocorrer por dois anos ou mais, e este estudo contou somente com a análise
de dados do primeiro ano de intervenção, Gomes et al (2017) sugerem a continuidade da
pesquisa para análise de seus efeitos a longo prazo.
O estudo de revisão conduzido por Lyra et al (2017), que teve por finalidade sintetizar
as evidências de revisões sistemáticas sobre intervenções para TEA, avaliou 17 revisões que
encontraram evidências fracas de benefícios para a intervenção comportamental intensiva
precoce, a intervenção precoce mediada pelos pais, os grupos de habilidades sociais e o
modelo cognitivo de Teoria da Mente.
No que se refere ao emprego da intervenção comportamental intensiva precoce, foram
encontrados efeitos positivos para o comportamento adaptativo, o quociente de inteligência, a
linguagem expressiva, o idioma receptivo, as habilidades de comunicação e de socialização
(REICHOW; BARTON; BOYD; HUME, 2012 apud LYRA et al, 2017). Os autores
concluíram que havia alguma evidência de que a intervenção comportamental intensiva era
eficaz para crianças portadoras de TEA. Contudo, Lyra et al (2017) consideraram que o
estado atual da evidência era limitado, uma vez que os dados eram provenientes de estudos
não randomizados.
A intervenção precoce mediada pelos pais consiste em uma abordagem que auxilia os
pais a desenvolver estratégias de interação e de gerenciamento de comportamentos, que
podem ser úteis em casos de autismo. Lyra et al (2017) incluíram 17 estudos clínicos
randomizados que totalizavam 919 crianças portadoras de transtorno autístico. Embora não
tenham sido encontrados benefícios na linguagem e comunicação, comportamento adaptativo
da criança e estresse dos pais, foram observados ganhos estatisticamente significativos em
21
padrões de interação pais-filho, atenção compartilhada e sincronia dos pais, assim como
evidências sugestivas de melhoria na compreensão do vocabulário infantil relatadas pelos pais
e redução da gravidade dos sintomas de autismo.
Haja vista que dificuldades nas interações sociais configuram uma importante
característica de indivíduos com TEA, a inclusão em grupos de habilidades sociais mostrou
melhorar a competência social geral (LYRA et al, 2017). Entretanto, não foram encontradas
ganhos quanto ao reconhecimento emocional, à comunicação social em relação ao
entendimento idiomático ou depressão infantil e parental. Portanto, nas revisões analisadas,
Lyra et al (2017) concluíram que havia alguma evidência de que grupos de habilidades sociais
podem melhorar a competência social de crianças e adolescentes com transtorno autístico.
Apesar disso, asseveraram ser necessárias pesquisas adicionais para chegar a conclusões mais
robustas, especialmente no que tange a melhorias na qualidade de vida de pessoas com TEA.
Finalmente, Lyra et al (2017) abordam a aplicação do modelo cognitivo da Teoria da
Mente - ToM em indivíduos com TEA. A Teoria da Mente pressupõe a habilidade para
atribuir estados mentais, como emoções, sentimentos, crenças e pensamentos ao outro, e
assim, predizer seu comportamento através destas atribuições. Em revisão que incluiu 22
estudos clínicos randomizados e que totalizaram 695 participantes, foi verificada evidência de
algum benefício para interação social e comunicação geral, bem como efeitos positivos no
que se refere ao reconhecimento de emoções entre grupos etários e no trabalho com pessoas
dentro da faixa média de habilidade intelectual (FLETCHER-WATSON; MCCONNELL;
MANOLA; MCCONACHIE, 2014 apud LYRA et al, 2017). Os autores da revisão
concluíram que havia alguma evidência de que o ensino de ToM a indivíduos com autismo
pode apresentar benefícios, entretanto, salientaram que se tratam de evidências de baixa ou
muito baixa qualidade, o que reduz a fidedignidade destes achados.
Lyra et al (2017) assinalam que não obstante a crescente prevalência de TEA, ainda há
poucas revisões sistemáticas e escassez de estudos randomizados de alta qualidade abordando
intervenções para o transtorno. Nesse contexto, destacam que nenhum dos estudos analisados
na revisão forneceu evidências de alta qualidade, e de modo geral, as revisões incluíam uma
qualidade metodológica restrita, amostras limitadas e resultados mensurados à curto prazo.
Contudo, os autores frisam que a intervenção comportamental intensiva precoce, a
intervenção precoce mediada pelos pais, o grupos de habilidades sociais e o modelo cognitivo
Teoria da Mente apresentam alguns efeitos benéficos com poucos eventos adversos, ainda que
22
baseadas em evidências de baixa qualidade. Igualmente acrescentam que estudos clínicos
randomizados adicionaram novas evidências de que, para crianças até três anos, a intervenção
precoce pode melhorar os resultados. Finalmente, expõem a importância de que a aplicação de
qualquer destas intervenções seja discutida com pacientes, pais e cuidadores, a fim de
esclarecer as incertezas quanto aos resultados, ao tempo e aos custos.
Togashi e Walter (2016), em estudo que objetivou verificar a continuidade do uso do
sistema PECS por um aluno com TEA e sua professora, em escola da Rede de Ensino do
Município do Rio de Janeiro, indicaram que o uso da CSA apresenta resultados positivos para
favorecer a comunicação e linguagem de pessoas com TEA. As autoras concluem o estudo
afirmando que, embora tenha sido pouco empregado na sala de aula regular, o sistema PECS
possibilitou a comunicação do aluno com a professora e estagiária. Assim, em virtude dos
prejuízos na interação com os pares, fator que pode dificultar o processo de inclusão de
indivíduos com TEA em ambiente escolar, Togashi e Walter (2017) colocam que a CSA pode
configurar uma importante ferramenta a ser utilizada na inclusão de alunos com autismo.
Nunes e Santos (2015), empreenderam um estudo que visou avaliar a eficácia de uma
adaptação do protocolo PECS e das estratégias do Aided Modeling Intervention – AMI,
ambos sistemas alternativos de comunicação, ao desenvolvimento da comunicação de uma
criança com TEA de cinco anos. Segundo as autoras, os resultados obtidos foram
promissores, haja vista que ao decurso do processo, que teve uma professora como agente de
intervenção, mudanças expressivas foram observadas em seu comportamento, que passou a
oferecer ferramentas para que o aluno se comunicasse com ela, como também a incitar
iniciativas de interação da criança. Tais ações produziram efeitos positivos no aluno, que
tornou-se mais responsivo e passou a comunicar-se com a professora através de pictogramas.
As autoras expuseram que apesar de algumas revisões sugerirem que o sistema PECS
consiste em uma prática validada empiricamente, outras pesquisas reiteram a necessidade de
mais estudos na área. Nesse sentido, Nunes e Santos (2015) afirmam que os efeitos do PECS
na redução de comportamentos disfuncionais não foram consistentes em diversos estudos
analisados e que em contraposição aos achados de Bondy e Frost, criadores do mencionado
sistema, sua utilização nem sempre resultou no desenvolvimento da oralidade dos
participantes com TEA. Ainda, salientam que no Brasil, são escassos os estudos sobre o uso
do PECS ou outros protocolos que ensinem a comunicação expressiva ou receptiva por meio
de trocas de figuras para pessoas com autismo. Finalmente, as autoras ressaltam que, a
despeito dos resultados positivos obtidos em seu estudo, a mera exposição de portadores de
23
TEA aos recursos da CSA podem ser pouco eficazes para o desenvolvimento de novas formas
de expressão (NUNES; SANTOS, 2015).
Mizael e Aiello (2013), em estudo que teve por objetivo revisar as literaturas nacional
e estrangeira sobre o uso do PECS enquanto recurso de ensino de linguagem a pessoas com
transtorno autístico e problemas na fala, assinalaram que embora existam diferentes
programas de CSA para esse público, ainda não há um manual para profissionais que sugira
qual sistema de comunicação é mais eficaz para portadores de TEA.
As autoras encontraram duas revisões sistemáticas estrangeiras sobre intervenções
com PECS. Uma das pesquisas analisou 27 estudos e demonstrou que, não obstante haja
diversos artigos que apresentassem dados inconclusivos para uma análise completa dos
benefícios do PECS, os estudos denotaram que o PECS pode ser efetivo para pessoas com
TEA e que os ganhos na comunicação são significativos (PRESTON; CARTER, 2009 apud
MIZAEL; AIELLO, 2013). No entanto, a falta de pesquisas que contenham um controle
experimental claro e que empreguem ensaios de controle randomizado, ocasionam a
imprecisão dos resultados e inviabiliza corroborar que os efeitos positivos relatados foram
decorrentes do uso do PECS e não oriundos de outros fatores.
A segunda revisão analisada por Mizael e Aiello (2013), foi uma meta-análise
composta por 11 artigos, que indicou aumento na comunicação dos participantes e indicou
que o PECS é oportuno enquanto prática baseada em evidências (FLIPPIN; RESKA;
WATSON, 2010 apud MIZAEL; AIELLO, 2013).
No tocante à literatura nacional, foram encontrados seis artigos, que de modo geral,
apontam a eficácia do PECS e do PECS-Adaptado no ensino da comunicação funcional
(MIZAEL; AIELLO, 2013).
Portanto, segundo as autoras, os resultados das pesquisas analisadas assinalam que o
PECS, em conformidade com a literatura levantada, apresentou-se como um método efetivo
de ensino de linguagem. O PECS foi efetivo na produção de troca de figuras empreendida de
modo independente, aumentando a quantidade de vocalizações com intenção comunicativa e
fala funcional, assim como reduzindo comportamentos problemáticos (MIZAEL; AIELLO,
2013). Todavia, informações sobre o que é preciso para obter sucesso nas diferentes fases do
PECS e quais aspectos da prática devem ser salientados para propiciar a comunicação ainda
permanecem vagos.
24
Mizael e Aiello (2013) destacaram que, não obstante haja provas preambulares
indicando a eficácia do PECS, o número reduzido de estudos e participantes, sobretudo no
contexto brasileiro, assim como limitações metodológicas observadas nas revisões analisadas,
como pesquisas que não relataram a duração do estudo e o setting utilizado, que não
empregaram medidas padronizadas para avaliar as habilidades dos participantes antes das
intervenções, que não relataram dados de fidedignidade do procedimento e da validade social
da pesquisa, assim como não informaram dados sobre manutenção e generalização dos ganhos
obtidos, e tampouco o delineamento de pesquisa empregado, constituem fatores que impedem
legitimar o PECS enquanto um fator de linguagem gestual e vocal para sujeitos autistas.
Destarte, as autoras sugerem a continuidade de pesquisas na área.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre o
Transtorno do Espectro Autista e apresentar evidências de eficácia dos principais modelos de
intervenção psicológica para seu tratamento. A análise da literatura sobre o tema indicou que
não há consenso entre a comunidade científica acerca de quais procedimentos terapêuticos são
mais promissores para o tratamento do autismo. Conforme apontado, diversos autores
argumentam que propostas de intervenção ancoradas na ABA, embora habitualmente
mencionada como a única metodologia cientificamente comprovada para o cuidado com o
TEA, apresentam evidências inconclusivas e baseadas em estudos não controlados, e não raro,
de baixa qualidade metodológica. Entretanto, ainda que possam ser verificados resultados
benéficos decorrentes de seu uso, assim como de outras intervenções fundamentadas na
análise do comportamento e TCC, os achados podem não ser considerados fidedignos do
ponto de vista científico, pelas razões expostas.
De maneira semelhante, no que se refere ao emprego da Comunicação Suplementar e
Alternativa, em especial o PECS, não obstante os indícios favoráveis demonstrados em alguns
estudos, o baixo rigor metodológico observado em tais pesquisas pode contribuir para com a
imprecisão dos resultados obtidos.
A despeito das divergências quanto às intervenções mais eficazes para o tratamento do
TEA, destaca-se a unanimidade entre os autores estudados quanto à importância do
25
diagnóstico e intervenção precoces, tendo em vista a reabilitação global da pessoa com
autismo e a melhoria de sua qualidade de vida.
No contexto brasileiro, em que se observa que o diagnóstico e o acesso a serviços de
saúde especializados são ainda exíguos, tornam-se prementes os financiamentos a pesquisas
de alta qualidade metodológica sobre o tema, aspecto fundamental para validar evidências
encontradas. Finalmente, a capacitação e o aperfeiçoamento de profissionais que atuam na
área são fatores igualmente relevantes para modificar o atual cenário do cuidado ao autismo
no Brasil.
26
REFERÊNCIAS
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003.
ASSUMPÇÃO JR. F. B. Autismo Infantil: Novas tendências e perspectivas. São Paulo:
Atheneu, 2007.
______. Transtornos Invasivos do Desenvolvimento Infantil. São Paulo: Lemos Editora,
1997.
BECK, J. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 2013.
BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.
Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo.
Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com Transtornos do
Espectro do Autismo e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de
Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.
BOYD, B. A.; MCDONOUGH, S. G.; BODFISH, J. W. Evidence-based behavioral
interventions for repetitive behaviors in autism. Journal of Autism and Developmental
Disorders, New York, v. 42, n. 6, p. 1236-1248, 2012.
CABALLO, V. E. Manual de psicologia clínica infantil e do adolescente: transtornos
gerais. São Paulo: Santos, 2005.
CALLAHAN, K.; SHUKLA-MEHTA; S.; MAGEE; S.; WIE, M. ABA versus TEACCH: the
case for defining and validating comprehensive treatment models in autism. Journal of
Autism and Developmental Disorders, New York, v. 40, p. 74-78, 2010.
DUARTE, C. P.; SCHWARTZMAN, J. S.; MATSUMOTO, M. S.; BRUNONI, D.
Diagnóstico e Intervenção Precoce no Transtorno do Espectro do Autismo: Relato de um
Caso. In: CAMINHA, V. L.; HUGUENIN, J.; ASSIS, J. M.; ALVES, P. P. (Org.) Autismo:
Vivências e Caminhos. São Paulo: Blucher, 2016. p. 46-56.
27
ELDEVIK, S.; HASTINGS, R. P.; JAHR, E.; HUGHES, J. C. Outcomes of behavioral
intervention for children with autism in mainstream pre-school settings. Journal of Autism
and Developmental Disorders, New York, v. 42, n. 2, p. 210-220, 2012.
FERNANDES, F. D. M.; AMATO, C. A. H. Análise de Comportamento Aplicada e
Distúrbios do Espectro do Autismo: revisão de literatura. CoDAS, São Paulo , v. 25, n. 3, p.
289-296, 2013. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S231717822013000300016&lng=pt
&nrm=iso>. Acesso em: 01 nov. 2017.
FLETCHER-WATSON, S.; MCCONNELL, F.; MANOLA, E.; MCCONACHIE, H.
Interventions based on the Theory of Mind cognitive model for autism spectrum disorder
(ASD). Cochrane Database Syst Ver, 2014.
FLIPPIN, M.; RESKA, S.; WATSON, L. R. Effectiveness of the Picture Exchange
Communication System (PECS) on Communication and Speech for Children With Autism
Spectrum Disorders: A Meta-Analysis. American Journal of Speech-Language Pathology,
Rockville, v.19, n.2, p.178-195, 2010.
GOMES, C. G. S.; SILVEIRA, A. D. Ensino de Habilidades Básicas para pessoas com
autismo: manual para intervenção comportamental intensiva. Curitiba: Appris, 2016.
GOMES, C. G. S.; SOUZA, D. G.; SILVEIRA, A. D.; OLIVEIRA, I. M. Intervenção
Comportamental Precoce e Intensiva com Crianças com Autismo por Meio da Capacitação de
Cuidadores. Revista brasileira de educação especial, Marília, v. 23, n. 3, p. 377-390, set.
2017. Disponível em <http:// http://scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141365382017000300377&lng=pt&nrm=
iso>. Acessos em: 01 nov. 2017.
GRINDLE, C. F.; HASTINGS, R. P.; SAVILLE, M.; HUGHES, J.C.; HUXLEY, K.;
KOVSHOFF, H. Outcomes of a behavioral education model for children with autism in a
mainstream school setting. Behavior Modification, Baltimore, v. 36, n. 3, p. 298-319, 2012.
GUILHARDI, H. J. Sobre comportamentos e cognição: expondo a variabilidade. Santo
André: Esetec, v. 9, 2001.
HAELY, C.; KENNY, M.; LEADER, K.; O'CONNOR, J.. Three years of intensive applied
behavior analysis: a case study. Journal of Early and Intensive Behavioral Intervention,
Philadelphia, v. 5, n. 1, p. 4-23, 2008.
28
LEBOYER, M. Autismo infantil: fatos e modelos. São Paulo: Papirus, 1995.
LYRA, L.; RIZZO, L. E.; SUNAHARA, C. S.; PACHITO, D. V.; LATORRACA, C. O. C.;
MARTIMBIANCO, A. L. C.; RIERA, R. What do Cochrane systematic reviews say about
interventions for autism spectrum disorders?. Sao Paulo Medical Journal, São Paulo , v.
135, n. 2, p. 192-201, abr. 2017. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
31802017000200192&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 07 nov. 2017.
MATTOS, L. K.; NUREMBERG, A. H. Reflexões sobre a inclusão escolar de uma criança
com diagnóstico de autismo na educação infantil. Revista de Educação Especial, Santa
Maria, v. 24, n. 39, p. 129-142, jan./abr. 2011.
MIZAEL, T. M.; AIELLO, A. L. R. Revisão de estudos sobre o Picture Exchange
Communication System (PECS) para o ensino de linguagem a indivíduos com autismo e
outras dificuldades de fala. Revista brasileira de educação especial, Marília , v. 19, n. 4, p.
623-636, dez. 2013. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
65382013000400011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 01 nov. 2017.
MOURA, P. J.; SATO, F. ; MERCADANTE, M. T. Bases Neurobiológicas do Autismo:
Enfoque no domínio da sociabilidade. Caderno de Pós Graduação em Distúrbios do
Desenvolvimento. Universidade Presbiteriana Mackenzie. 2005.
NUNES, D. R. P.; SANTOS, L. B. Mesclando práticas em Comunicação Alternativa: caso de
uma criança com autismo. Psicologia Escolar e Educcacional, Maringá, v. 19, n. 1, p. 59-
69, abr. 2015. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141385572015000100059&lng=pt
&nrm=iso>. Acesso em: 01 nov. 2017.
ODOM, S.L.; BOYD, B. A.; HALL, L. J.; HUME, K. Evaluation of comprehensive treatment
models for individuals with autism spectrum disorders. Journal of Autism and
Developmental Disorders, New York, v. 42, n. 2, p. 425-436, 2010.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de Transtornos Mentais e de
Comportamento da CID–10. Porto Alegre: Artmed, 1993.
29
PAULA C. S.; RIBEIRO S. H.; FOMBONNE E.; MERCADANTE M. T. Brief report:
Prevalence of pervasive developmental disorder in Brazil: A pilot study. Journal ao Autism
and Development Disorders. v. 41, n. 12, p. 1738–1742, 2011.
PIRES, F. G.; SOUZA, C. P. M. C. P. A terapia cognitivo-comportamental no universo do
autismo. Sem data. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) –
Centro Universitário de Várzea Grande, Várzea Grande, sem data. Disponível em: <
http://docplayer.com.br>. Acesso em 26 set. 2017.
PRESTON, D.; CARTER, M. A Review of the Efficacy of the Picture Exchange
Communication. Journal of Autism and Developmental Disorders, New York, v.39, n.10,
p.1471-1486, 2009.
REICHOW, B. Overview of meta-analyses on early intensive behavioral intervention for
young children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental
Disorders, New York, v. 42, n. 3, p. 512-520, 2012.
REICHOW, B.; BARTON, E. E.; BOYD, B. A;, HUME, K. Early intensive behavioral
intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). Cochrane
Database Syst Ver, 2012.
SAMPAIO, A. S. Hiperatividade e terapia cognitivo-comportamental: uma revisão de
literatura. MJ Mas Neuropediatria, Catalunha. Disponível em
<http://www.neuropediatria.org.br/artigos/artigomes/hiperatividade.htm>. Acesso em 26 set.
2017.
SANTOS, N. P. O desenvolvimento intelectual da criança com autismo e o método
TEACCH. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Licenciatura em Pedagogia.
Faculdade Método de São Paulo, 2013
TOGASHI, C. M.; WALTER, C. C. F. As Contribuições do Uso da Comunicação Alternativa
no Processo de Inclusão Escolar de um Aluno com Transtorno do Espectro do
Autismo. Revista brasileira de educação especial, Marília, v. 22, n. 3, p. 351-366, set.
2016. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
65382016000300351&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 01 nov. 2017.
SCHWARTZMAN, J. S. Autismo infantil. Brasília: CORDE, 1994.
SCHWARTZMAN, J. S.; ASSUMPÇÃO JR. F. B. - Autismo Infantil. São Paulo: Mennon
Editora, 1995.
30
SERRA, D. Sobre a inclusão de alunos com autismo na escola regular: quando o campo é
quem escolhe a teoria. Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 1 n. 2, p. 163-176, jul./dez. 2010.
SILVARES. E. F. M. Estudos de caso em psicologia clínica comportamental infantil.
Campinas: Papirus, 2000.
SKINNER, B.F. Ciência e Comportamento Humano. Brasília: Ed. Universidade de
Brasília, 1967.
VISMARA, L. A.; COLOMBI, C.; ROGERS, S. Can one hour per week of therapy lead to
lasting changes in young children with autism? Autism, v. 13, n. 1, p. 93-115, 2009.
VISMARA, L. A.; ROGERS, S. Behavioral treatments in Autism Spectrum Disorder: what
do we know? Annual Review of Clinical Psychology, Palo Alto, v. 6, p. 447-68, 2010.
WILLIAMS, C.; WRIGHT. B. Convivendo com autismo e síndrome de asperger:
estratégias práticas para pais e profissionais. São Paulo: M. Books do Brasil, 2008.