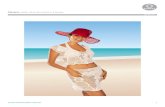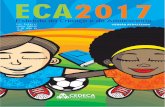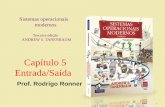CEDECA Saida Miolo
-
Upload
mitterrand-belmino -
Category
Documents
-
view
77 -
download
1
Transcript of CEDECA Saida Miolo
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
NDICE
PREFCIO CRIANA E ADOLECENTE. PRIORIDADE ABSOLUTA, DE FATO E DE DIREITO. INTRODUO BREVE DESCRITIVO DOS ARTIGOS
SUAS OBRAS TM QUE CONTINUAR. CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA E LUIZ FERNANDO MENDES DE ALMEIDA A LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANAS E ADOLESCENTES NO BRASIL: A EXPERINCIA DA ANCED. MARGARIDA MARQUES QUASE DE VERDADE: DIREITOS HUMANOS E ECA, 18 ANOS DEPOIS. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA E ANA CHRISTINA BRITO LOPES DIREITOS HUMANOS NO SCULO XXI: AS ALGEMAS E OS SONHOS. SERGIO VERANI O 60 ANIVERSRIO DA DECLARAO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS DAS NAES UNIDAS. VANESSA OLIVEIRA BATISTA 20 DE NOVEMBRO: ALM DE ZUMBI, TEMOS UM OUTRO A COMEMORAR. RICARDO DE PAIVA E SOUZA SITUAO DA INFNCIA E ADOLESCNCIA NO BRASIL DE HOJE: INSEGURANA SOCIAL. POBREZA, DESIGUALDADES E TERRITORIALIDADE. WANDERLINO NOGUEIRA NETO NO-CRIMINALIZAO & IMPUNIDADE. SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS. WANDERLINO NOGUEIRA NETO18 ANOS DO ECA; 19 ANOS DA CONVENO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANA; 20 ANOS DA CONSTITUIO; 20 ANOS DO CEDECA-DOM LUCIANO MENDES; 60 ANOS DA DECLARAO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS E 120 ANOS DA ABOLIO DA ESCRAVATURA.
LIGIA COSTA LEITE OS 120 ANOS DA ABOLIO DA ESCRAVIDO. GILDA ALVES BATISTA DIREITO HUMANO ALIMENTAO E NUTRIO SUSTENTVEL. LEONARDO FELIPE DE OLIVEIRA RIBAS A DEMOCRACIA NO ORAMENTO PBLICO THIAGO MARQUES A PRODUO DE CRIANAS E JOVENS PERIGOSOS: A QUEM INTERESSA? CECLIA M. B. COIMBRA MARIA LVIA DO NASCIMENTO PROMESSAS QUEBRADAS. IRENE KHAN UM ENCONTRO COM CRIANAS E ADOLESCENTES QUE ESTO NAS RUAS RELATO DE UMA EXPERINCIA INSTITUCIONAL. MNICA DE ALKMIM MOREIRA NUNES A REFORMA DAS PRISES, A LEI DO VENTRE LIVRE E A EMERGNCIA DA QUESTO DO MENOR ABANDONADO. ESTHER MARIA DE MAGALHES ARANTES BREVES NOTAS SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA DE INTERNAO. RAFAEL CAETANO BORGES
PREFCIO
Criana e adolescente. Prioridade absoluta, de fato e de direito.A cidadania o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos no um dado. um construdo da convivncia coletiva, que requer o acesso ao espao pblico. este acesso ao espao pblico que permite a construo de um mundo comum atravs do processo de assero dos direitos humanos. (Hannah Arendt)
Esta publicao resulta do esforo em socializar reexes sobre os direitos humanos de todas e todos, e de uma tentativa de sistematizao que permita questionar, confrontar a nossa prpria prtica, superando o ativismo. igualmente um dilogo entre saberes: uma articulao criadora entre o saber cotidiano e os conhecimentos tericos, que se alimentam mutuamente.1 No ano de 2007, companheiras e companheiros atuantes em diversas reas de conhecimento contriburam com preciosas reexes sobre as consequncias perigosas de uma eventual reduo da maioridade penal no Brasil. Essa adeso possibilitou o lanamento da publicao intitulada A reduo da maioridade penal vai resolver o problema da violncia? Neste ano de 2009 celebram-se os 16 anos da Conferncia de Viena (1993), os 21 anos da Constituio da Repblica, os 61 anos da Declarao Universal dos Direitos Humanos (1948), os 41 anos da raticao brasileira Conveno Internacional sobre a Eliminao de Todas as Formas de Discriminao Racial (1968), os 19 anos do Estatuto da Criana e do Adolescente (1990), 20 anos da Conveno Internacional pelos Direitos das Crianas (1989), dentre outros aniversrios, como os 121 anos da dita abolio da escravido (1988). Em 2009 comemoramos tambm os 15 anos da ANCED Associao Nacional dos Centros de Defesa da Criana e do Adolescente, os 25 anos da Associao Benecente So Martinho (1984) e os 21 anos do CEDECA D. Luciano Mendes de Almeida (1988). Estas so conquistas signicativas no contexto da luta pela efetivao dos direitos humanos, pois so marcos que simbolizam admirveis avanos na compreenso da necessidade do respeito dignidade do ser humano. Do ponto de vista legal, o sistema de garantias avanou muito, porm ainda resta um grande abismo entre o disposto pela norma e a realidade concreta experimentada por milhares de crianas e adolescentes. Persiste arraigada no imaginrio social uma ideia distorcida sobre os direitos humanos de crianas e adolescentes, sendo comum a reproduo de jarges do tipo: l vem o pessoal do direitos humanos, crianas e adolescentes s tm direitos, no tm deveres, criana agora pode fazer tudo, o estatuto permite, ou depois do estatuto, os pais e professores perderam o controle sobre as crianas, o estatuto uma lei de primeiro mundo e ainda, direitos humanos s defende bandido ou direitos humanos para humanos direitos. Lembramos tambm do fenmeno da criminalizao da pobreza e dos movimentos sociais e das constantes represlias e ameaas que os defensores de direitos humanos ainda sofrem em seu cotidiano. Ao senso comum, o termo direitos humanos parece representar um lugar, um grupo de pessoas, o pessoal dos direitos humanos, que s aparece em situaes muito restritas e que no reconhecido como parte integrante da sociedade e da prtica cotidiana de luta pela garantia da dignidade da vida. Todas e todos so titulares dos direitos humanos e, portanto, responsveis por sua promoo. Os exemplos de atuao nesse sentido so inmeros: o mdico no atendimento humanitrio ao paciente, os agentes de segurana pblica no cumprimento estrito da lei e na relao com as comunidades, a professora na relao respeitosa com seus alunos e colegas, as organizaes sociais, pastorais, grupos de proteo do meio ambiente e do desenvolvimento sustentvel, o poder pblico na elaborao dos oramentos e polticas pblicas, pais na relao afetuosa com seus lhos e as prprias crianas e adolescentes ao vivenciarem experincias concretas de respeito aos direitos humanos. Com esse esprito, renovamos nosso convite aos parceiros e parceiras, e a aceitao foi imediata. As reexes feitas por articulistas de diversas reas do conhecimento apresentadas nesta publicao perpassam as mais diversas vertentes dos direitos humanos.1 HOLLIDAY, Oscar Jara. Para Sistematizar Experincias. P.44
INTRODUO
BREVE APRESENTAO DOS ARTIGOS.Iniciamos a publicao com o artigo Suas Obras tm que continuar produzido por Celina Mendes de Almeida com a colaborao de Luiz Fernando Mendes de Almeida, sobrinha-neta e irmo de Dom Luciano Mendes de Almeida, relatando a obra construda pelo bispo ao longo de uma vida de desprendimento material, dedicada s crianas mais necessitadas e desassistidas. O exemplo de vida de D. Luciano Mendes de Almeida continua sendo uma importante inspirao para o nosso trabalho, principalmente nos momentos de desnimo diante das grandes diculdades enfrentadas na rea social. Numa contextualizao sob os aspectos e dimenses estruturais de resistncia defesa de direitos humanos predominante na nossa sociedade, representao social da infncia e da adolescncia, e o papel do Estado Brasileiro, Margarida Marques contribui com importantes consideraes sobre os 15 anos de atuao e consolidao da Associao Nacional dos Centros de Defesa da Criana e do Adolescente ANCED, como referncia de coalizo pela defesa jurdicosocial de crianas e adolescentes em nvel nacional, regional e internacional. Quase de Verdade um artigo de Alexandre da Rosa e Ana Christina Lopes que aborda os avanos e desaos do Estatuto da Criana e do Adolescente, marcado pelo princpio da prioridade absoluta, que apesar de ser constitucional, ainda sistematicamente desrespeitado em todas as regies brasileiras, especialmente devido a diculdade que os atores jurdicos ainda tm para compreender o grande giro na cultura dos direitos humanos representado pelo ECA. Pensar os direitos humanos no sculo XXI signica pensar as formas de luta contra o Capital, contra a produo dos seus valores ideolgicos e da sua organizao social, que limitam e restringem a prpria vida, dentro dessa lgica que Srgio Verani, com muita lucidez e sensibilidade compartilha uma lio de justia vivenciada na sua infncia e nos relata a anlise de Machado de Assis sobre a lei de 28 de setembro de 1871, apelidada de Lei do Ventre Livre. Por m, apresenta um exemplo da prtica judicial do sculo XXI. Entre as algemas e os sonhos, Verani nos proporciona reexes polticas sobre o compromisso do Estado com a concretizao das polticas pblicas e sobre as diculdades na efetivao dos direitos humanos. Na sequncia, Vanessa Oliveira aborda as etapas histricas dos 60 anos da Declarao Universal dos Direitos Humanos. Parte da etapa de elaborao do documento, passando pela fase da Conveno Internacional e por m, trata da fase ainda no concluda: a criao de instrumentos adequados para assegurar a observncia dos direitos e o respeito a dignidade humana. Ricardo de Paiva e Souza nos apresenta importantes reexes sobre a Conveno sobre os Direitos da Criana (CDC), adotada por unanimidade pelas Naes Unidas em 20 de Novembro de 1989, documento que enuncia um amplo conjunto de direitos fundamentais os direitos civis e polticos, e tambm os direitos econmicos, sociais e culturais de todas as crianas, bem como as respectivas disposies para que sejam aplicados. A CDC no apenas uma declarao de princpios gerais; quando raticada, representa um vnculo jurdico para os Estados que a ela aderem, os quais devem adequar s normas de Direito interno s da Conveno, para a promoo e proteo ecaz dos direitos e liberdades nela consagrados. Este tratado internacional um importante instrumento legal devido ao seu carter universal e tambm pelo fato de ter sido raticado pela quase totalidade dos Estados do mundo. Wanderlino Nogueira Neto nos contempla com dois artigos inditos. No primeiro, aborda as possibilidades da sociedade civil organizada em promover anlises da situao da infncia e adolescncia no Brasil, a m de aperfeioar a elaborao, coordenao e execuo de polticas pblicas garantidoras dos direitos humanos e do acesso justia. O texto apresenta dados de fontes ociais e de organizaes sociais brasileiras e internacionais. Por m, trata do conceito de coeso social, com foco no sentido de pertencimento e de valorizao da identidade. No artigo No-criminalizao & Impunidade. Sistema de Garantia de Direitos Humanos, apresentado durante o III Congresso Mundial contra a Explorao Sexual de Crianas e Adolescentes, o autor apresenta importantes e atuais reexes sobre a promoo e proteo dos direitos sexuais e reprodutivos de crianas e/ou adolescentes. Reconhece os direitos sexuais como direitos fundamentais do ser humano, como preliminar a ser assegurada e a criminalizao (ou no) do explorado sexual, com uma das possveis respostas do Estado violao dos direitos sexuais de crianas e adolescentes.
Com uma renada anlise, Lgia Leite reconhece que apesar do Brasil ser signatrio de diversos marcos legais nacionais e internacionais, no h muito que se comemorar, uma vez que chegamos em 2009 sem ver os resultados globais de incluso de toda a populao brasileira em um projeto de nao e de futuro. Lgia resgata a trajetria das polticas pblicas sociais para a infncia no Brasil com seus avanos e retrocessos. No texto marcado por crticas, destaca que o Estatuto da Criana e do Adolescente, que nasce com 30 anos de atraso, j que o golpe de 1964 interrompeu o processo de resgate da dvida scioeducacional iniciada com a LDB em 1961 e com 50 anos de atraso das Convenes internacionais das quais o Brasil signatrio. Com o texto os 120 anos da Abolio da Escravido Gilda Alves Batista contribui com a reexo sobre o sentido desse fato, analisando dois conceitos importantes, que marcam a histria dos afrobrasileiros: raa e democracia racial. Fundamentando-se em renomados autores, compara as relaes raciais de outros pases com o Brasil. O artigo de Leonardo Ribas sobre o direito humano alimentao e nutrio sustentvel que, para o autor, a base dos direitos humanos e da cidadania. Leonardo aponta que a soluo para o problema da fome e da excluso social passa por uma nova ordem social, econmica e poltica que tenha como objetivo estratgico atingir o desenvolvimento sustentvel. O autor ressalta ainda a necessidade de mecanismos que garantam o controle da cidadania sobre o Estado e da participao popular, pois sem estas os governos dicilmente escaparo da priso da burocracia e dos laos da corrupo. Nessa conjuntura, Thiago Marques contribui com consideraes sobre A Democracia no Oramento Pblico, cujo cerne est em buscar o planejamento que satisfaa as prioridades estabelecidas pelas polticas pblicas de acordo com as disponibilidades de recursos. No artigo A produo de crianas e jovens perigosos: a quem interessa?, as psiclogas Ceclia Coimbra e Maria Lvia do Nascimento apresentam algumas produes de subjetividade, ocorridas em especial no Brasil do sc. XX, que tem caracterizado a populao infantojuvenil subalternizada como perigosa, violenta, criminosa e no humana. So tambm analisados alguns efeitos de prticas que associam essas caractersticas pobreza. Promessas Quebradas uma introduo ao Relatrio Anual da Anistia Internacional de 2008. O documento cita casos de violaes decorrentes da ao e omisso das grandes potncias ao longo dos ltimos 60 anos. Tambm so abordados os exemplos de liderana construtiva de algumas naes, os desaos para alcanar as Metas de Desenvolvimento do Milnio e a movimentao popular no sentido de exigir a renovao do compromisso dos lderes com a defesa e promoo dos direitos humanos em nvel global. Um encontro com crianas e adolescentes que esto na rua a exposio de Monica de Alkmim sobre sua experincia como pedagoga diante da dura realidade de meninos e meninas que vivem nas ruas do Rio de Janeiro. Para a autora, a sociedade no deve achar natural a moradia nas ruas; a existncia de crianas vivendo nessa situao no um momento histrico ou um problema especco de uma classe social ou econmica, uma vez que as conseqncias de uma sociedade que tem como base a desigualdade e a dominao de um ser humano por outro seu igual vividas diariamente pelo povo brasileiro. No texto A reforma das prises, a Lei do Ventre Livre e a emergncia da questo do menor abandonado, Esther Arantes partilha reexes sobre a histria das polticas para a infncia no Brasil. O trabalho de intensa pesquisa, desenvolvido por Esther nos ltimos 20 anos, ajuda a entender como o processo histrico do dito sistema de proteo da infncia deixou marcas profundas na infncia empobrecida brasileira, gerando reexos em futuras geraes. O texto destaca a necessidade de uma reexo profunda sobre a proteo integral prevista na Conveno dos Direitos da Criana (ONU, 1989), incorporada na Constituio Federal e regulamentada pelo Estatuto da Criana e do Adolescente, cujos princpios bsicos reconhecem crianas e adolescentes como sujeitos de direitos, pessoas em condio peculiar de desenvolvimento e prioridades absolutas. No instigante artigo Breves notas sobre a inconstitucionalidade da medida de internao Rafael Caetano Borges apresenta uma anlise crtica da permanente afronta ao texto constitucional no tocante realizao plena dos direitos da criana e do adolescente, dentre os quais a inimputabilidade e todos os desdobramentos dela advindos notadamente a proibio de submet-los a penas privativas de liberdade. O texto reete a contradio entre as nalidades pedaggicas e a privao de liberdade (internao) previstas no E.C.A., juntamente com elementos colhidos do dia a dia da realidade nacional. O autor exemplica por meio dos relatrios de violaes de direitos humanos produzidos pela Human Rights Watch e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em parceria com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), que demonstram a desumanizao dos adolescentes encarcerados, retratando absoluto desprezo do Estado brasileiro pelo Estatuto da Criana e do Adolescente, e o resultado da total ausncia de polticas pblicas nesta rea.
EQUIPE CEDECA - CENTRO DE DEFESA DOM LUCIANO MENDES DE ALMEIDA.
SUAS OBRAS TM QUE CONTINUAR.CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA* LUIZ FERNANDO MENDES DE ALMEIDA**
Desde o falecimento do meu tio Luciano, h dois anos, passei a ouvir muitas pessoas relatarem em vrios testemunhos como ele era uma pessoa santa. Ns da famlia tnhamos o privilgio de conviver mais de perto com ele, e constatarmos como ele era realmente uma pessoa maravilhosa. Foram muitas as suas realizaes, mas s aos poucos fui entendendo porque ele era realmente especial. Infelizmente, s fui conhecer algumas das inmeras obras que ele cuidava, ou foi a fonte de inspirao, depois de seu falecimento. Quando era pequena lembro que fui uma vez a Mariana para visit-lo com meus pais, depois s retornei por ocasio do seu velrio. Nesta ltima visita a emoo foi muito forte, pois a cidade inteira pranteava aquele que para eles era um santo, e eu me sensibilizei com todas essas manifestaes. Recentemente, numa visita ao Centro de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente - CEDECA, descobri por acaso que essa organizao possui o nome do meu tio Luciano Mendes de Almeida. Esse centro um brao da obra So Martinho fundada pelos padres carmelitas e completou vinte anos em novembro de 2008. Meu tio Luciano, que era arcebispo de Mariana, foi secretrio geral da CNBB por oito anos e depois presidente por mais oito anos. No incio de seu secretariado na CNBB, foi responsvel pela criao da pastoral do menor, que era uma das suas principais metas. A criana pobre e desnutrida era uma de suas grandes preocupaes. Foi o responsvel pela criao de inmeras obras de apoio criana e ao adolescente, no s escolares e prossionalizantes, mas tambm abrigos para acolher meninos e meninas que iam chegando nesses centros e ali encontravam o que lhes faltava e muitas vezes nunca tinham recebido. Lembro do meu tio dizendo que vrios nunca tinham visto uma escova de dente, pois no tinham algum que lhes dessem noes de higiene, carinho ou ateno pequenos detalhes que s conheceram quando tomaram contato com essa instituio. Dom Luciano tinha uma expresso no olhar e um sorriso quando estava no meio desses meninos que transmitia, alm da segurana, o amor que em muitos casos era desconhecido desses menores. A semente plantada por ele, fruto da Pastoral do Menor, cresceu e em muitos lugares j uma rvore frondosa. Em Mariana, sede de seu arcebispado, uma de suas obras se chama justamente
A Figueira. Ele nos explicava que tinha esse nome porque uma rvore com muitos galhos, cada um sendo uma ramicao dessa assistncia ao menor. A Figueira se dedica prioritariamente queles que tm decincias fsicas, principalmente locomotoras. Durante o espao de tempo que cam na Figueira, alm de alimentao recebem acompanhamento de monitores, assistentes sociais e em alguns casos de mdicos que procuram melhorar o dia a dia deles, chegando a reverter a doena de que so vtimas por falta de atendimento adequado. O custeio para manuteno dessa obra, e de outras que ele fundou em Mariana, so obtidas por doaes resultantes de visitas que meu tio fazia queles que ele sabia que podiam ajudar, e com a conscientizao dos paroquianos de Mariana e dos outros municpios abrangidos por sua arquidiocese. Hoje tenho notcias de que essas obras continuam, mas sofrem com a falta de auxlio nanceiro essencial para manter acesa a chama de esperana
Dom Luciano tinha uma expresso no olhar e um sorriso quando estava no meio desses meninos que transmitia, alm da segurana, o amor que em muitos casos era desconhecido desses adolecentes.
dessas
aes
to
importantes
para
a erradicao da misria e da fome que impedem o bem comum, to necessrio justia social do nosso Brasil. Nunca vou me esquecer das suas ltimas palavras, que pronunciou meu av, antes de ser sedado no hospital: No abandone meus pobres. Acho que isso demonstra claramente como sua vida foi marcada
por uma entrega total e absoluta aos mais necessitados e um desprendimento material que, espero, sirvam de exemplo e possam atingir cada vez mais pessoas, inspirando os outros a olharem mais para as crianas que necessitam principalmente do amor e carinho de todos ns. O CEDECA e outras obras so uma prova real da dedicao do meu tio Luciano para com os pobres e os desassistidos. Lamento s ter visitado essa obra depois que meu tio faleceu. Meu convvio com ele no foi to grande como eu gostaria, pois os poucos momentos em que ns podamos estar juntos eram na ocasio do Natal ou quando ele vinha para celebrar algum ato religioso. Hoje ele no est mais entre ns e as ocasies em que pude usufruir de sua companhia caro na minha lembrana e iro nortear a minha vida familiar e prossional.
* CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDASobrinha-neta de D. Luciano Mendes de Almeida
** LUIZ FERNANDO MENDES DE ALMEIDA
Irmo de D. Luciano Mendes de Almeida
8
A LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANAS E ADOLESCENTES NO BRASIL: A EXPERINCIA DA ANCED.MARGARIDA MARQUES*
IntroduoEste artigo traz uma reexo sobre os 14 anos da Anced - Associao Nacional dos Centros de Defesa, posto na perspectiva do que signica ser uma organizao de direitos humanos. Em absoluto, aprofunda questes conceituais ou histricas, vivenciadas ao longo desses 14 anos, simplesmente porque a articulista se reconhece entre os mais novos na histria desta organizao e por saber que a riqueza da sua experincia, formada por homens e mulheres espalhados por este pas, mais profunda, mais complexa e mais diversa do que seria capaz de traduzir aqui. O que se pretendeu foi oferecer uma reexo sobre os 14 anos da Anced, inserida nos debates sobre os 18 anos do Estatuto da Criana e do Adolescente, dos 20 anos da Constituio Federal de 1988 e dos 60 anos da Declarao Universal dos Direitos Humanos, situando-a nesta trajetria. Considerando que toda essa riqueza foi possvel pela capacidade que a Anced tem encontrado, ao logo desses anos, de conciliar a tarefa de ser uma articulao acional e impulsionar as aes locais desenvolvidas por cada Centro de Defesa liado. Fundada em 1994, a Anced reunia, em 2008, trinta e seis Centros de Defesa liados. Sua fundao d continuidade a uma articulao anterior, denominada Rede Nacional de Centros de Defesa, a rede de Centros de Defesa, com o objetivo de fazer avanar na organicidade e na atuao local e nacional. Ao completar 14 anos, a Anced vem consolidando suas reexes/elaboraes, tanto em relao ao seu papel como ator poltico com um papel especco a ser desempenhado, qual seja o de uma organizao de defesa jurdicosocial de direitos infantojuvenis de expresso nacional, como tambm o de ser um espao de articulao de Centros de Defesa espalhados por todo o pas. Em qualquer desses papis, a Anced se reconhece como parte do movimento de infncia.
nacional, ns contvamos com quatro anos de aprovao do Estatuto da Criana e do Adolescente. Hoje, comemoramos 18 anos do ECA. Falar desta organizao implica reconhec-la parte desta histria. A mudana do paradigma jurdicopoltico que reconhece crianas como sujeitos de direitos fruto de um amplo processo de luta social dos anos 70/80, no qual as prprias crianas e adolescentes zeram-se movimento. No Brasil, este movimento, que foi internacional, coincidiu com nossa redemocratizao e resultou na adoo da CDC - Conveno Internacional dos Direitos das Crianas e dos Adolescentes. Apesar dos avanos, fruto da luta realizada pelos movimentos sociais, da mobilizao e da presso poltica, no podemos deixar de reconhecer que os ltimos anos tm sido um tempo de resistncia e armao das conquistas, marcado pelo esforo coletivo de fazer valerAo completar 14 anos, a Anced vem consolidando suas reexes/ elaboraes, tanto em relao ao seu papel como ator poltico com um papel especco a ser desempenhado, qual seja o de uma organizao de defesa jurdicosocial de direitos infantojuvenis de expresso nacional, como tambm o de ser um espao de articulao de Centros de Defesa espalhados por todo o pas.
na prtica aquilo que fomos capazes de impor como marco legal, e inclusive tornou-se referncia em outros pases. por isso que, mais do que contar sobre os 14 anos de existncia da Anced, necessrio traar esta trajetria respaldada por uma reexo do que representa a luta em defesa de direitos humanos no Brasil, mais precisamente do que signica a luta em defesa de direitos humanos de crianas e adolescentes.
Ao fazermos esta contextualizao, levamos em conta os seguintes aspectos/dimenses: 1. As razes estruturais e histricas de resistncia luta em defesa de direitos humanos; 2. A representao social da infncia e da adolescncia, predominante na nossa sociedade; 3. O desao de atuao no plano institucional; 4. O papel do Estado brasileiro, no necessariamente nesta ordem. No podemos descolar a anlise da nossa construo histrica,
A melhor maneira de falar da Anced situando essa caminhada nos processos que foram desenvolvidos nos ltimos anos de luta pela efetivao dos direitos humanos, pois no h como descolar sua histria desse processo. 1. Um rpido olhar acerca do contexto da luta por direitos humanos no Brasil No momento em que Anced se constituiu como associao
pois somos um pas formado a partir de uma histria de opresso e resistncia, de conquista e escravizao da populao nativa quase dizimada e da populao africana tracada. Esta realidade vai marcar as relaes de poder em nosso pas. E esse poder baseia-se no lugar que se ocupa na sociedade, marcado pela relao colonizados x colonizadores, senhores x escravos, patres x empregados, ricos x pobres. Isso marca nossa realidade atual. A pobreza no pas, embora tenha
9
se reduzido nos ltimos dez anos, continua a afetar com muito mais intensidade as crianas e os adolescentes. Consideram-se pobres, para ns da presente anlise, as pessoas que viviam com rendimento mensal familiar de at salrio mnimo per capita. Em 2007, a PNAD revelou que 30% dos brasileiros viviam com esse patamar de rendimentos. No caso das crianas e adolescentes de 0 a 17 anos de idade, a proporo de pobres era bem mais alta, 46%. Chama mais ateno ainda o percentual de 19,6% que vivia com rendimento mensal familiar de at de salrio mnimo. Em contrapartida, apenas 1,7% desse segmento da populao vivia com rendimento mensal familiar de mais de cinco salrios mnimos. A distribuio da riqueza no Brasil caracteriza-se por extremas desigualdades regionais, que tambm se reetem na situao das crianas e adolescentes. O Nordeste a regio que reconhecidamente apresenta o maior percentual de pessoas pobres (51,6% da populao total). Quando se destaca apenas a populao jovem da regio (de 0 a 17 anos de idade), o percentual de pobres maior ainda (68,1%). Destes, 36,9% viviam com somente at de salrio mnimo de rendimento mensal familiar. Entre as crianas menores de 6 anos de idade, do Nordeste, o percentual das que viviam com at de salrio mnimo de rendimento mensal familiar ainda mais expressivo: 39,3%. Os dados da PNAD 2007 mostram que, quanto mais nova a criana, maior a probabilidade de estar em situao mais vulnervel qualquer que seja a regio do pas (Sntese de Indicadores Sociais 2008, IBGE). J no debate sobre direitos, esta relao torna-se mais marcante, a ponto de pr em questo que alguns setores da sociedade sequer tenham algum direito e da ausncia/violao de direitos ser naturalizada. Essa ausncia de direitos, alicerada pela ausncia de Estado, forma um Brasil parte, um Brasil informal, um Brasil que no conta e que no pode ser levado em conta. Como na histria no h linearidade, por mais que tenhamos avanado na luta social, ainda no superamos todos esses arqutipos e eles so retomados dia a dia, quando enfrentamos as violaes de direitos. Porque no Brasil, em princpio, a lei no tem a fora que tem em outras culturas. Gerando os simbolismos, como por exemplo: lei no para os pobres, Cadeia no para os ricos, No Brasil, a lei existe para no ser cumprida. Marilena Chau nos d uma indicao da complexidade da nossa formao histrica quando analisa os obstculos democracia brasileira. Buscando nossa formao histrica a partir desses elementos, ela aponta: Estamos, portanto, diante de duas sries de obstculos democracia social, no Brasil: aquela decorrente da estrutura autoritria da sociedade brasileira que bloqueia a participao e a criao de direitos e aquela decorrente das novas ideologias que reforam a despolitizao provocada, de um lado, pela fragmentao e disperso das classes populares (sob os efeitos da economia neoliberal sobre a diviso e organizao sociais do trabalho) e, de outro, pelo encolhimento do espao pblico e alargamento do espao privado pela ao das trs ideologias contemporneas, que reforma a ao privatizadora do Estado neoliberal. (Marilena Chau Consideraes sobre a democracia
e alguns dos obstculos sua concretizao). A anlise do papel desempenhado pelo Estado brasileiro outro aspecto importante a ser analisado. Este, ao longo da histria, esteve a servio dos projetos das elites, em detrimento da efetivao de direitos das maiorias sociais que, por sua vez, so as que pagam o maior preo das consequncias dos projetos econmicos desenvolvidos. Exemplo disso a atual crise do capitalismo de dimenses econmica, social e ambiental. A preocupao central do Estado a de socorrer as instituies nanceiras. Neste contexto de violncia estrutural e negao de dignidade, a representao da infncia brasileira transita desde a completa invisibilidade dos primeiros sculos da colonizao, passando pelas ideologias higienistas, menoristas, resistncia criativa dos movimentos sociais de meninos e meninas na dcada de 80, que inaugura um novo paradigma quanto aos direitos de crianas e adolescentes e seu reconhecimento como atores sociais, sujeitos de direitos. Neste novo paradigma, a sociedade adultocntrica questionada e avanamos em garantias legais de direitos para esse segmento social Entretanto, estes avanos no signicaram a superao das representaes socialmente construdas sobre a infncia e adolescncia, em particular da infncia e adolescncia pobre, e esta representao tem consequncia sobre a poltica pblica e sobre a defesa de direitos humanos deste segmento. Ainda convive, na sociedade, o olhar do passado, profundamente impregnado, nas falas, nos gestos, no descaso da sociedade e do Estado com a efetivao de seus direitos e com a condio de silncio e invisibilidade que a nossa histria e cultura imps a crianas e adolescentes. Nesse espao, no poderemos fazer uma reexo mais demorada sobre o tema, mas importante que tenhamos em conta que a histria da criana e do adolescente brasileiro foi construda em uma sociedade adultocntrica, patriarcal, escravista, onde esto presentes as questes tnico-raciais, de gnero e classe social e onde se construram representaes que posteriormente geraram inter-relao entre conceitos, tais como: adolescncia e delinquncia, pobreza e criminalidade, criana e tutela, polticas pblicas e represso. certo que essas representaes incluem hoje os interesses de uma sociedade baseada na mercadoria e, portanto, no consumo, e nesta condio crianas e adolescentes so alvo prioritrio. Lidamos, portanto, com uma contradio entre as representaes socialmente construdas da infncia e adolescncia e o novo paradigma. ngela Pinheiro nos aponta que a representao social inovadora da criana e do adolescente como sujeito de direito, armadas no texto da CF/88 parece estar em rota de coalizo com marcas histricas arraigadas da cultura poltica brasileira, e que a represso, fundada no autoritarismo e na dominao, tem lugar especial no trato pblico e no pensamento social concernentes criana e ao adolescente (Criana e do Adolescente: Porque o abismo entre a lei e a realidade). Ao invs de superarmos a violncia contra criana e adolescente, vemos crescer as violaes, seja porque a perspectiva de poder
10
adulto crianas se mantm, alimentando o silncio e a invisibilidade, seja por conta das desigualdades sociais que afetam, sobretudo, as crianas e adolescentes, tornando-os mais vulnerveis e constituindo novos campos de violao de direitos, tais como a comunicao de massa, a indstria cultural, a publicidade, a criminalizao...
Esses elementos, que demonstram o quanto o discurso no tem se conrmado pela prtica, revelam o longo caminho a ser percorrido pelo movimento de infncia. Em outras palavras: como pas, no temos desenvolvido polticas de enfrentamento a questes estruturais. A infncia e adolescncia brasileira, sobretudo a que est
Um elemento nal, neste breve cenrio, diz respeito aos novos espaos de atuao dos movimentos sociais. Alm de novos debates, a dcada de 1980 nos trouxe aprendizados que foram sistematizados em propostas de construo de novos espaos de interveno, introduzindo o debate sobre controle social, cogesto, participao paritria entre sociedade e poder pblico, espaos denidores de polticas. Foram criados os conselhos de direitos, fundos da infncia e adolescncia, realizadas conferncias, entre outras novas possibilidades de atuao. Hoje, faz-se necessria uma avaliao do que tem representado para o movimento esse nvel de atuao mais institucionalizado, repensando em que medida ele tem representado participao real e em que medida tem funcionado como regulador ou legitimador do Estado. So questes no to novas, mas que precisamos enfrentar e que tambm incluem o movimento de direitos humanos. 2. A situao da infncia e adolescncia e o papel das organizaes de direitos humanos A prioridade absoluta, denida tanto na CF/88 (art. 227) quanto no Estatuto da Criana e do Adolescente (art. 04), no tem garantido a implementao de polticas pblicas que revertam o quadro de desigualdade e violaes de direitos, colocando-se, junto com o enfrentamento dos problemas estruturais, uma prioridade de interveno. A Anced, no ano de 2007, por ocasio do Dia de Discusso Geral da Comisso dos Direitos da Criana da ONU, quando foi discutido o investimento na infncia e adolescncia, apresentou uma anlise das conseqncias desse modelo de desenvolvimento e da falta de investimento desse modelo econmico para a infncia brasileira: somando-se os investimentos em 2006 nas reas de sade, assistncia social, trabalho, educao, cultura, direitos da cidadania, habitao, saneamento, organizao agrria e gesto ambiental, calcula-se o montante de aproximadamente R$ 108 bilhes, ou seja, somando o gasto com todas essas reas sociais, ela representa somente 40% do gasto total com a dvida pblica. (segundo documento apresentado pela Anced para debate geral com a ONU, em 2007). J em documento recente de anlise da PLOA (Projeto de Lei Oramentria) para 2009, do Governo Federal, o Inesc conrma esta perspectiva quando aponta que tem havido uma reduo dos investimentos na rea social: O PLOA 2009 prope a reduo do crdito oramentrio dos programas de combate ao trabalho infantil (Peti) e explorao sexual de crianas e adolescentes. O programa de erradicao do trabalho infantil tem 348,7 milhes como previso para 2009, o que representa uma reduo de 8,62% se comparado ao crdito oramentrio que o Peti recebeu do congresso em 2008.
entre a populao mais pobre, tem sofrido mais fortemente as conseqncias deste modelo. O trabalho infantil no foi erradicado, pelo contrrio, aumenta e conta com a naturalizao e aceitao junto sociedade. O nmero de adolescentes que atualmente encontram-se em regime de internao de 15 mil em todo o pas, revelando que o encarceramento tem sido a medida mais utilizada para lidar com o adolescente em conito com a lei, indicando a incapacidade da sociedade, da famlia e do poder pblico em lidar com esta problemtica. Deste modo, transformam os adolescentes nos culpados pela violncia e utilizam-se deste argumento para o recrudescimento do discurso e de propostas favorveis reduo da idade penal e ampliao de medidas repressoras e institucionalizadoras de modo geral. A violncia contra criana e adolescente somente toma visibilidade quando adquire interesse e dimenso miditica. Na prtica, segue sendo silenciosa, cotidiana e, na maioria das vezes, solitria. D-se no plano domstico e institucional. 3. Uma experincia: a Anced dentro deste cenrio que a Anced se constitui e vem se rmando como uma associao nacional, reunindo diferentes experincias. Nesta condio hbrida, sendo uma associao e, ao mesmo tempo, uma coalizo, a Anced lida com o desao de ser um espao de articulao, mas tambm de debates e de elaborao terica. De desenvolvimento de experincias locais, algumas bastante inditas, e expresso nacional e internacional, de um conceito de atuao como uma organizao de direitos humanos de crianas e adolescentes. associao de Centros de Defesa, mas tambm movimento social. O plano trienal 2004-2006 trazia na sua apresentao a seguinte sntese sobre a criao da Anced: Com essa institucionalizao passou-se a contar com uma nova instncia de abrangncia nacional de interveno que, sem substituir a atuao de cada um dos Centros em seus respectivos locais, os fortalece e potencializa. A existncia da Anced viabiliza tambm, do ponto de vista estratgico, as representaes desses Centros junto aos demais atores nacionais de proteo e defesa de direitos. (plano trienal 2004-2006). no convvio e a partir dessa complexidade interna que a Anced vem, ao longo destes 14 anos, agregando sua contribuio ao movimento de infncia. Entre essas contribuies, podemos citar as discusses que viriam a se constituir posteriormente na idia do Sistema de Garantia de Direitos. Sobre esta construo terica, nos fala Margarita Bosh: Com a fundao da Anced, em 1994, se cristaliza, dissemina e divulga a reexo iniciada poca da Rede Nacional dos Centros de Defesa sobre a necessidade e o
11
formato de um Sistema de Garantia de Direitos que contemple trs eixos fundamentais: Promoo, Defesa e Controle Social, e o mesmo passa a ser objeto de estudo, capacitao e estratgia dos Centros de Defesa e de outros atores sociais e governamentais. Naquele momento, estavam em discusso as instncias que deveriam ser responsveis pela garantia dos direitos. Faziase necessrio desenvolver aes governamentais e nogovernamentais para a efetiva implementao desses direitos, seja mediante o reordenamento de algumas instncias governamentais e no-governamentais, seja pela criao de outras. A fundao da Anced veio, pois, fortalecer esse debate e contribuir para o avano na elaborao de uma proposta de Sistema de Garantia de Direitos que contemplasse os trs eixos fundamentais: promoo, defesa e controle social dos direitos de crianas e adolescentes. Qual o papel de uma organizao de defesa dos direitos infantojuvenis? Qual a abrangncia da defesa de direitos humanos e como vincular nossa prtica de defesa construo de uma ruptura societria? medida que a Anced levanta estes questionamentos para si, tem tambm procurado avanar na elaborao de reexes que possam ser incorporadas sua prtica e ao movimento de infncia.
ampliao da aplicao dos direitos humanos como fundamento em normalizao internacional e constitucional. E ainda: A opo prtica dos direitos humanos. Fazer cumprir estes instrumentos o ponto de certeza que se tem na Anced. nesse esprito que se deu a participao da Anced na audincia regional da Comisso de Direitos Humanos da Organizao dos Estados Americanos, que discutiu a situao de adolescente em privao de liberdade no Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile. A Anced tem priorizado a participao em articulaes nacionais e internacionais, onde possa ser uma voz de denncia e debate da situao da infncia. Sendo assim, a Anced liouse ao DCI/DNI em 2006, tornando-se sesso Brasil desta organizao internacional. Ao mesmo tempo, tem participado em outros espaos de debate e articulao como, por exemplo, a Redlamyc (Red latinoamericana e Caribenha dos direitos de crianas e adolescente). Alguns temas tm tido prioridade de interveno da Anced, reetindo por sua vez a atuao dos Centros de Defesa, como por exemplo, violncia sexual contra crianas e adolescentes, erradicao do trabalho infantil, monitoramento do oramento pblico, violncia contra criana e adolescente. A relao entre o local e o nacional fortalece a ao da Anced,
Essas questes dilemticas tm acompanhando a Anced/Centros de Defesa e tm servido como ponto de partida para as denies orientadoras de sua ao/interveno. claro que 18 anos depois da aprovao do ECA e 14 anos depois da criao da Anced, ainda seguimos buscando respostas a estes e outros questionamentos. Entre eles, est a necessidade de uma avaliao de nossa interveno no plano institucional, como j indicado anteriormente neste artigo. As estratgias de ao e debate Entre as estratgias desenvolvidas pela Anced, na sua atuao e no sentido de aprofundar os debates em torno de questes-chaves, podemos destacar a criao de grupos de trabalho temticos, os GTs, nomeadamente o GT de enfrentamento violncia sexual, o GT de combate impunidade, o GT Ato Infracional, o GT Oramento Criana e o GT de monitoramento da Conveno dos Direitos da Criana. Tambm tem procurado criar espaos alternativos de troca de experincias entre os Centros. Outra contribuio da Anced foi a construo do relatrio alternativo da sociedade civil sobre a implementao da Conveno Internacional dos Direitos da Criana, em 2004. Em 2008, o relatrio estava outra vez em construo, em dilogo com importantes segmentos da sociedade civil organizada, com destaque para participao de crianas e adolescentes que, neste relatrio, sero agregados de forma efetiva e no colocados apenas como grupos focais. Alicerado nas experincias desenvolvidas pelos Centros de Defesa, o debate sobre justia juvenil aponta conitos e buscas comuns. O posicionamento apresentado pela Anced no encontro do DNI (Defensa de Los Nios Internacional), em novembro de 2007, procura ser uma referncia para este debate quando arma que deve-se lutar pela minimizao do direito penal e pela
ao mesmo tempo em que possibilita a troca, o intercmbio e o aprendizado, no somente entre os Centros de Defesa, mas entre diferentes atores nacionais e internacionais. , portanto, embasada na reexo deste contexto de luta dos direitos humanos no Brasil e na situao da infncia, que a Anced se posiciona na sociedade, referendando este posicionamento na carta pblica aprovada na sua ltima assemblia nacional: Assim, rearmamos nosso compromisso com o projeto ticopoltico de uma sociedade justa, democrtica e sustentvel, pelo que continuaremos a fazer do engajamento militante, da postura crtica e independente frente a todos os governos e da proteo jurdicosocial de direitos humanos nossas ferramentas de projeo de um mundo de homens e mulheres iguais em todas as suas geraes. (Assemblia Nacional da Anced junho de 2008)
12
Fontes consultadas: Chau, Marilena Consideraes sobre a democracia e alguns obstculos sua concretizao Pinheiro, ngela Crianas e adolescente no Brasil Porque o abismo entre lei e realidade. Editora UFC Oramento, direitos e desigualdades Um olhar sobre a proposta oramentria 2009 Inesc- Outubro 2008 Documentos da Anced: - Reexes sobre as prticas da defesa jurdico-social por entidades da sociedade civil centros de defesa Texto produzido por Margarita Bosh - Justia juvenil: A viso da Anced sobre seus conceitos e prticas em uma perspectiva dos direitos humanos. So Paulo. 2007 - Plano Trienal 2008-2010 - Plano trienal 2004-2006 - Oramento e participao: uma contribuio brasileira Documento apresentado pela Anced ao Dia de discusso geral da ONU-2007
* MARGARIDA MARQUESGraduada em Comunicao Social, especialista em Arte e Educao, faz parte da Coordenao Colegiada da Anced e da Coordenao do Cedeca - Cear.
13
QUASE DE VERDADE: DIREITOS HUMANOS E ECA, 18 ANOS DEPOIS.1ALEXANDRE MORAIS DA ROSA* ANA CHRISTINA BRITO LOPES**
Dois mil e oito foi fadado a grandes comemoraes voltadas para os direitos humanitrios: primeiro os 60 anos da Declarao Universal dos Direitos Humanos da ONU, depois os 20 anos da Constituio da Republica que, de to comprometida com os direitos fundamentais, cou conhecida como Constituio Cidad. Mas o grande destaque comemorativo para os heris da resistncia2 , sem sombra de dvidas, o mais que emblemtico aniversrio dos 18 anos do Estatuto da Criana e do Adolescente. possvel dizer que, nos trs documentos comemorados, tudo quase de verdade... Mas aqui cabe-nos apenas reetir sobre os dezoito anos do Estatuto e da a propriedade do uso do ttulo de histria infantojuvenil de Clarice sobre o cachorro Ulisses, que late uma histria que at parece de mentira e at parece de verdade. Foi a inspirao para falar do que no mundo real acontece com o aniversrio do Estatuto que, ao ser lido e colocado em confronto com a realidade, tambm parece ora de mentira ora de verdade, talvez situado no meio termo de realidades singulares neste imenso pas, muito decorrente de decises individuais de aplicao efetiva do ECA. Aps grande luta pela redemocratizao do Pas, eleita a Assemblia Nacional Constituinte, foi conquistado o artigo 227 da CR, fruto de grande mobilizao social de segmentos diversos da sociedade envolvida e preocupada em transformar as vidas de crianas e adolescentes. Talvez, nenhum dos princpios seja mais quase de verdade. O objetivo do Poder Legislativo era de que fosse possvel reverter a dvida histrica com um atendimento marcado pela caridade e assistencialismo em detrimento da promoo de direitos humanos para a infncia e juventude, que fazia com que o pblico infantojuvenil fosse alvo da ateno apenas no vis abandono-delinquncia, objeto de aes repressivas e controladoras em sua maioria. A urgente transformao de crianas e adolescentes em sujeitos (e no mais objetos) de direito, tinha que ter uma fora tal que impedisse o esquecimento pelo mundo adulto das necessidades bsicas e fundamentais de pessoas em desenvolvimento, e foi escolhida a expresso que pudesse destacar a importncia das providncias z serem urgentemente praticadas: prioridade absoluta para as aes pertinentes garantia e defesa dos direitos fundamentais elencados constitucionalmente: dois anos aps, ratica-se o artigo constitucional na Lei 8069/90 Estatuto da Criana e do Adolescente. Alessandro Baratta (1998)3 anteviu a luta que seria travada: a reforma legal teria fora suciente para mudar a cultura? Seria possvel
trocar a lgica perversa da prtica das polticas de represso e emergenciais pelas polticas pblicas bsicas? O que temos hoje? Hoje, com toda segurana, podemos armar que ele teve discernimento e clarividncia sucientes para prever o grande desao de concretizar a transmutao de crianas e adolescentes de objetos em sujeitos. Transformar as polticas pblicas de emergenciais e repressivas em bsicas, com nfase no desenvolvimento de programas voltados para as necessidades comuns ao pblico-alvo, porque sabia que as prnoes que antecipam o sentido eram (e continuam, ainda) permeadas por um totalitarismo antidemocrtico decorrente da ignorncia funcional dos atores jurdicos, especialmente magistrados e promotores de justia, os quais no conseguem compreender o giro copernicano avivado pelo ECA e a cultura dos Direitos Humanos. E, de novo, a pergunta: o que temos hoje? Em todos os segmentos da sociedade, indcios de vivermos uma ilegalidade ocial, diante da inobservncia das leis: a prioridade absoluta, apesar de princpio constitucional, toma o perl de co jurdica, bem como muitos dos direitos humanos de crianas e adolescentes inscritos no ordenamento jurdico rea do especial, direito transformando em um esta verdadeiro
Quando reetimos sobre os avanos e desaos do Estatuto, marcado pelo princpio constitucional da prioridade absoluta, no devemos deixar de lado a dimenso do problema ao se fazer um balano e perceber que avanos existiram, mas que ainda esto aqum, graas violao ao princpio, que nacional, e no regional, estadual ou municipal, mas direcionador da Democracia!
conto de fadas que, parafraseando o famoso conto infantil, poderia se chamar
O ECA no Pas das Maravilhas. Esta poderia ser uma das tradues do que se passa, embora o Quase verdade de Clarice fornea um signicante mais adequado ao que pretendemos ou, ainda, muitos outros ttulos de histrias infanto-juvenis, no Direito do Stio do Pica-Pau Amarelo... Quando reetimos sobre os avanos e desaos do Estatuto, marcado pelo princpio constitucional da prioridade absoluta, no devemos deixar de lado a dimenso do problema ao se fazer um balano e perceber que avanos existiram, mas que ainda esto aqum, graas violao ao princpio, que nacional, e no regional, estadual ou municipal, mas direcionador da Democracia! Mais uma vez, pensemos: o que temos hoje, em maior ou menor escala, em grande parte dos Municpios e Estados brasileiros? - A no observncia do artigo 4 do ECA, alneas d e e no sendo priorizadas pelas polticas pblicas na rea e recursos nos oramentos; - Uma proliferao de ONGs para tentar diminuir o abismo entre o que a poltica de atendimento prev como direito a ser efetivado e o que temos como polticas pblicas;
1 O Ttulo Quase de Verdade foi inspirado no livro de literatura infanto-juvenil de Clarice Lispector, autora muito admirada pelos autores deste texto que, assim, ao mesmo tempo que usam tomam emprestado o ttulo para desenvolver o tema por possibilitar provocar uma reexo crtica por parte dos leitores, ainda possibilita uma justa homenagem autora que tanto admiram e de quem so leitores vorazes. 2 Expresso escolhida para tentar denir aqueles que se dedicam a lutar pelos direitos humanos, apesar das crticas sempre sofridas que os rotulam, muitas vezes, como meros defensores de bandidos. 3 Criminlogo italiano, j falecido, considerado o grande cone da Criminologia Crtica.
14
- Adolescentes envolvidos com a prtica de atos infracionais ainda em delegacias para adultos, ou em unidades de internao inadequadas e contrrias aos preceitos indicados pelos estudiosos com maior probabilidade de mudar a orientao deles para uma vida consoante s condutas socialmente aceitveis; - Diculdade em ter acesso Justia graas inexistncia de Defensoria Pblica em alguns Estados e, assim, Defesa Tcnica obrigatria a que tm direito quando envolvidos, por exemplo, com a prtica de um ato infracional; - Conselhos Tutelares que, muitas vezes, independente da regio em que se encontram, esto longe do que foi idealizado pelo ECA. Conselheiros despreparados para cumprir com a difcil misso de zelar pelos direitos de crianas e adolescentes simplesmente porque, em alguns casos, nem sequer leram o Estatuto antes de se elegerem e no podem garantir o que desconhecem; - Processo de eleio de Conselheiros Tutelares (quando existem) completamente viciado pelas mesmas mazelas das eleies para cargos polticos de vereadores, prefeitos, deputados... (ex.: compra de votos); - Conselhos de Direitos que ainda no tm clareza sobre quais so suas reais atribuies: controlar aes em todos os nveis e deliberar polticas pblicas para a infncia e juventude e, ainda, incorrendo no perigo de inverter a lgica do que prioridade absoluta por aes, tais como: . Plenrias e Comisses que se transformam em reunio de adultos defendendo seus interesses institucionais ou dos rgos que representam (se governamentais), cando em ltimo plano a vez e voz dos sujeitos que deram causa a todos estarem ali reunidos quinzenal ou mensalmente; . Conferncias (Municipais, Estaduais e Nacional) que roubam os olhares e a ateno de todos durante o ano de suas realizaes, com disputas acirradas e muita discusso sobre os que podero participar das mesmas. Os temas escolhidos para serem debatidos, exaustivamente, muitas vezes no revertem nas polticas pblicas que deveriam ser deliberadas, com base nas snteses registradas nos Anais das Conferncias pelos Conselhos; . Uma sociedade que, muitas vezes, desorganizada e desarticulada por interesses confusos, diversos dos que deveriam nortear as aes dos Conselheiros, desperdia a conquista da mesma sociedade civil, quando mobilizada e organizada, em participar da deliberao de polticas pblicas pelos Conselhos de Direitos e adiando a vitria destes espaos contrahegemnicos vitais para a transformao e efetivao dos direitos humanos de crianas e adolescentes. - Um universo de exploraes, muitas vezes iniciada pelas mos dos familiares (prtica histrica e mundial), com vis mercantilista, seja da mo-de-obra, seja do corpo da criana e do adolescente. Crianas e adolescentes transformados em mercadoria de troca ou objeto de lucro (prostituio infantil, meninos vendidos como jogadores de futebol para o exterior, trabalho no lixo, nos canaviais, no trco etc.);
- Universidades cujos cursos de graduao em Direito no contemplam em suas grades curriculares a obrigatoriedade do ensino do direito da criana e do adolescente, muitas vezes, nem como opo livre e acarretando, como conseqncias: a) Futuros operadores de direito que se transformaro em prossionais de carreira pblica, como promotores, defensores pblicos e juzes, que iro operar o sistema de garantia de direitos sem sequer conhecerem o texto bsico legal (Estatuto), que no o suciente para trabalhar com as questes do universo infanto-juvenil, que exige conhecimentos interdisciplinares (psicologia, pedagogia, medicina, servio social...); b) Baixa capacidade de compreenso do ECA por magistrados e promotores, reiterando-se o espetculo das derrapagens totalitrias, de gente que confunde proteo integral com sua opinio pessoal e tranforma o ECA num instrumento de opresso, especialmente porque assiste a banda passar falando coisas de amor e se acovarda diante de um Poder Pblico que se omite reiteradamente; c) Despreparo tcnico de advogados para trabalhar na defesa da parcela mais vulnervel da sociedade, afastando a concretizao da ampla defesa e dicultando o sucesso na garantia do direito a ser defendido. Temos centenas de advogados nas reas cvel, famlia, tributria, penal, trabalhista, mas um nmero nmo de prossionais que conhecem e podem advogar no mbito infanto-juvenil, com todas as especicidades nos seus procedimentos e que, quando resolvem atuar, acabam colocando em risco a defesa adequada daqueles por quem esto atuando. Este novo direito apresenta uma grande demanda de prossionais que possam operacionalizar e tirar do papel as conquistas da reforma legislativa. A Constituio da Repblica de 1988, 20 anos atrs, ordenou que todos fossem responsveis pelos direitos fundamentais de crianas e adolescentes: a famlia, a sociedade e o Estado. No se pode tolerar, assim, gente que rasteja no campo da infncia e juventude, negando-se a cumprir o carter emancipatrio do ECA. hora de nova mobilizao social, a exemplo do ocorrido na dcada de 80. Que 2008 seja um marco: a retomada, no mais para conquistar uma lei preponderantemente comprometida com os direitos humanos, mas pela efetivao desta, como j disse Norberto Bobbio. Alessandro Baratta, do alto do seu olhar visionrio, indicou a difcil luta para a concretizao do projeto de uma sociedade mais igualitria e mais justa necessria para a aplicao do novo direito da infncia e da adolescncia: (...) o caminho hoje no Brasil e em todo o mundo do capitalismo real o das lutas paccas e tenazes, para se assegurar e impor que a Constituio e a lei sejam aplicadas em todas as reas. Revoluo social signica sinergia de todas as lutas pela defesa e plena realizao dos direitos sancionados pelas leis, pelas constituies, pelas convenes internacionais, (...) Hoje, utopia concreta a legalidade constitucional (...)4
4 Baratta, Alessandro. In Difceis Ganhos Fceis: Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia: Freitas Bastos, 1998, pg.20
15
Dez anos j haviam sido transcorridos da promulgao da Constituio da Repblica poca em que ele escreveu estas palavras. Agora, vinte anos depois, possvel dizer, com toda segurana: ter a melhor lei nacional para crianas e adolescentes, ter uma Carta Magna que ordena a prioridade absoluta para a garantia e efetivao destes direitos, no (foi) uma condio suciente em todos estes anos para transformar a realidade, embora necessria. No mundo do faz-de-conta, at utopia diferente: o desejo de alcanar a legalidade material que s foi alcanada at certo ponto. H que se admitir que, felizmente, nem tudo se perdeu. Muitas conquistas existiram com base na lei predominantemente comprometida com a garantia dos direitos humanos de crianas e adolescentes, graas a um pequeno, porm perseverante, nmero de guerreiros pr-direitos de crianas e adolescentes. O que nos move a continuar na luta e, por exemplo, escrever este artigo, o desejo de termos uma sociedade na qual tenhamos leis que, quando lidas para os que ainda as desconhecem, no provoquem comentrios jocosos e piadas quanto sua veracidade. Queremos uma sociedade na qual o faz-de-conta, o ldico, exista s nas brincadeiras e na literatura infantil, como a de Clarice, mas que, em especial, no que diz respeito ao consagrado e festejado princpio da prioridade absoluta no que concerne preferncia na formulao e na execuo das polticas sociais pblicas e destinao privilegiada de recursos pblicos nas reas relacionadas com a proteo infncia e juventude seja tudo de verdade verdadeira. Se para a consagrada autora, a verdade s como tal no mundo de quem gosta de inventar, sejamos mais criativos que os que vm sendo vitoriosos na arte de criar estratgias para continuar perpetuando o status quo de objetos, caracterstico de crianas e adolescentes no Cdigo de Menores, que insiste em se manter em vigor em vrios aspectos, mesmo 18 anos depois de ter sido revogado, principalmente na cabea de gente com uma cultura jurdica mofada! Sem contar os menoristas enrustidos... Inventemos mais e mais maneiras de criar mecanismos para superar a criatividade inspirada em uma lgica perversa dos que inventam para perpetuar a cultura de desprezo e explorao dos mais frgeis e vulnerveis. Talvez, com Clarice, possamos entender o carter e a funo de uma quase verdade na construo da cidadania infanto-juvenil, porque desde 1988 nem todos viveram felizes para sempre...
*ALEXANDRE MORAIS DA ROSAJuiz de Direito da Infncia e Juventude de Joinville (SC), Doutor em Direito (UFPR) e Professor do Programa de Mestrado/Doutorado da UNIVALI-SC.
**ANA CHRISTINA BRITO LOPESSecretria da Comisso da Criana e do Adolescente da OAB/PR, Mestre em Cincias Penais, Professora da PUCPR e Coordenadora do Curso de Especializao Panorama Interdisciplinar do Direito da Criana e do Adolescente da PUCPR.
16
DIREITOS HUMANOS NO SCULO XXI: AS ALGEMAS E OS SONHOS.SERGIO VERANI*
Segue-se a segunda etapa, a inveno de nova vida o apenas a construo da nova realidade social na qual nossos sonhos utpicos sero realizados, mas a (re)construo desses prprios sonhos. (Slavoj Zizek)
Naquela poca, incio dos anos 50, o comunismo era considerado o mal do sculo, comunista comia criancinha, era um ser brbaro e desumano. Mas o exemplo humano da professora Maria Jos me intrigava,
No ano de 2008 registraram-se algumas datas signicativas para a garantia dos Direitos Humanos: 120 anos da Abolio da Escravatura, 18 anos do Estatuto da Criana e do Adolescente, 20 anos da Constituio Federal, 60 anos da Declarao Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, o incio deste jovem sculo XXI caracteriza-se, globalizadamente, por uma aprofundada concentrao privada das riquezas, por uma intensicao da segregao social, pela fragmentao dos interesses pblicos/coletivos e dos movimentos comunitrios, por uma exacerbao da desigualdade social e do sofrimento humano. O Capital, hegemnico e soberano, conseguiu, nesta sua fase histrica, desenvolver, como nunca antes, o seu incontrolvel impulso para a morte e para a destruio do humano. Pensar os Direitos Humanos no sculo XXI signica pensar as formas de luta contra o Capital, contra a produo dos seus valores ideolgicos e da sua organizao social, que limitam e restringem a prpria vida. A Histria ajuda a pensar. Criana, z o curso primrio no Grupo Escolar Ribeiro de Almeida, em Nova Friburgo. As crianas da cidade, todas as crianas as pobres, as menos pobres, as lhas dos operrios das fbricas, as lhas da classe mdia e da burguesia , todas as crianas estudavam no Grupo Escolar, escola pblica de alta qualidade (minha me era professora do Grupo e meu pai era Promotor de Justia da cidade). Criava-se um vnculo social entre as diferentes crianas estudavam juntas, brincavam juntas, jogavam futebol na rua. Estabelecia-se uma forte ligao comunitria e afetiva. Pensar os Direitos Humanos tambm pensar a memria, no deixar que o esquecimento prevalea. Por isso, lembro-me de duas professoras do Grupo Escolar. Dona Maria Jos Braga era um grande exemplo de competncia, de seriedade, de dignidade, de respeito por todas as pessoas. Comentava-se, porm, quase cochichando, que ela e o marido... eram comunistas...
ela era a contestao viva daquela fraudulenta propaganda anticomunista. E comecei a pensar e a descobrir como as belas mentiras eram inventadas pela ideologia do Capital. Se Dona Maria Jos era uma pessoa assim, integralmente humana, o comunismo, ento, no podia ser identicado como alguma coisa desumana, cruel e desprezvel, muito pelo contrrio. A outra professora lembrada Dona Arsia Winiwarter, Diretora do Grupo Escolar. Era um dia de jogos esportivos, eu participava do campeonato de corrida, e cheguei em primeiro lugar junto com outro menino, negro e pobre, da minha sala. O prmio seria um estojo, daqueles de madeira, puxava-se a tampa e havia vrios espaos separados, para lpis, borracha, apontador etc. A Diretora anunciou que faria um sorteio, colocou dois papeizinhos numa sacolinha e sorteou o nome do menino negro e pobre. Fiquei um pouco desolado, desconei do sorteio, e Dona Arsia veio me consolar: no ca triste no, voc j tem um estojo bonito, eu sorteei o seu amigo porque ele no tem nenhum e nem pode comprar... A minha primeira sensao foi sentir-me injustiado com o sorteio dirigido. Hoje, acho que Dona Arsia, Diretora da escola pblica, deu uma grande lio de Justia. A Diretora era o Estado intervindo para favorecer o mais desfavorecido, era o reconhecimento de que o menino negro e pobre poderia ter o direito e a alegria de ganhar um estojo, premiado pelo seu mrito. No ramos, eu e meu amigo, iguais perante a lei naquele momento; ele tinha mais direito ao estojo do que eu. O desempate seria pelo acaso do sorteio. E a Diretora, intervindo no acaso, tornou-o justo e humanizado. A lio de Dona Arsia produz tambm uma sria reexo poltica, sobre o compromisso do Estado com a concretizao das polticas pblicas. Cada vez mais, obediente ao projeto poltico neoliberal, o Estado afasta-se e ausenta-se da sua responsabilidade pelas polticas pblicas, delegando e repassando esse dever constitucional aos setores privados.
Lutar pelos Direitos Humanos , tambm, exigir que o Estado no se privatize, transformando o prprio servio pblico em mais uma mercadoria; lutar pelos Direitos Humanos , tambm, exigir que o Estado exera o seu compromisso constitucional para a garantia da cidadania, da dignidade da pessoa humana, da erradicao da pobreza, da marginalizao e das desigualdades sociais.
17
A coisa pblica vai deixando de ser pblica, torna-se uma coisa privada. Lutar pelos Direitos Humanos , tambm, exigir que o Estado no se privatize, transformando o prprio servio pblico em mais uma mercadoria; lutar pelos Direitos Humanos , tambm, exigir que o Estado exera o seu compromisso constitucional para a garantia da cidadania, da dignidade da pessoa humana, da erradicao da pobreza, da marginalizao e das desigualdades sociais. O Estado no pode tornar-se um mero espectador do acaso, mas deve intervir no acaso, como fez Dona Arsia, para a construo dos Direitos Humanos. Uma lembrana histrica, a respeito da Abolio da Escravatura, ajuda a compreender a necessidade dessa interveno no acaso e nas relaes privadas. O historiador Sidney Chalhoub, no seu livro Machado de Assis, Historiador (Companhia das Letras S.P., 2007) 2008 tambm foi a data dos 100 anos da morte de Machado , faz uma longa pesquisa sobre Escravido e Cidadania: a experincia histrica de 1871. Trata-se de uma anlise sobre a lei de 28 de setembro de 1871, apelidada Lei do Ventre Livre. Chalhoub mostra que, durante a discusso do projeto de lei: O debate, portanto, consistia em saber se o poder pblico deveria ou no intervir no domnio privado dos senhores sobre seus escravos. Uma corrente sustentava que o Estado tinha de submeter o poder privado dos senhores ao domnio da lei; no havia alternativa para obter a emancipao dos escravos. De outro lado, o pensamento mais conservador recusava-se a debater a questo da emancipao; ao invs disso, parecia empenhado em aperfeioar a escravido, em torn-la mais humana, como se dizia. Era a na or da resistncia escravocrata: o partido conservador sempre esteve convencido da necessidade de deixar que o problema da emancipao se resolvesse por si, por uma transformao lenta e pela revoluo social dos costumes. A escravido, segundo os conservadores, seria naturalmente extinta, com a evoluo do desenvolvimento social, desnecessria a interveno do Estado na relao privada/domstica entre os senhores e seus escravos... Sidney Chalhoub observa que Machado de Assis, no conto Mariana:
Ao mesmo tempo, Chalhoub analisa os pareceres do funcionrio pblico Machado de Assis, poca chefe da seo do Ministrio da Agricultura encarregada de acompanhar a aplicao da Lei do Ventre Livre. O regulamento da lei determinava que os escravos que no forem dados matrcula por culpa ou omisso dos senhores sero considerados libertos, salvo aos mesmos senhores o meio de provar, em ao ordinria, o domnio que tm sobre eles, e no ter havido culpa ou omisso sua na falta da matrcula. Surgiram divergncias quanto ao cabimento, ou no, da apelao ex ofcio, nas hipteses de decises contrrias liberdade. E o funcionrio pblico Machado de Assis orientava o seu parecer sempre no sentido de garantir a liberdade: Outrossim, convm no esquecer o esprito da lei. Cautelosa, equitativa, correta, em relao propriedade dos senhores, ela , no obstante, uma lei de liberdade, cujo interesse ampara em todas as partes e disposies. ocioso apontar o que est no nimo de quantos a tem folheado; desde o direito e facilidades da alforria at a disposio mxima, sua alma e fundamento, a Lei de 28 de Setembro quis, primeiro de tudo, proclamar, promover e resguardar o interesse da liberdade. Sendo este o esprito da lei, para mim manifesto que num caso como o do art. 19 do regulamento, em que, como cou dito, o objeto superior e essencial a liberdade do escravo, no podia o legislador consentir que esta perecesse sem aplicar em seu favor a preciosa garantia indicada no art. 7 da lei. (refere-se ao recurso ex ofcio). Este parecer de 21 de julho de 1876. Conclui Sidney Chalhoub: Machado de Assis foi de longe o autor do parecer mais politizado e incisivo da srie. Seu discurso lembra os de advogados abolicionistas que encontrei tantas vezes nas aes de liberdade estudadas para a elaborao de Vises da liberdade. Lembre-se que Machado de Assis no tinha formao jurdica, era um escritor, mas sabia compreender o esprito da lei, sabia que a Lei de 28 de Setembro quis, primeiro de tudo, proclamar, promover e resguardar o interesse da liberdade. Um retorno, agora, prtica judicial do sculo XXI. Alguns juzes das Varas da Infncia e Juventude fazem uma
Parece sugerir que no havia sada para o problema da escravido por dentro das relaes institudas entre senhores e escravos. A mensagem inescapvel do conto a necessidade de o poder pblico submeter o poder privado dos senhores ao domnio da lei. Era preciso intervir nas relaes entre senhores e escravos e promover a superao da instituio da escravido, enfrentando decididamente os interesses sociais e econmicos que ainda a sustentavam.
interpretao violadora dos princpios e normas do Estatuto da Criana e do Adolescente. Aplica-se a medida de internao ao ato infracional anlogo ao crime do art. 33, da lei 11.343/06 trco de entorpecentes , com a injurdica justicativa de que h violncia e grave ameaa sociedade inerentes ao trco. E, para proteger o adolescente infrator, estimulando-o a abandonar a prtica de atos infracionais, preciso afast-lo do convvio que lhe prejudicial, impondo-se
18
a conscientizao atravs da imposio de limites mais rgidos. Estas so expresses de uma sentena da Vara da Infncia e Juventude de So Gonalo, aplicando ao adolescente Diego, de 15 anos, a internao, sendo ineciente a aplicao de qualquer outra medida scio-educativa,
realidade social na qual nossos sonhos utpicos de emancipao sero realizados, mas a reconstruo desses prprios sonhos; e reinventar seus prprios modos de sonhar, mudar os prprios sonhos, para que os sonhos no permaneam estagnados, para no regressar velha realidade. Para no nos tornarmos testemunhas do prprio fracasso em
Na audincia de julgamento, realizada em 03.09.08, a Defensora Pblica requer que sejam retiradas as algemas do adolescente, diante do entendimento do S.T.F., em 07.08.08, de que o uso de algemas s deve ser adotado em casos excepcionalssimos. A Juza decide:
livrar-se do passado. So tantos os passados que no passaram, so tantos os passados que permanecem no presente, a impedir a efetivao dos Direitos Humanos. Muitas ainda so as algemas, nas suas vrias formas.
Derradeiramente quanto a alegao defensiva em relao a manuteno de algemas nos representados, vale esclarecer que cabe ao Magistrado com equilbrio e bom senso, caso a caso, vericar se reputa necessrio ou no a manuteno das mesmas para regularidade do julgamento, no havendo que se falar em violao do princpio da presuno de inocncia ou que tal circunstncia possa inuenciar na sentena, tratando-se inclusive, de norma de segurana diante da possibilidade do risco de fuga, j que os agentes do DEGASE no possuem armas e neste ato, h presena de familiares e ausncia de qualquer policial militar. Diante do exposto, mantenho o uso de algemas durante as audincias neste juzo. No Habeas Corpus 6990/08, julgado em 13.11.08, a 5 Cmara Criminal do TJRJ concedeu a ordem para que o Paciente permanea em liberdade assistida at o julgamento do recurso de apelao. Mas o adolescente Diego j cumprira internao desde o dia 20 de julho, ainda algemado na audincia. E j existia a Smula Vinculante n 11, do Supremo Tribunal Federal: S lcito o uso de algemas em casos de resistncia e de fundado receio de fuga ou de perigo integridade fsica prpria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justicada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da priso ou do ato processual a que se refere, sem prejuzo da responsabilidade civil do Estado. Os juzes podiam, de vez em quando, ler Machado de Assis, e tentar aprender a garantir a liberdade, e no a represso desmedida. As conquistas histricas este ano registradas no se esgotam em si mesmas. O lsofo Slavoj Zizek, na apresentao de MAO sobre a prtica e a contradio (Zahar, 2008, traduo de Jos Maurcio Gradel), insiste na necessidade da inveno de uma nova vida como sonho revolucionrio: no apenas a construo da nova*SRGIO VERANIDesembargador Presidente da 5 Cmara Criminal do Tribunal de Justia do Rio de Janeiro, Professor da UERJ e Presidente do Frum Permanente dos Direitos Humanos da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.
Muitos ainda precisam ser os sonhos.
19
O 60 ANIVERSRIO DA DECLARAO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS DAS NAES UNIDAS.VANESSA OLIVEIRA BATISTA*
Em funo da comemorao dos 60 anos da Declarao Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 2008, minha inteno rascunhar sobre o histrico deste importante instrumento jurdico, que teve incio na sesso de 16 de fevereiro de 1946 do Conselho Econmico e Social das Naes Unidas, em que cou decidido que uma Comisso de Direitos Humanos, a ser criada, deveria desenvolver seus trabalhos em trs etapas. Na primeira etapa, a Comisso deveria elaborar uma declarao de direitos humanos, atendendo ao disposto no artigo 55 da Carta das Naes Unidas. Na segunda, deveria produzir um documento que vinculasse mais que uma mera declarao, ou seja, deveria fazer uma conveno ou tratado internacional. Por m, a Comisso se encarregaria de criar instrumentos adequados para assegurar o respeito aos direitos humanos, tratando dos casos de violao. Em 18 de junho de 1947 cou pronto o projeto de uma Declarao Universal de Direitos Humanos, aprovada em 10 de dezembro de 1948. Esse texto era fruto dos trabalhos da Comisso Consultiva dos Direitos Humanos, criada em Paris em 1947 pelo governo francs, sob proposta de Ren Cassin. Presidida por este ltimo, essa comisso, da qual viria a nascer a Comisso Nacional Consultiva dos Direitos Humanos, era essencialmente composta de juristas e diplomatas, estando encarregada de preparar as instrues destinadas delegao francesa nas Naes Unidas, a qual era dirigida pelo mesmo Ren Cassin. Natural, portanto, que a Declarao retomasse os ideais da Revoluo Francesa, sendo considerada o smbolo da formao, no nvel universal, dos valores supremos da igualdade, da liberdade, da fraternidade entre os homens, exatamente como redigido em seu artigo I. Transformar esses ideais em direitos seria misso progressiva no mbito nacional, resultado de um esforo sistemtico de educao em direitos humanos. Membro do Conselho de Estado da Frana, Cassin era considerado um utopista pragmtico e, ao assumir a misso de participar da redao da Declarao, acrescentava a essa tarefa no apenas suas qualidades como jurista , mas tambm sua prtica como defensor de1
e redigisse, com assessoria da Secretaria das Naes Unidas, um anteprojeto de Declarao. Foi ento elaborado um texto com 45 artigos, apresentado Comisso em junho de 1947, que serviu de base para a discusso, at que se adotou a verso denitiva. Surpreendentemente, ao se comparar o texto nal com o esboo original, o primeiro , em muito aspectos, mais audacioso que o ltimo, especialmente quando trata da universalidade dos direitos humanos. Sente-se especialmente a inuncia da Frana e de Ren Cassin, autor da referncia a direitos diretamente universais, que s podem ser garantidos por uma instncia supranacional. Seu maior legado, porm, foi fazer com que se admitisse que os direitos econmicos, sociais e culturais deveriam ser considerados direitos fundamentais, ligados de forma indissolvel aos direitos civis e polticos. Assim como Cassin, Eleanor Rossevelt
O ponto mais discutido da Declarao era a sensibilidade dos pases membros da ONU diante da no ingerncia em assuntos internos, base do sistema das Naes Unidas. O problema que no se podia, ao mesmo tempo, falar em universalidade de direitos humanos e deixar sua proteo sob a tutela de pases soberanos que, a exemplo a Alemanha nazista, poderiam a qualquer momento, fazer o que bem entendessem.
inuenciou imensamente a redao da Declarao Universal. Extremamente culta, a primeira dama dos Estados Unidos conseguiu introduzir princpios em favor da igualdade de gnero durante os trabalhos, alm de dar ao texto poder concreto e clareza, devido ao seu esprito de sntese e senso das realidades. A ideia de que a Declarao se intitulasse Universal foi de Cassin, que insistiu
por substituir a palavra original Internacional. Sua inteno era associar a Declarao ao conceito fundador da Carta das Naes Unidas, que se iniciava com a frase: Ns, Povos das Naes Unidas..., redao posteriormente rechaada pelos pases no incio da Guerra Fria, que temiam perder sua soberania com tal armao2. O ponto mais discutido da Declarao era a sensibilidade dos pases membros da ONU diante da no ingerncia em assuntos internos, base do sistema das Naes Unidas. O problema que no se podia, ao mesmo tempo, falar em universalidade de direitos humanos e deixar sua proteo sob a tutela de pases soberanos que, a exemplo a Alemanha nazista, poderiam a qualquer momento, fazer o que bem entendessem. Criada em meio ao assombro do nal da 2 Grande Guerra, a Declarao Universal dos Direitos Humanos, embora aprovada por unanimidade (mas com a absteno dos pases comunistas Unio Sovitica, Ucrnia e Rssia Branca, Tchecoslovquia, Polnia e Iugoslvia e da Arbia Saudita e frica do Sul) no convencia a todos os membros da ONU.
direitos humanos, j que, desde a ascenso do nazismo e fascismo na Europa, escrevera diversos ensaios acerca da necessidade de construo da paz e de proteo aos direitos humanos. Ao chegar a Nova Iorque, em 1946, representando a Frana na Comisso de Direitos Humanos, presidida por Eleanor Roosevelt, esta o saudou como militante apaixonado e criador do direito, pedindo-lhe que assumisse a vice-presidncia da Comisso
1 Ele fora o mentor da lei sobre os direitos reparao para as vtimas da Primeira Guerra Mundial e, em 1940, o redator dos Acordos Churchill-de Gaulle, que deviam dar uma base jurdica e internacional Frana livre. 2 Para detalhes histricos conferir AGI, Marc, Ren Cassin, pre de la Dclaration universelle des droits de lHomme, Perrin, Paris, 1998.
20
A Declarao Universal , tecnicamente, uma recomendao da Assemblia Geral das Naes Unidas aos seus membros, conforme o artigo 10 da Carta da ONU. De fato, o jurista Hans Kelsen, mais conhecido dos estudantes de Direito por sua obra na rea de losoa jurdica, se manifestou sobre o projeto de 1947. Ele trata da natureza jurdica da Declarao, dizendo que o pretendido no codicar o Direito Internacional, e sim formular normas jurdicas dotadas de fora vinculante no mbito internacional. Ele considerava que, ao adotar uma Declarao Universal de Direitos Humanos, a Assemblia Geral poderia to somente recomendar aos Estados membros da ONU a observncia dos princpios nela contidos, reconhecendo tanto a legalidade da norma internacional, como a fora condutora dos direitos consagrados no texto. Kelsen esclarece que os princpios de direito internacional podem e devem ser formulados apenas em termos de deveres. Ele discordava da Comisso, armando que os deveres precedem os direitos, sendo a concepo formulada pelos redatores da Declarao falaciosa, posto que fundada no Direito Natural3. Diante desta posio, parte da doutrina sustenta que o documento no tem fora vinculante. Tal entendimento, no entanto, peca pelo formalismo, pois atualmente se reconhece, por toda parte, que a vigncia dos direitos humanos independente de sua declarao em constituies, leis e tratados internacionais, pelo fato de que so exigveis diante do respeito dignidade humana, exigvel com o consentimento ou no dos poderes estabelecidos. Embora a doutrina jurdica contempornea distinga os direitos fundamentais como aqueles consagrados pelos Estados em regras constitucionais escritas, reconhece-se, igualmente, que o direito internacional , alm dos tratados e convenes, formado tambm pelos costumes internacionais e princpios gerais do direito, como declarado no Estatuto da Corte Internacional de Justia (art. 38). Em suma, a Declarao de 1948 dene direitos que correspondem, na sua integralidade, aos costumes e princpios jurdicos internacionais, que so exigncias bsicas do respeito dignidade humana. Apenas em 1966, porm, foram aprovados os pactos sobre direitos civis e polticos, e sobre direitos econmicos, sociais e culturais, previstos na segunda etapa. Neste interstcio foram aprovadas vrias outras convenes sobre direitos humanos. Infelizmente, a terceira etapa, em que deveriam ser criados os mecanismos para assegurar a observncia dos direitos, ainda no foi concluda. O que h neste mbito a possibilidade de instaurao de um processo de reclamaes junto ao Conselho de Direitos Humanos das Naes Unidas, criado em 2006, em substituio Comisso de Direitos Humanos, alm do Tribunal Penal Internacional, criado para julgar casos de genocdo e crimes contra a Humanidade em 1998, que entrou em vigor em julho de 2002. No discurso de encaminhamento votao da Declarao Universal dos Direitos Humanos, na Assemblia Plenrio da ONU, em Paris, em 10 de dezembro de 1948, Austregsilo de Athayde, representante da Delegao do Brasil, armou que no estvamos diante de um documento sem defeitos, mas que a perfeio no est sempre ao alcance dos homens e de nossa natureza que tudo o que humano seja igualmente perfectvel4.
A Declarao Universal o pice de um processo tico, iniciado com a Declarao dos Direitos do Homem e do Cidado, da Revoluo Francesa. um documento que levou ao reconhecimento da igualdade como essncia do ser humano, fundamental para o respeito dignidade humana, fonte de todos os valores, sem distino de raa, sexo, lngua, religio, opinio, origem nacional ou social, ou qualquer outra diferena (artigo II). A parcela de humanidade contida na Declarao se constitui na verdadeira universalidade do texto das Naes Unidas5.
*VANESSA OLIVEIRA BATISTAMestre e Doutora em Direito, Professora Adjunta da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ.
3 KELSEN, Hans. The draft declaration on rights and duties of States, The Americana Journal of International Law, v.44; n. 259 (1950). 4 Austregsilo de Athayde, discurso na ONU em 1948, na ocasio da aprovao da Declarao Universal dos Direitos Humanos. Disponvel em : www.DHnet/athayde.htm/discurso 5 Para mais detalhes sobre o impacto da DUDH, conferir COMPARATO, Fbio K., A Declarao Universal dos Direitos Humanos 1948, disponvel em www.dhnet.org
21
20 DE NOVEMBRO: ALM DE ZUMBI, TEMOS UM OUTRO A COMEMORAR.RICARDO DE PAIVA E SOUZA*
Sessenta e cinco anos. Esse foi o tempo para que quase todas as naes do mundo entendessem que os Estados deveriam ser os principais garantidores dos direitos das crianas. Em 1989, consolidava-se uma discusso que teve seu incio nas primeiras duas dcadas do sculo 20, quando a Organizao Internacional do Trabalho adota convenes que buscavam erradicar ou regulamentar o trabalho infantil. Pouco tempo depois, em 1924, a vez da Liga das Naes que mais tarde daria lugar Organizao das Naes Unidas adotar a Declarao de Genebra dos Direitos da Criana. Declarao esta que originaria a Declarao Universal dos Direitos da Criana, promulgada pela ONU em 1954, a qual, por sua vez, foi o embrio da atual Conveno Sobre os Direitos da Criana - CDC, adotada e aberta para assinatura e raticao dos Estados Partes no dia 20 de novembro daquele ano de 1989. Os 65 anos aqui citados representam
infncia e da juventude (...). A Conveno sobre os Direitos da Criana representa um passo adiante na histria da humanidade, assim como a inscrio dos direitos fundamentais na Constituio brasileira e o Estatuto da Criana e do Adolescente representam um grande avano do sistema jurdico nacional. (ALBERNAZ JUNIOR e FERREIRA, s/d) Mas no foi fcil chegar a acordos. A idia de uma conveno que enaltecesse a necessidade de garantia dos direitos das crianas surgiu em 1978, tendo sido apresentada pela Polnia. 1979 seria o ano internacional da Criana e pretendia-se que naquele ano a CDC estivesse terminada e promulgada. No entanto, foram 10 anos para que nalmente o documento fosse adotado e ocialmente aberto para as raticaes. Vale lembrar que at os dias de hoje nem todos os pases, Estados Partes das Naes Unidas, raticaram a
exatamente o tempo entre a adoo da Declarao de Genebra e a da Conveno das Naes Unidas. Um tempo de maturao de idias. O tempo necessrio para que se entendesse a criana no como um objeto de direito que deveria receber uma proteo especial, mas, sim, como um sujeito de direitos, de fato permitam-me o trocadilho. Um tempo para consolidar lutas e abrir novas frentes de batalha.
Com a criao do Estatuto, entretanto, a CDC perde espao poltico e jurdico no Brasil. Poucas so as organizaes brasileiras que se dizem trabalhar pelos direitos das crianas que conhecem a Conveno de fato, que esto familiarizadas com seus princpios e sabem como seus mecanismos de monitoramento funcionam. E se perguntamos o porqu, a resposta sempre: temos o estatuto.
Conveno. Estados Unidos da Amrica e Somlia ainda no reconhecem a CDC. Um dos problemas apontados para a demora era a alegao de que o documento apresentado pela Polnia tratava-se de uma mera reformulao dos direitos j defendidos na Declarao de 1959. Era preciso, ento, ir mais alm. Ampliar a gama de direitos e deni-los de maneira que no
restassem dvidas. Outrossim, era preciso criar um rgo Longe de dar a certeza da garantia de todos os direitos da criana, a CDC abriu espaos para que pessoas, organizaes, e at mesmo governos, pudessem ter um mecanismo de mediao e/ou negociao o qual permitisse assegurar uma condio mnima de vida para as crianas enquanto cidads, em seus pases e tambm fora deles. Sobre esse aspecto, permito-me citar dois procuradores do Estado de So Paulo que assim se pronunciam sobre a CDC: Em meio a conitos regionais e mundiais, frutos de disputas polticas, religiosas e econmicas, na maioria das vezes travadas por interesses de grupos restritos, emerge a esperana e a luta de inmeros cidados, em todo o mundo, pela busca de uma vida mais harmnica aos povos da Terra. Esta luta poltica e ideolgica pela humanidade enseja a criao de instrumentos jurdicos nacionais e internacionais de proteo dos Direitos Humanos e, dentre estes, aqueles dirigidos proteo da Assim, hoje temos uma Conveno composta por um Prembulo e 54 artigos. Nela se estabelece o Comit dos Direitos da Criana, a m de examinar os progressos realizados no cumprimento das obrigaes contradas pelos Estados Partes (CDC, art. 43). O Comit dos Direitos da Criana, como a maior parte dos Comits semelhantes, estar constitudo por especialistas escolhidos pela capacidade pessoal pelos Estados Partes na Conveno. Diferentemente de outros comits, o dos Direitos da Criana no possui competncia alguma para conhecer de denncias de casos especcos de violaes dos direitos reconhecidos pela Conveno. A funo essencial do Comit consiste na anlise dos relatrios dos Estados Partes sobre as medidas que tenham adotado com vistas a tornar efetivos os direitos reconhecidos na que pudesse zelar pelo cumprimento dos compromissos acordados entre os Estados Partes, elaborando recomendaes baseadas em relatrios ociais de cada governo e tambm da sociedade civil.
22
conveno e sobre os progressos alcanados no desempenho desses direitos (art. 44), assim como as circunstncias e as diculdades, caso existam, que afetem o grau de cumprimento das obrigaes consagradas na Conveno. (ODONNELL, s/d) Para garantir a eccia do Comit, os Estados Partes se comprometem a apresentar um relatrio sobre o cumprimento de suas obrigaes para com as crianas a cada cinco anos, sendo que o primeiro relatrio deveria ter sido entregue dois anos aps a promulgao ou raticao da CDC. Infelizmente, o compromisso dos Estados Partes nem sempre se traduz em respostas concretas. Brasil, por exemplo, s apresentou at hoje um relatrio ocial e um paralelo. O segundo est em vias de apresentao e ainda devemos outros trs. Os princpios A CDC abrange uma ampla gama de direitos. O Comit dos Direitos da Criana, entretanto, identicou quatro desses direitos como sendo princpios gerais que devem ser levados em conta para a aplicao de qualquer artigo da CDC, e em quaisquer situaes que envolvam crianas. Preferi aqui reproduzir o contedo de um manual da Aliana Internacional Save the Children, cuja fundadora, Eglantyne Jebb, foi a autora da Declarao de Genebra, de 1924. Esses princpios gerais so: No discriminao (artigo 2) 1. Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e a garantir os direitos previstos na presente Conveno a todas as crianas que se encontrem sujeitas sua jurisdio, sem discriminao alguma, independentemente de qualquer considerao de raa, cor, sexo, lngua, religio, opinio poltica ou outra da criana, de seus pais ou representantes legais, ou da sua origem nacional, tnica ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou de qualquer outra situao.
em considerao os anseios e a viso de mundo da criana no momento de determinar quais seriam os interesses das mesmas. Direitos vida, sobrevivncia e ao desenvolvimento (artigo 6) 1. Os Estados Partes reconhecem criana o direito inerente vida. 2. Os Estados Partes asseguram na mxima medida possvel a sobrevivncia e o desenvolvimento da criana. Esse artigo estabelece o princpio de que as crianas tm direito vida, e arma que toda criana tem direitos aos bens e condies que permitiro que ela desenvolva ao mximo seu potencial e desempenhe seu papel numa sociedade pacca e tolerante. O direito de ser ouvida (artigo 12)1 1. Os Estados Partes garantem criana com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinio sobre as questes que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em considerao as opinies da criana, de acordo com a sua idade e maturidade. Meninas e meninos tm o direito de serem ouvidos com relao a todas as decises que lhes digam respeito, e o artigo 12 atribui essa obrigao aos governos para garantir que as opinies de meninas e meninos sejam solicitadas e consideradas. Esse artigo faz parte de uma gama mais ampla de direitos participao da criana, que normalmente so denidos nos artigos 12, juntamente com os artigos: 13 (liberdade de expresso); 14 (liberdade de pensamento, conscincia e religio); 15 (liberdade de associao); 16 (proteo da vida privada); 17 (informao apropriada). Na CDC, as crianas so reconhecidas como atores sociais, tanto em relao ao seu prprio desenvolvimento, como em relao ao desenvolvimento da sociedade em que vivem. Protocolos Falcultativos So dois os Protocolos Facultativos que complementam a CDC
O princpio por trs disso o de que todos os direitos valem para todas as crianas, sem exceo. O prprio Estado tem a obrigao de pr em prtica os meios para garantir que as crianas sejam protegidas de qualquer forma de discriminao e devem empreender aes armativas para promover tais direitos.
e ambos foram adotados em 2000. Eles tratam de: 1. Envolvimento de crianas em conitos armados Este Protocolo em seus primeiros artigos diz: Artigo 1
O interesse superior da criana (artigo 3) 1. Todas as decises relativas a crianas, adotadas por instituies pblicas ou privadas de proteo social, por tribunais, autoridades administrativas ou rgos legislativos, tero primacialmente em conta o interesse superior da criana. O princpio do agir para o interesse superior da criana diz respeito a qualquer processo decisrio que envolva meninos ou meninas, incluindo a movimentao e a alocao de recursos. O interesse superior da criana normalmente no a nic