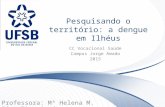CENTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE · Saúde, Universidade Norte do Paraná, Unidade Piza,...
Transcript of CENTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE · Saúde, Universidade Norte do Paraná, Unidade Piza,...
Londrina - Paraná 2014
CENTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE Mestrado Profissional em Exercício Físico na Promoção da Saúde
VILMAR APARECIDO CAUS
ADAPTAÇÃO DO BEHAVIORAL REGULATION IN SPORT
QUESTIONNAIRE (BRSQ) PARA USO EM VERSÃO ONLINE
VILMAR APARECIDO CAUS
ADAPTAÇÃO DO BEHAVIORAL REGULATION IN SPORT
QUESTIONNAIRE (BRSQ) PARA USO EM VERSÃO ONLINE.
Trabalho de Conclusão Final de Curso apresentado ao Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde, Universidade Norte do Paraná, Unidade Piza, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre Profissional em Exercício Físico na Promoção da Saúde. Orientador: Prof. Dr. Dartagnan Pinto Guedes
Londrina - Paraná 2014
ADAPTAÇÃO DO BEHAVIORAL REGULATION IN SPORT
QUESTIONNAIRE (BRSQ) PARA USO EM VERSÃO ONLINE
VILMAR APARECIDO CAUS
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde, Universidade Norte do Paraná, Unidade Piza, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre Profissional em Exercício Físico na Promoção da Saúde, conferido e aprovado pela Banca Examinadora:
____________________________________
Prof. Dr. Dartagnan Pinto Guedes Universidade Norte do Paraná
____________________________________ Prof. Dr. Juliano Casonatto
Universidade Norte do Paraná
____________________________________ Prof. Dr. Arli Ramos de Oliveira
(Membro Externo)
____________________________________ Prof. Dr. Dartagnan Pinto Guedes
Coordenador do Curso
Londrina, 18 de Dezembro de 2014.
AUTORIZO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E
PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.
Dados Internacionais de catalogação-na-publicação Universidade Norte do Paraná
Biblioteca Central
Setor de Tratamento da Informação
Caus, Vilmar Aparecido
C362a Adaptação do Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) / Vilmar
Aparecido Caus. Londrina: [s.n], 2014.
81f.
Dissertação (Mestrado). Exercício Físico na Promoção da Saúde. Universidade Norte do
Paraná.
Orientador: Prof. Dr. Dartagnan Pinto Guedes
1- Educação física - dissertação de mestrado - UNOPAR 2- Exercício físico 3-
Questionário 4- Web 5- Motivação 6- Esporte 7- Atletas I- Guedes, Dartagnan Pinto,
orient. II- Univer -sidade Norte do Paraná.
CDU 796
AGRADECIMENTOS
Primeiramente a Deus, pelo presente da vida e por se fazer sempre presente
diante desta caminha de conhecimentos.
A minha esposa Silvia e a minha filha Giovanna, que sempre estiveram presente
em todos os momentos dessa realização do Mestrado.
Aos meus pais Domingos e Arpalice, meus exemplos de família. Obrigado por
todos os ensinamentos e por acreditarem sempre em seus filhos, amo vocês!
Ao meu orientador Dartagnan Pinto Guedes, que me oportunizou a realização do
mestrado e me acompanhou para sua concretização.
Ao Sandro e ao Rafael, que além de grandes amigos, deram grande apoio do
inicio a concretização da ideia do estudo.
Ao Marcos Queiroga, amigo desde a época de graduação, pelo constante apoio
e incentivo a minha qualificação profissional.
Ao Prof. Victor Hugo, agradecimento em especial, amigo que nestes 15 anos
sempre esteve ao meu lado, não medindo esforços para realização de nossos sonhos.
Aos professores da UNOPAR e aos colegas de curso que dividiram comigo as
alegrias e as dificuldades encontradas durante esse processo.
Agradeço aos membros da Banca Examinadora, pelas considerações e
contribuições para o aprimoramento do Relatório Técnico.
Agradeço aos atletas que se dispuseram a participar da coleta de dados,
técnicos e gestores que contribuíram para realização do trabalho.
“A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência que não sabe. Os que pensam ao contrário serão contaminados pelo orgulho, deixarão de ser construtores de novas ideias, passarão a ser repetidores delas.”
(AUGUSTO CURY)
CAUS, Vilmar Aparecido. Adaptação do Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) para uso em versão online. Trabalho de Conclusão Final de Curso. Mestrado Profissional em Exercício Físico na Promoção da Saúde. Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde. Universidade Norte do Paraná, Londrina. 2014.
RESUMO
A importância da análise de indicadores relacionados à motivação para a prática
de esporte em idades jovens justifica-se com base no entendimento de que a infância e
a adolescência são períodos importantes para iniciar a participação efetiva em
programas organizados de esportes, ou pelo contrário, para abandonar por completo
sua prática com repercussão para as idades futuras. Dessa forma, torna-se importante
demarcar e conhecer as regulações motivacionais dos jovens associadas à pratica de
esporte. A identificação, o dimensionamento e a hierarquização dos componentes de
motivação subjacentes ao esporte possibilitará dimensionar ações de maneira mais
efetiva que possam promover situações de cunho psicológicos mais favoráveis, o que
permite aos jovens maiores oportunidade de conseguir seus objetivos e, portanto,
diminuir eventual possibilidade de abandono. Indicadores relacionados à motivação
para a prática de esporte são concebidos mediante o uso de questionários
autoadministrados específicos, entre os quais, o de maior destaque na literatura
especializada é o Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ). Nessa
perspectiva, a proposta de produção técnica foi delinear e desenvolver plataforma
eletrônica para uso do BRSQ em versão online. Para tanto, a metodologia atendeu
quatro etapas: (a) definir programação para disponibilizar o questionário em formato
online; (b) construir site com domínio para hospedar a ferramenta (BRSQ) com análise
e tráfico de banco de dados; (c) realizar aplicação-piloto em amostra de atletas-jovens
para processar possíveis ajustes na disposição e no manuseio da ferramenta para
definição da versão online; (d) desenvolver estudo experimental com aplicação
simultânea das versões impressa e online do BRSQ com objetivo de validar e identificar
características psicométricas da versão eletrônica. Espera-se com a proposição da
produção técnica apresentar ferramenta online atrativa e amigável que possa auxiliar na
monitoração das regulações motivacionais com maior economia de tempo, menor custo
financeiro e que permita levantamento de dados em diferentes locais simultaneamente.
Palavra-chave: Questionário, Web, Motivação, Esporte, Atletas-jovens.
CAUS, Vilmar Aparecido. Adaptation of Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) for use in online version. Completion of Coursework. Professional Master´s in Exercise in Health Promotion. Research Center on Health Sciences. Northern Parana University, Londrina. 2014.
ABSTRACT
The importance of the analysis of indicators related to the motivation to practice
sports at young ages is justified based on the understanding that childhood and
adolescence are important periods to start effective participation in organized sports
programs, or rather to completely abandon its practice with repercussions for future
ages. Thus, it becomes important to demarcate and understand the motivational
regulations associated with youth sports practice. The identification, sizing and
prioritization of the components underlying the sport motivation scale actions will enable
a more effective way that can promote more favorable situations of psychological
nature, which enables young people greater opportunity to achieve their goals and
therefore decrease any possibility abandonment. Indicators related to the motivation to
practice sport are designed by using self-administered questionnaires specific, among
which the most prominent in the literature is the Behavioral Regulation in Sport
Questionnaire (BRSQ). In this perspective, the proposed technique is to outline
production and develop electronic platform for use in the online version BRSQ. To this
end, the methodology to be adopted must meet four steps: (a) define the schedule to
deliver online questionnaire format; (b) build site with the domain to host (BRSQ) and
traffic analysis tool with the database; (c) conduct pilot application in a sample of young
athletes-to handle possible adjustments to the layout and handling tool for defining the
online version; (d) develop experimental study with concurrent use of both print and
online versions of BRSQ in order to identify and validate psychometric characteristics of
the electronic version. It is hoped that the proposition of this production technique
provide attractive and friendly online tool that can assist in the monitoring of motivational
regulations with greater time savings, lower cost and enable data collection in different
locations simultaneously.
Key-words: Questionnaire, Web, Motivation, Sport, athletes-young.
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 – Pagina inicial do site http://www.dartagnanguedes.com.br .......................... 34
Figura 2 – Tela de entrada para a versão online do BRSQ .......................................... 35
Figura 3 – Disposição dos itens do BRSQ na versão online ......................................... 36
Figura 4 – Opção para realizar o tratamento das informações do BRSQ ..................... 37
Figura 5 – Resultados do continuum de autodeterminação para prática de esporte .... 37
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Continuum de autodeterminação e níveis de autodeterminação
aplicados a prática de esporte ..............................................................10
Quadro 2 - Questionários disponibilizados na literatura para identificar
os motivos para a prática de esporte em jovens ..................................18
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Motivos versus motivação para a prática de esporte ............................................ 3
2.2. Teoria de Autodeterminação ................................................................................. 8
2.3. Recomendações para validação de questionários .............................................. 11
2.4. Questionários para identificar motivos e motivação para prática de esportes .... 17
2.5. Proposição do Behavioral Regulation in Sport Questionnaire – BRSQ .............. 30
3. DESENVOLVIMENTO............................................................................................... 33
REFERÊNCIAS......................................................................................................... 38
4. ARTIGO CIENTÍFICO .............................................................................................. 49
1
1. INTRODUÇÃO
Estudos que procuram identificar os motivos para prática de esporte e os fatores
associados à adesão ou ao abandono têm constituído em temática dominante na área
de conhecimento vinculada à psicologia do esporte, sobretudo em jovens (Gill, Williams,
2008). Também, destacam-se as diversas aproximações teóricas sugeridas para tentar
explicar a conduta motivacional no contexto esportivo (Deci, Ryan, 1985; Ntoumanis,
2001; Ryan, Deci, 2000) e o esforço direcionado à proposição e à validação de
instrumentos de medida voltados à análise de selecionadas motivações para a prática
de esporte (Biddle, Markland, Gilbourne, Chatzisarantis, Sparkes, 2001).
O foco de análise de motivações para prática de esporte em idades jovens
justifica-se com base no pressuposto de que a infância e a adolescência são períodos
críticos para iniciar a participação efetiva em programas organizados de esporte, ou
pelo contrário, para abandonar por completo sua prática com repercussão para idades
futuras (Sirard, Pfeiffer, Pate, 2006). Neste sentido, torna-se importante demarcar e
conhecer indicadores motivacionais que podem levar os jovens a praticar esporte. A
identificação de motivações subjacentes ao esporte possibilita delinear ações de
maneira mais efetiva que possam promover clima psicológico favorável, o que permite
aos jovens maiores oportunidades de alcançarem suas metas, elevando, desse modo,
as chances de adesão aos programas de esporte e, por consequência, minimizando
eventual possibilidade de abandono.
Os motivos e as regulações motivacionais que podem mobilizar os jovens para
prática de esporte são identificados, dimensionados e ordenados mediante utilização de
questionários autoadministrados específicos. Via de regra, questionários para atender
essa finalidade são propostos por intermédio da apresentação de itens equivalentes a
determinado elenco de possíveis motivos previamente concebidos, agrupados em
fatores de motivação, associados a pratica de esportes. Neste caso, em seu
delineamento o respondente indica o grau de importância que cada item pode ter para
sua prática de esporte, através de escala continua de medida do tipo Likert.
Nessa perspectiva, um dos questionários de maior destaque na literatura para
identificar as regulações motivacionais é o Behavioral Regulation of Sport Questionnaire
2
(BRSQ). Elaborado por Lonsdale, Hogde e Rose (2008), o questionário propõe
identificar as formas de regulação da motivação como suporte para que se possam
adotar estratégias adequadas, que busque atender e satisfazer às necessidades de
cada praticante, com objetivo de propiciar maior adesão à prática de esporte.
A proposição e a validação de versão online do BRSQ se justificam por
disponibilizar uma ferramenta eletrônica atrativa e amigável que possa auxiliar na
monitoração das regulações motivacionais para prática de esporte em atletas-jovens
com maior economia de tempo, menor custo financeiro e que permita levantamento de
dados em diferentes locais simultaneamente.
3
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Motivos versus motivação para prática de esporte
De acordo com Davidoff (1983), motivação é um conceito que se invoca com
frequência para explicar as variações de determinados comportamentos e, sem dúvida,
apresenta grande importância para a compreensão do comportamento humano. É um
estado interno resultante da necessidade que desperta certo comportamento, com
objetivo de suprir essa necessidade. A atenção que alguém oferece as suas
capacidades humanas depende da sua motivação, seus desejos, carências, ambições,
apetites, amores, ódios e medos. As diferentes motivações e cognições de um indivíduo
explica a diferença do desempenho de cada um. Os fenômenos motivados apresentam
comportamentos que parecem guiados pelo funcionamento biológico do organismo da
espécie: como o de beber, comer, evitar a dor, respirar e reproduzir-se.
Porém, o obstante, tem-se ainda, os de natureza motivacional que seriam os
comportamentos resultantes de necessidades, desejos, propósitos, interesses,
afeições, medos, amores e uma série de funções correlatas. Alguns psicólogos afirmam
que motivação também é o desejo consciente de se obter algo, sendo assim, uma
determinante da forma como o indivíduo se comporta. A motivação está envolvida em
várias espécies de comportamento, como aprendizagem, desempenho, percepção,
atenção, recordação, esquecimento, pensamento, criatividade e sentimento. A
motivação também possui elementos complexos, inconscientes e, muitas vezes,
antagônicos, gerando assim, constantes conflitos. Mas, com certeza, é a motivação que
move o ser humano.
Assim, em termos gerais, motivação significa os fatores e processos que levam
os indivíduos a agirem ou a ficarem inertes frente a determinadas situações (Cratty,
1983). Davidoff (1983) assume que motivação refere-se a um estado interno que resulta
da necessidade e que ativa ou desperta comportamentos realmente dirigido ao
cumprimento da necessidade ativante. Para Murray (1978), motivação é um fator
interno que dá início, dirige e integra o comportamento do indivíduo. Motivação não é
algo que possa ser diretamente observado. Neste caso, infere-se a existência de
motivação mediante observação do comportamento. Um comportamento motivado se
4
caracteriza pela energia relativamente forte nele despendida e por estar dirigido para
um objetivo ou meta (Braghrolli, Bisi, Rizzon et al., 2001).
Por outro lado, o motivo pode ser definido como uma condição interna
relativamente duradoura que leva o indivíduo, ou que o predispõe, a persistir em um
comportamento orientado para um objetivo, possibilitando, a transformação ou a
permanência da situação (Sawrey, Telfold, 1976).
Em análise histórica do esporte constata-se que, este tem se constituído em fator
importantíssimo para o desenvolvimento social e cultural de todos os povos do mundo.
O esporte coexiste com o homem desde os tempos mais primitivos. Nos dias atuais, o
esporte deve ser considerado um dos fenômenos sociais e culturais mais importantes
do século (Cratty, 1983).
Atualmente, importante parcela da população está engajada em programas de
esporte. A carga de treino a que são submetidas estes indivíduos varia em razão do
seu nível de motivação para o esporte. Se, de um lado, parece mais fácil entender a
motivação para o treino esportivo de um atleta profissional, que recebe salário mensal
para a prática de esporte, não acontece o mesmo com o tipo de motivação que leva
muitas crianças e adolescentes a buscarem um programa de iniciação esportiva (Cratty,
1983).
A motivação, de acordo com Becker Jr. (1996), é um fator muito importante na
busca de qualquer objetivo pelo ser humano. Os treinadores reconhecem este fato
como sendo o principal, tanto nos treinos como nas competições. Segundo Gaya e
Cardoso (1998), os motivos que definem as atividades esportivas parecem ser:
melhorar as habilidades, passar bem, vencer, vivenciar emoções, desenvolver o físico e
o bem-estar. Assim, o tipo de motivação, pode definir a orientação de jogar. Portanto, o
que interessa não é a vitória contra um adversário, mas sim o progresso pessoal. Para
Scalcan e colaboradores (1999), o principal fator motivacional pela procura da prática
de esporte continua sendo a busca da ludicidade, divertimento e aprimoramento de
suas habilidades e capacidades motoras. Nesse sentido, o conhecimento dos motivos
que levam adolescentes a praticar esporte é aspecto bastante relevante no
desenvolvimento humano, e de fundamental importância para os profissionais de
5
educação física e esporte, por proporcionar subsídios a esses profissionais para que
estimulem a preparação de seus programas de esporte voltados mais para o interesse
do praticante, facilitando a escolha das atividades, o comportamento relacional e a
maneira de motivar para uma prática alegre e prazerosa.
No campo da psicologia do esporte, a motivação para sua prática recebe grande
destaque em razão de sua importância na intensidade, na direção e no tempo individual
de cada individuo na prática de esporte (Paim, 2001). E, desde os anos 1980, tem sido
um dos tópicos mais pesquisados, procurando identificar os fatores que levam crianças
e adolescentes a iniciar, a continuar e a desistir do envolvimento na prática de esporte
(Knijnik, Greguol, Santos, 2001).
A motivação apresenta em sua essência regulações complexas de cunho
biológica, cognitiva e social (Ryan, Deci, 2000). As diferentes concepções teóricas
fazem com que seja difícil conceituar motivação de maneira pontual, assumindo que
existem diversas formas de abordar o tema (Weinberg, Gould, 2001). De maneira geral,
pode-se considerar que existem basicamente três visões sobre a motivação: (a)
centrada no traço; (b) centrada no estado; e (c) a interacional (Barroso, 2007).
Gomes et al. (2007), em importante estudo, investigaram a produção brasileira,
espanhola e de língua inglesa no campo da Psicologia do Esporte e Exercício Físico e
observaram que o tema motivação é o mais estudado na área para os três contextos
investigados, superando temas clássicos como ansiedade, humor e estresse. Segundo
Weinberg e Gould (2001), a motivação é considerada uma variável fundamental tanto
para adesão a sua prática, quanto para a aprendizagem e desempenho em contextos
de esportes e exercício físico.
Assim, a motivação e, por conseguinte, os motivos para a prática de esporte são
elementos importantes para o entendimento do comportamento humano no contexto do
esporte (Santos, Silva, Hirota, 2008). A diferença entre os sexos é um fator fundamental
na maneira de desenvolver o trabalho de preparo dos treinos e de responder aos
objetivos traçados na prática de esporte. A motivação é absorvida de maneiras
diferentes pelos praticantes de diferentes sexos (Samulski, 2009).
Em estudo de revisão, Knijnik, Greguol e Santos (2001) verificaram que os
6
motivos alegados por crianças e adolescentes para iniciar e persistir na prática de
esporte são diversão, bem-estar físico, competição e construção de novas amizades,
enquanto os principais fatores alegados para o abandono são falta de competição,
ênfase exagerada na vitória e excesso de pressões por parte dos pais e dos técnicos.
Percebe-se com esses resultados que adesão está geralmente associada às
motivações intrínsecas, enquanto o abandono às motivações extrínsecas.
O motivo é fundamental em todos os processos de aprendizagem e em todos os
níveis de habilidade, sendo que o motivo é o principal responsável pelo início e
manutenção de qualquer atividade executada pelo ser humano. A motivação pode ser
considerada como a peça fundamental e também aquela que origina todo o complexo
processo motivacional (Machado, 2006).
Para Santos, Silva e Hirota (2008), a motivação é percebida de forma individual,
e este fator está relacionado diretamente ao seu desempenho. Psicólogos apontam que
a motivação determina o comportamento do indivíduo, alguns aspectos são
fundamentais para a motivação do indivíduo que podem ser de fonte interna, como
ansiedade, relação com os amigos da equipe, ou externa, como torcida, técnico e
outros (Hirota, Schindler, Villar, 2006).
Segundo Samulski (2009), vários são os fatores de motivação para a prática de
esporte, podendo ser pessoal como personalidade, necessidade, interesse, motivos,
metas e expectativas e/ou, situacionais como estilo de liderança, facilidade, tarefas
atrativas, desafios e influências sociais. Todos esses fatores motivacionais podem
colaborar diretamente em resultados insatisfatórios (Sonoo et al., 2010).
A absorção de punições e críticas durante situações às quais o praticante de
esporte é exposto pode afetar os indivíduos de formas diferentes, sendo elas
motivadoras ou frustrantes, colaborando na sua aprendizagem (Rubio, 2003). Machado
(2006) explica que a motivação se apresenta de duas maneiras, de forma intrínseca,
partindo de cada indivíduo, e extrínseca, pela qual haverá uma amplitude de
recompensas cujo objetivo principal não é somente o prazer de jogar, mas também
provar toda sua capacidade de rendimento no esporte. Além das diferentes definições,
essas duas fontes têm diferentes qualidades e defeitos que se completam. Assim,
7
apesar da motivação extrínseca apresentar-se menos eficiente do que a intrínseca,
atualmente, este tipo de motivação não deve ser descartado, pois é em razão dela e
por meio dela que muitos indivíduos permanecem na prática de esporte, buscando,
principalmente, prestígio e ascensão social.
Estudo realizado por Machado (2006) mostra que a motivação extrínseca pode
ser também orientação, podendo partir de diversas regulações psicológicas e que
influenciarão na adesão da carreira do atleta. Também pode ocorrer diminuição da
motivação intrínseca quando a extrínseca predominar. O predomínio da motivação
extrínseca pode gerar metas dependentes de atitudes extrínsecas, em que o indivíduo
deixa de valorizar a atividade em si visando somente às premiações (extrínseco). Os
comportamentos motivados intrinsecamente tendem a ser mais produtivos, e perduram
por maior tempo do que quando as motivações são extrínsecas. Quando os indivíduos
deixam de perceber suas ações como internamente guiadas para se sentirem
comandadas, elas tendem a mais facilmente se desmotivarem para a prática de
esporte, pois não se percebem como autônomas para essa escolha (Guimarães,
Boruchovitch, 2004).
Em geral, o entendimento da motivação extrínseca foi tratado como um construto
unidimensional, sendo oposição à motivação intrínseca e comportamentos autônomos
(Deci, Ryan, 1985). Porém, mediante análise mais detalhada percebe-se que existem
diversos tipos de variáveis externas com diferentes características que podem
influenciar o comportamento, levando a diferentes resultados. Por exemplo, praticar
esporte por exigência da família é diferente de demonstrar as habilidades para alguma
pessoa, apesar de ambas serem motivadas extrinsecamente. Estudos atuais têm
investigado essa possibilidade, verificando que são diferentes os tipos de motivação
extrínseca, sugerindo que essa seja subdividida em diferentes construtos (Wilson,
Rodgers, 2004; Brickell, Chatzisarantis, 2007). Fundamentados nisso, estudos
embasados na Teoria da Autodeterminação (TeD) têm observado os comportamentos
para a prática de esporte e exercício físico motivados extrinsecamente variando de
acordo com os níveis de regulação, sendo essa uma nova tendência nos estudos sobre
o tema.
8
2.2. Teoria de Autodeterminação
A Teoria da Autodeterminação (TaD) se alia para compreender os fatores de
motivação para a prática de exercício físico e esporte em jovens de diferentes grupos
populacionais. Essa teoria propõe que a motivação seja um continuum, caracterizada
por níveis de autodeterminação, que variam do mais autodeterminado (motivação
intrínseca) ao menos autodeterminado (motivação extrínseca e a amotivação). A teoria
analisa como uma pessoa age (grau em que uma motivação é mais ou menos
autodeterminada), como os diversos tipos de motivação levam a diferentes resultados,
e como as condições sociais apoiam ou prejudicam o bem-estar humano por meio de
suas necessidades psicológicas básicas (Vierling, Standage, Treasure, 2007).
Existem indicativos de que quando os fatores de motivação são de origem
intrínseca tornam-se mais significativos para permanência dos sujeitos na prática de
exercício físico (Reed, Cox, 2007; Ryan, Frederick, Lepes, Rubio, Sheldon, 1997;
Standage, Sebire, Loney, 2008). Também, evidencias experimentais apontam que
sujeitos motivados mediante fatores extrínsecos, porém com regulações intrínsecas
para a prática do exercício físico e esporte, tendem a apresentar maior adesão a sua
prática (Brickell, Chatzisarantis, 2007; Edmunds et al., 2006, Wilson et al., 2003).
Porém, o comportamento é regulado por três necessidades psicológicas, que
atuam de forma interdependente: competência, autonomia e relacionamento.
Especificamente, a competência refere-se à capacidade do sujeito de interagir de
maneira eficaz com o seu ambiente enquanto realiza tarefas desafiadoras; autonomia
concerne ao nível de independência e controle das escolhas percebidas pelo sujeito; e
relacionamento está ligado a quanto alguém percebe um senso de conectividade com
outros sujeitos do ambiente (Milne, Wallman, Guilfoyle, 2008). Dessa forma, o
comportamento se regula em função da satisfação dessas necessidades, e facilita ou
dificulta a motivação.
Neste caso, isto resulta em dois comportamentos reguladores: um
comportamento percebido como independente e próprio do sujeito, com ações iniciadas
e reguladas pelo sujeito (motivação intrínseca); e um comportamento regulado
intensamente por mecanismos externos (motivação extrínseca) (Ryan, Deci, 2000).
9
Nessa perspectiva, Vallerand (2001) complementa com o modelo hierárquico da
motivação que propõe sua variação em graus de autodeterminação, em um continuum
que se posiciona entre um nível baixo e um nível alto de autodeterminação, sendo
classificada em amotivação (nível mais baixo de autodeterminação), motivação
extrínseca e motivação intrínseca (autodeterminada).
Todavia, o interesse do sujeito pode variar em termos de intensidade e causas.
Neste sentido, pode ter pouca motivação para a ação (amotivação); uma motivação
referente à realização da atividade para satisfação de demandas externas, por culpa ou
vergonha (motivação extrínseca de regulação externa); uma motivação baseada na
participação em atividades pelo sentimento de obrigação, coerção e fuga de sensações
negativas (motivação extrínseca de introjeção); ou ainda uma motivação oriunda de
uma atividade que em si não dá prazer, mas na qual o sujeito se identifica com o
resultado e este é valorizado (motivação extrínseca de identificação). O último estágio
da motivação é aquele que diz respeito ao prazer, interesse e satisfação
proporcionados pela própria atividade (motivação intrínseca) (Vallerand, Losier, 1999).
Especialistas da área consideram a dicotomia intrínseca-extrínseca
demasiadamente simplista e considera um continuum de forma mais autodeterminada
para a menos autodeterminada (Fernandes, Vasconcelos-Raposo, 2005). Assim, a TaD
assume a existência de quatro níveis de motivação extrínseca, que está presente
quando o comportamento não acontece exclusivamente para satisfação pessoal, mas
visto como um meio para atingir um determinado fim (Boiché, Sarrazin, Pelletier, 2007).
10
A esquerda do continuum – amotivação – é um estado em que o sujeito não tem
ainda a intenção de realizar o comportamento, não havendo nenhum tipo de regulação,
externa ou interna. Neste caso, o sujeito não percebe motivos para adesão ou continuar
na prática de exercício físico ou esporte.
Seguindo para o estilo de regulação externa da motivação extrínseca, que é o
comportamento realizado para suprir uma demanda de ordem externa ou receber
algum tipo de recompensa. Como por exemplo, a prática do esporte por obrigação ou
para evitar algum tipo de punição.
A próxima com regulações menos externas, está à regulação introjetada, que se
diferencia das demais por se tratar de recompensas e punições internas, havendo
sentimento de obrigação, ansiedade, ou orgulho. Exemplo, prática esporte para evitar
sansões autoimpostas.
Com comportamento mais internamente a regulação identificada, considera o
sujeito importante e aprecia os resultados e benefícios da participação em tal atividade.
Observa-se essa situação quando uma pessoa pratica esporte por saber dos benefícios
para sua saúde, ainda que o comportamento em si não seja agradável.
Na regulação integrada, forma mais autodeterminada ou autônoma da regulação
11
externa, as ações caracterizadas pela regulação integrada têm muitas qualidades da
motivação intrínseca, embora seja considerada extrínseca por visar algum tipo de
resultado além do prezar da prática. Exemplificando, pratica esporte em razão de sua
coerência com outros aspectos pessoais.
A motivação intrínseca, que é um processo caracterizado pela escolha pessoal,
satisfação e prazer. Desta maneira, as regulações para forma as tarefas são
unicamente internas. Ao praticar esporte com finalidade em si mesmo.
Os distintos estilos de regulação e as associações identificadas no continuum da
autodeterminação têm sido confirmados mediante estudos de meta-análises no
contexto de esporte, exercício físico e educação física (Chatzisarantis, Hagger, Biddle,
2003). Em síntese, assume-se que, a motivação intrínseca e determinadas formas de
motivação extrínseca, como as regulações integrada e identificada, predispõe para um
envolvimento psicológico mais favorável, o que favorece os indicadores motivacionais
positivos. Em contrapartida, os tipos de motivação associados aos baixos níveis de
autodeterminação, como as regulações Introjetada e externa, correspondem às
consequências motivacionais não adaptativas.
2.3. Recomendações para validação de questionários
Na realidade brasileira, em que são bastante escassos os estudos relacionados
ao campo da psicologia do esporte, tem-se duas opções para identificar os motivos que
possam levar os jovens a praticar esporte: (a) idealizar e validar questionário especifico
para a situação em questão; e (b) traduzir e validar para o português brasileiro
questionário disponibilizado na literatura em outro idioma. Neste caso, a segunda opção
parece ser a mais indicada, uma vez que evita a excessiva proliferação de
questionários sobre os mesmos construtos e permite comparações mais robustas entre
resultados encontrados em estudos envolvendo jovens inseridos em diferentes
contextos culturais.
Contudo, traduzir e validar questionários de cunho psicológico para que sejam
utilizados em outras culturas envolve mais que uma simples tradução de texto para
outro idioma. Neste particular, a tradução envolve procedimentos metodológicos
12
rigorosos, para que possa ser preservada a relevância do questionário, levando em
consideração aspectos e conceitos próprios de determinada cultura, bem como,
aspectos e conceitos que são universais a todas as culturas (Si, Lee, 2007).
Vallerand (1989) desenvolveu metodologia para tradução e adaptação
transcultural de questionários psicológicos sistematizada em sete etapas:
(a) Preparar versão preliminar, mediante recursos de tradução e
retrotradução, sendo sugerido o envolvimento de dois tradutores e dois retrotradutores;
(b) Analisar versão preliminar e preparar versão experimental, para
comprovar se a versão retrotraduzida reflete com precisão a versão original. Para esta
etapa sugere-se envolvimento de um painel de análise composto por três a cinco
especialistas na área, com amplo domínio de ambos os idiomas e com experiência em
tradução de textos acadêmicos;
(c) Pré-testar versão experimental do questionário, em uma amostra da
população a que se destina;
(d) Identificar validade concorrente e de conteúdo, mediante aplicação
simultânea de ambas as versões do questionário (original e traduzida) em sujeitos
bilíngues da população alvo. Validade de conteúdo é tratada pelo painel de análise
acionado no item anterior;
(e) Identificar fidedignidade de respostas dos itens, mediante réplica de
aplicação do questionário traduzido com intervalo de 2-4 semanas;
(f) Identificar validade de construto, para verificar se os itens do questionário
traduzido possam medir na nova versão o construto teórico que supostamente foi
idealizado para medir; e
(g) Estabelecer normas de aplicação e interpretação dos resultados, para que
possam ser realizadas comparações com referências apropriadas.
De destacar no campo estatístico a importância dos questionários traduzidos
atenderem critérios psicométricos próprios deste tipo de medida. Neste sentido, duas
importantes propriedades métricas devem ser consideradas: fidedignidade e validade
de construto. No que se refere à fidedignidade, torna-se necessário considerar dois
13
indicadores principais: (a) grau de estabilidade temporal ou reprodutibilidade,
identificado mediante análise teste-reteste das respostas de cada item e das
subescalas do questionário, baseada em sua aplicação ao mesmo sujeito em dois
momentos distintos; porém, em condições semelhantes; e (b) consistência interna,
identificada mediante análise da extensão com que um conjunto de itens contribui para
definição da mesma subescala.
O grau de estabilidade temporal ou reprodutibilidade é calculado por intermédio
dos coeficientes de concordância kappa ou correlação intra-classe, assumindo que,
quanto mais elevado o coeficiente encontrado, maior é a clareza com que os itens são
apresentados e mais estáveis no tempo são suas respostas. Valores referidos na
literatura apontam como mínimo aceitável coeficiente equivalente a 0,70, embora em
alguns casos valores iguais ou superiores a 0,60 possam ser satisfatórios. Por outro
lado, para o cálculo da consistência interna recorre-se à estimativa do alfa (α) de
Cronbach; assumindo que α = 1 refere-se à consistência interna perfeita. No entanto,
valores de α excessivamente elevados podem indicar eventual redundância entre os
itens do questionário. Seja como for, via de regra, tem-se adotado como referência os
seguintes intervalos de valores: inaceitável α < 0,60; fraca α = 0,60-0,69; razoável α =
0,70-0,79; boa α = 0,80-0,89; excelente α ≥ 0,90 (Vallerand, 1989).
Através da validade de constructo procura-se garantir que o questionário possa
efetivamente oferecer indicações do atributo psicológico em questão, mediante
verificação da estrutura de seus itens via análises fatoriais exploratória (AFE) e
confirmatória (AFC). A AFE torna possível que um conjunto de itens seja reunido em
fatores/subescalas específicas, ou seja, ao explorar as correlações entre os itens,
permite o seu agrupamento em dimensões, estimando a quantidade de
fatores/subescalas que são necessários para explicar a variância dos itens e as
relações estruturais que os unem entre si. Por vezes, o processo de agrupamentos dos
itens em fatores/subescala pode sugerir redução na quantidade de itens para compor a
nova versão do questionário traduzido.
Pressupostos estatísticos apontam que deva existir uma correlação elevada
entre as variáveis do modelo fatorial para que a AFE tenha utilidade na estimativa de
fatores/subescalas comuns, sendo a medida de adequação da amostragem de Kaiser-
14
Meyer-Olkin e o teste de esfericidade de Barlett os indicadores mais utilizados para
aferir a qualidade das correlações para prosseguir, ou não, com a AFE. Ainda, os
métodos mais utilizados para extração dos fatores/subescalas são análise de fatores
comuns (CFA: Common Factor Analysis) e análise de componentes principais (PCA:
Principal Components Analysis). Para que se possa alcançar uma solução fatorial mais
clara e objetiva e que venha a maximizar os pesos fatoriais dos itens, faz-se necessário
recorrer aos procedimentos de rotação dos fatores, mediante método de rotação
oblíquo ou ortogonal. A decisão por utilizar um ou outro método de rotação deve ocorrer
em função da correlação esperada entre os fatores/subescalas. Se, em tese, é
esperado que os fatores/subescalas não estejam correlacionados entre si, sugere-se
utilizar o método de rotação ortogonal. Porém, se é esperado que os fatores/subescalas
possam se correlacionar entre si, a opção deverá recair sobre o método de rotação
oblíqua. No primeiro caso, a rotação mais utilizada é a Varimax, enquanto no segundo
caso é a Promax.
Após definição dos métodos a serem utilizados para realização da AFE,
colocam-se em questão os critérios para determinação dos fatores/subescalas e
retenção/eliminação dos itens do questionário em questão. Para tanto, no momento da
decisão, sugere-se que sejam levados em consideração a seguinte combinação de
critérios:
(a) Critério de Kaiser (medida da variância explicada definida na mesma
métrica dos itens): reter fatores/subescalas com valor próprio igual ou superior a uma
unidade (Eigenvalue ≥ 1). Também, apesar de sua natureza subjetiva, deve-se analisar
o gráfico do “cotovelo” (scree plot) e observar a quantidade de fatores/subescalas
acima da “dobra do cotovelo”;
(b) Comunalidades (proporção da variância de cada item que é explicada
pelo conjunto de fatores/subescalas extraídos): valores acima de 0,50 indicam que boa
parte da variância dos resultados de cada item é explicada pela solução fatorial; porém,
a eliminação do item deve somente ser considerada com valores abaixo de 0,40;
(c) Pesos fatoriais (correlação entre item e fator/subescalas): são
considerados significativos quando o valor é igual ou superior a 0,50; contudo, pode-se
15
assumir que valores até 0,30 venham a ser relevantes; porém, deve ser considerado
como mínimo para que possa ser interpretado. Pesos fatoriais superiores a 0,70 são
considerados indicativos de uma estrutura muito bem definida;
(d) Pesos fatoriais cruzados: inexistência de itens com pesos fatoriais acima
de 0,30 em mais que um fator. Se isso acontecer e se a diferença entre os pesos for
igual ou inferior a 0,15, deve-se considerar a eliminação do item;
(e) Proporção de variância explicada pelos fatores: devem-se reter
fatores/subescalas com pelo menos 40% de capacidade explicativa. Soluções fatoriais
que explicam 60% da variância dos dados são consideradas bastante satisfatórias;
(f) Consistência interna do fator: deve-se garantir valores associados ao α de
Cronbach ≥ 0,70. Ainda, sugere-se analisar dois outros aspectos adicionais: o valor da
consistência interna em caso de eliminação de algum item, sendo necessário que o
valor de α não aumente caso isso aconteça, e as correlações entre o item e o valor do
fator/subescala, sendo aconselhável valores superiores a 0,50; e
(g) Retenção de fatores/subescalas com pelo menos três itens: esta regra é
de extrema importância por questões de estimativa do modelo em fase posterior de
validação do questionário. Contudo, muitos itens por fator/subescala também não é
necessariamente a melhor opção, em razão do risco de dificultar uma verdadeira
unidimensionalidade do fator/subescala.
Ainda, a quantidade de sujeitos necessária para processar uma AFE é outra
preocupação que deve ser levada em conta. Neste caso, a razão de 10:1 (quantidade
de sujeitos por cada item do questionário) é uma proposta de consenso na literatura
(Hair, Black, Babin, Anderson, Tatham, 2006).
Se, por um lado, a AFE é utilizada para explorar as correlações entre as
variáveis disponíveis e identificar possíveis fatores/subescalas que explicam sua
variância, por outro, a AFC é empregada para confirmar se a estrutura do modelo se
ajusta adequadamente aos dados. Ao contrário do que ocorre na AFE, em que
supostamente não existem informações à priori sobre a quantidade de
fatores/subescalas e sua relação com os itens, na AFC o modelo (quantidade de
fatores/subescalas, itens correspondentes e erros de medida) é definido e especificado
16
de antemão. Em síntese, tanto a AFE como a AFC tem como objetivo reproduzir as
relações observadas entre o grupo de itens e os fatores/subescalas. No entanto,
diferença fundamental reside na quantidade e na natureza das
especificações/restrições realizadas à priori. Para tanto, a AFC requer consistentes
fundamentos empíricos e conceituais para guiar as especificações a serem estimadas
no modelo.
O método mais frequentemente utilizado na AFC é o da máxima verosimilhança
(Maximum Likeliood), tendo como principal objetivo encontrar as estimativas dos
parâmetros como se fosse à verdadeira população, maximizando a verosimilhança da
matriz de covariância dos dados com a matriz de covariância restrita pelo modelo.
Neste caso, mediante teste de qui-quadrado (χ2), são analisadas eventuais
discrepâncias entre as duas matrizes. No entanto, analisar a adequação do modelo
somente com base no teste de χ2 pode não ser a melhor abordagem, considerando que
existem outros índices que fornecem informações bastante úteis na determinação do
seu ajuste. Apesar da multiplicidade de índices para análise dos modelos não reunir
consenso na literatura, parece existir tendência sustentada para utilizar os seguintes
índices de ajuste:
(a) Teste de Qui-Quadrado (χ2): oferece indicação quanto às eventuais
discrepâncias entre a matriz de covariâncias dos dados e a matriz de covariância do
modelo. Valores de p não significativos sugerem bom ajuste;
(b) Qui-Quadrado Normalizado (χ2/gl): corresponde ao valor de χ2 dividido
pelo grau de liberdade (gl). Reduz a sensibilidade do teste ao tamanho da amostra e à
complexidade do modelo. Valores de χ2/gl < 3 sugerem bom ajuste;
(c) Standardized Root Mean Square Residual (SRMSR): representa o valor
da média residual que deriva dos valores de ajuste entre as matrizes de correlações do
modelo e dos dados observados. Valores de SRMSR ≤ 0,08 sugerem bom ajuste;
(d) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA): expressa o grau de
erro do modelo, indicando a extensão com que os dados são ajustados ao modelo
perfeito. Valores de RMSEA ≤ 0,06 sugerem bom ajuste;
17
(e) Comparative Fit Index (CFI): deriva da comparação das covariações do
modelo hipotético com um modelo base nulo, ou seja, apresenta uma estimativa da
melhoria de ajuste do modelo especificado sobre um modelo nulo em que as variáveis
não estão correlacionadas. Valores de CFI ≥ 0,95sugerem bom ajuste;
(f) Non-Normed Fit Index (NNFI): bastante semelhante ao CFI, o que sugere
utilizar apenas um deles. No entanto, o NNFI considera os graus de liberdade,
incluindo, portanto, uma função de penalização para os parâmetros livres que não
melhoram o ajuste. Apesar de conceitualmente similares ambos os índices oferecem
diferentes correções em função do tamanho da amostra (CFI) e da complexidade do
modelo (NNFI). Valores de NNFI ≥ 0,95 sugerem bom ajuste.
Os valores de corte recomendados como indicadores de bom ajuste foram
propostos por Hu e Bentler (1999). Neste sentido, parece não existir dúvida de que
esses valores de corte apresentam sustentação empírica bastante consistente; porém,
não deve ser interpretada como regra universal, considerando que se pode correr o
risco de estar rejeitando bons modelos. Portanto, deve-se ter em mente que as
sugestões de valores de corte dos índices de ajuste são apenas linhas orientadoras
gerais e não, necessariamente, regras definitivas.
O objetivo principal da AFC é fornecer respostas sobre o ajuste do modelo aos
dados, apontando se o modelo alcançado é ou não válido. Para tanto, pressupostos
estatísticos subjacentes a AFC solicitam amostras de maior tamanho que na AFE.
Mesmo sendo sugerido razão de 10:1, no caso da AFC a quantidade de sujeitos é
relativo a cada parâmetro a ser estimado no modelo, e não para cada item do
questionário, como é proposto para a AFE.
2.4. Questionários para identificar motivos e motivação para prática de esporte
Questionário autoadministrado é considerado método padrão para levantamento
de informações associadas aos motivos para prática de esporte. Neste sentido,
encontram-se disponíveis na literatura diversas opções de questionários para esta
finalidade, sendo na sua maioria, concebidos para atender a população jovem de
países anglo-saxões – tabela 1.
18
Por esse motivo, além da tradução linguística, o questionário requer a adaptação
cultural do idioma utilizado na elaboração dos itens e dos conceitos subjacentes aos
fatores/subescalas considerados quanto aos aspectos de motivação. Também,
identificar as propriedades psicométricas do questionário traduzido e adaptado para
aplicação em uma população específica torna-se de fundamental importância para
garantir a qualidade das informações.
Tabela 1 – Questionários disponibilizados na literatura para identificar os motivos para
prática de esporte em jovens.
Questionários Proponentes
Intrinsic Motivation Inventory – IMI Ryan (1982)
Participation Motivation Questionnaire – PMQ Gill, Gross, Huddleston (1983)
Sport Orientation Questionnaire – SOQ Gill, Deeter (1988)
Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire – TEOSQ
Duda, Nicholls (1992)
Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire – PMCSQ
Seifriz, Duda, Chi (1992)
Sport Motivation Scale – SMS Pelletier, Tuson, Fortier, Vallerand, Brière, Blais (1995)
Perception of Success Questionnaire – POSQ Robert, Treasure, Balague (1998)
Situational Motivation Scale – SIMS Guay, Vallerand, Blanchard (2000)
Inventário de Motivação à Pratica Regular de Atividade Física ou Esportiva – IMPRAFE
Balbinotti (2004)
Behavioral Regulation in Sport Questionnaire – BRSQ
Lonsdale, Hogde, Rose (2008)
Intrinsic Motivation Inventory (IMI):
O questionário mais utilizado para identificar a motivação intrínseca é o IMI,
idealizado inicialmente por Ryan (1982) e posteriormente aperfeiçoado por McAuley e
colaboradores (McAuley, Ducan, Tammem, 1989; McAuley, Wraith, Duncan, 1991).
Originalmente o IMI apresentava duas versões: uma com 18 itens e outra com 16 itens.
Na sequência, ambas as versões originais foram unidas, com eliminação dos itens
redundantes, o que resultou em versão única com 23 itens, acompanhados de escala
de medida de tipo Likert de sete pontos (1 = “Discordo Totalmente” e 7 = “Concordo
19
Totalmente”), repercutindo favoravelmente no aprimoramento de suas características
psicométricas.
O IMI é um questionário que permite identificar a intensidade da motivação
intrínseca e auto-regulações em relação à qualquer tipo de atividade do comportamento
humano. A forma com que os itens são formulados permite substituir a expressão mais
genérica de atividade praticada pela designação da atividade efetivamente praticada
pelo jovem inquirido, por exemplo, prática de esporte, prática de exercício físico, aula
de educação física, etc.
Informações reunidas mediante a aplicação do IMI permite constituir quatro
fatores/subescalas de motivação: (a) interesse/envolvimento; (b) percepção de
competência; (c) esforço/importância; e (d) pressão/tensão. Enquanto as três primeiras
subescalas se referem às facetas positivas, a quarta subescala reflete faceta negativa
da motivação intrínseca. Ainda, é licito considerar o somatório da pontuação dos 23
itens como indicador da motivação intrínseca global. Neste caso, as consistências
internas dos fatores/subescalas, calculadas mediante valores de α de Cronbach,
oscilam entre 0,68 e 0,85.
De destacar que existem na literatura internacional versões do IMI traduzidas e
adaptadas para vários idiomas, inclusive português europeu (Fonseca, Paula-Brito,
2001). Especificamente na versão disponibilizada em português europeu, os
procedimentos de validação apontaram estrutura fatorial envolvendo somente 18 itens;
porém, com valores equivalentes à consistência interna discretamente inferiores aos
observados na versão original.
Participation Motivation Questionnaire (PMQ):
O PMQ foi idealizado por Gill, Gross, Huddleston (1983) e caracteriza-se como
um dos questionários de maior destaque na literatura. Para sua proposição os autores,
baseando-se na literatura da época, elaboraram grande quantidade de itens
relacionados aos possíveis motivos para prática de esporte e aplicaram
experimentalmente em amostra de jovens como projeto piloto. Diante das primeiras
respostas elaboraram nova versão do questionário com 37 itens, similar a versão atual
20
existente. Na sequência, após alguns ajustes e adaptações, chegou-se ao questionário
definitivo, com 30 itens equivalentes ao elenco de possíveis motivos que possam levar
jovens a praticar esporte, agrupados em oito fatores/subescalas de motivação: (a)
reconhecimento social; (b) atividade de grupo; (c) aptidão física; (d) emoção; (e)
competição; (f) competência técnica; (g) afiliação; e (h) diversão. Em seu delineamento
o jovem inquirido indica o grau de importância que mais se aplica para a sua pratica de
esporte, mediante escala de medida de tipo Likert de três pontos.
O questionário procura identificar a motivação dos jovens concentrando-se no
ambiente esportivo de forma geral, ou seja, competitivo ou não competitivo, buscando
identificar os prováveis motivos de permanência e abandono da prática de esporte. O
PMQ é um dos questionários mais utilizados nos EUA, encontrando-se também,
versões traduzidas e adaptadas em vários outros países. Especificamente no idioma
português são disponibilizadas quatro versões traduzidas e adaptadas do PMQ. O
denominado Questionário de Motivação de Atividades Esportivas – QMAD em
português europeu (Serpa, 1992), Inventário de Motivação para a Prática Desportiva –
IMPD (Gaya, Cardoso, 1998) e a Escala de Motivos para Prática Esportiva – EMPE
(Barroso, 2007) em português brasileiro. Recentemente nova tradução e adaptação
foram realizadas envolvendo jovens atletas brasileiros; porém, seus idealizados
optaram por manter a denominação original de PMQ (Guedes, Silvério Netto, 2013).
O QMAD é uma adaptação portuguesa do PMQ que manteve na versão
traduzida os 30 itens propostos inicialmente; porém, reagrupados em sete
fatores/subescalas de motivação e mediante disposição acentuadamente diferente da
versão original. Na sequência, Fonseca (1999) categorizou o QMAD em oito
componentes: status social, forma física, competição, afiliação geral, competência
técnica, afiliação técnica/equipe, emoções e prazer/ocupação do tempo livre. Porém,
estudos posteriores apontaram limitações metodológicas na definição do QMAD que
podem comprometer sua aplicação (Fonseca, Maia, 2001).
O IMPD também é uma versão adaptada do PMQ e utilizou como referência a
versão já traduzida para o idioma português europeu do QMAD. Para tanto, em estudo-
piloto por intermédio de abordagem exploratória envolvendo jovens de 7 a 14 anos de
idade, jovens foram convidados a descrever os cinco principais motivos que os levavam
21
a praticar esporte, o que reduziu arbitrariamente a quantidade de itens de 30 para 19.
Neste caso, foram excluídas questões originais e inseridas novas questões. O IMPD
abriga as questões em três fatores/subescalas de motivação: (a) competência
esportiva; (b) amizade/lazer; e (c) saúde. Mediante análise mais detalhada identifica-se
que quantidade significativa de itens inseridos no IMPD não esta presente na versão
original do PMQ e seus conteúdos são claramente voltados para crianças em idades
bastante precoces. Logo, parece mais lógico assumir que o IMPD não seja uma
tradução/adaptação do PMQ, mas sim, instrumento inédito direcionado a identificar os
motivos que levam crianças ainda não envolvidas em programas sistematizados de
treino a praticar esporte.
O EMPE é uma versão traduzida e adaptada do PMQ com objetivo de ser
aplicado em jovens adultos (≥ 18 anos), e contem os 30 itens da versão original do
PMQ com inclusão de três outros itens específicos relacionados à saúde: item 11 - “Eu
quero manter a saúde”; item 32 - “Eu quero melhorar ainda mais minha saúde”; e item
22 - “Eu quero adquirir hábitos saudáveis”. O EMPE abriga sete fatores/subescalas
motivacionais: (a) status social; (b) condicionamento físico; (c) energia; (d) contexto; (e)
técnica; (f) afiliação; e (g) saúde. Em comparação com a versão original existem duas
dimensões da escala de pontuação. A primeira é com escala de medida de tipo Likert
com cinco pontos (1 = “Nada Importante” a 5 = “Totalmente Importante”). A outra com
escala de medida de 11 pontos (0 = “Nada Importante” a 10 = “Totalmente Importante”).
A quarta tentativa de tradução do PMQ para o idioma português foi validada
transculturalmente por Guedes e Silvério Netto (2013), com discretas adaptações para
a população alvo, envolvendo 30 itens reunidos em oito fatores/subescalas de
motivação, precedidos pelo enunciado “Eu pratico esporte para ...”. Em comparação
com a versão original, a versão traduzida do PMQ apresenta diferenças quanto às
dimensões da escala de pontuação e ao perfil esportivo dos sujeitos selecionados em
um e outro estudo. Na versão original utilizou-se escala de medida de tipo Likert de três
pontos, enquanto na versão traduzida foi considerada escala de medida de cinco
pontos; logo, com maior capacidade discriminatória em suas respostas. No que se
refere ao perfil esportivo das amostras selecionadas em um e outro estudo,
originalmente o PMQ foi aplicado em jovens engajados em programas de férias de
22
verão envolvendo esporte em um contexto de lazer, enquanto no estudo de validação
do PMQ para o idioma português os jovens se encontravam em um contexto de
elevado nível de competição, participando da etapa final da principal competição juvenil
do Estado do Paraná. Seus indicadores de validação estatística apontaram que, em
conjunto, os oito fatores/subescalas de motivação podem explicar proporção de
variância próxima de 67%. Ainda, a solução fatorial gerada foi similar a apresentada
originalmente, com consistência interna dos fatores/subescalas de motivação, apontada
pelos valores de α de Cronbach, variando entre 0,54 e 0,83.
Sport Orientation Questionnaire (SOQ):
O SOQ foi idealizado por Gill e Deeter (1988) para identificar os motivos e as
expectativas associadas à prática de esporte em atletas jovens. Neste caso,
considerou-se o esporte como uma prática multidimensional relacionada às suas
orientações e especificidades. A versão original do questionário foi idealizada em
inglês; contudo, são disponibilizadas versões traduzidas e adaptadas em outros
idiomas, o que não é o caso do idioma português. Também, existe versão do SOQ
para ser aplicada em praticantes de esporte com necessidades especiais, mais
especificamente em cadeirantes (Skordilis, Koutsouki, Asonitou, Evans, Jensen,
Kenneth, 2001).
De maneira sintética, o SOQ procura atender basicamente três
fatores/subescalas: competitividade, orientação para vitória e orientação para metas. O
fator/subescala competitividade impacta consideravelmente na opção pela prática de
esporte, assumindo pressupostos de que, aqueles jovens com traços mais competitivos
se identificam com competição mais exacerbada e, direta ou indiretamente, buscam
mais intensamente participar de competições. O fator/subescala com orientação para
vitória se identifica com a importância de vencer, em que jovens orientados para vitória
dimensionam seu sucesso em comparação com o desempenho de outros, e não define
seus padrões pessoais. Por outro lado, o fator/subescala com orientação para metas
procura identificar a importância do desempenho pessoal no esporte. Portanto, jovens
orientados para metas competem consigo mesmo, o que minimiza eventuais
23
comparações de seu desempenho com de outros.
O SOQ é composto por 25 itens, sendo 13 relacionados ao fator/subescala
competitividade, seis ao fator/subescala com orientação para vitória e outros seis ao
fator/subescala com orientação para metas. Os coeficientes α de Cronbach
originalmente observados equivalem a 0,90, 0,86 e 0,80, respectivamente, o que indica
elevada consistência interna para os três fatores/subescalas que compõe o
questionário. Cada item é acompanhado por escala de medida de tipo Likert de cinco
pontos (1 = “Strongly Agree” a 5 = “Strongly Disagree”). Importante ressaltar que o
questionário foi projetado para analisar jovens que praticam esporte sem nenhuma
restrição a experiência de prática.
Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ):
Este questionário foi idealizado por Duda e Nicholls (1992), originalmente em
inglês; no entanto, é possível encontrar versões traduzidas, adaptadas e validadas para
outros idiomas, inclusive para o português europeu (Fonseca, Biddle, 2001), com a
denominação Questionário de Orientação para o Ego e para a Tarefa no Desporto
(TEOSQp), e português brasileiro (Hirota, 2006). Ainda, também é disponibilizada
versão adaptada para praticantes de esporte com necessidades especiais,
especificamente para cadeirantes (Fliess-Douer, Hutzler, VanLandewijck, 2003).
O TEOSQ tem por objetivo analisar perspectivas de ajustes do esporte,
identificando a propensão do jovem em ser orientado pela Tarefa ou pelo Ego em
determinados contextos. Neste caso, os elementos direcionados para orientação
voltada à Tarefa preocupam-se fundamentalmente em aprimorar as capacidades e
habilidades individuais, enquanto os jovens cuja orientação se prende ao Ego formulam
suas percepções na competência, comparando seu desempenho com o de outros
praticantes. Logo, a orientação para Tarefa esta associada ao divertimento e ao
desenvolvimento da sociabilidade mediante a prática de esporte; portanto, predomínio
da motivação intrínseca. Por outro lado, o jovem que procura constantemente se
destacar frente aos colegas e aos adversários transparece orientação para Ego e
denota a maior participação da motivação extrínseca (Hardey, Gomes, Gould, 1996).
24
O questionário é constituído por 13 itens que traduzem tipos distintos de
objetivos perseguidos pelos jovens com vistas ao sucesso no contexto esportivo. O
respondente se posiciona frente a cada item mediante escala de medida de tipo Likert
de cinco pontos (1 = “Discordo Totalmente” a 5 = “Concordo Totalmente”, encabeçado
pelo enunciado “Eu me sinto mais bem sucedido no esporte quando ...”. A concepção
do questionário originou estrutura de dois fatores/subescalas (Tarefa e Ego), com
diversos estudos demonstrando a adequação de seus índices de consistência interna
(Fonseca, Paula-Brito, 2005). Importante característica para preenchimento do
questionário refere-se à época em que os jovens se sentem mais bem sucedidos em
seu esporte, procurando se posicionar em todas os itens com base neste período.
Na tentativa de aprimorar as informações levantadas é oferecida versão
alternativa do TEOSQ para treinadores, o que também foi traduzida, adaptada e
validada para o português europeu, designado Questionário de Orientação para o Ego
e para a Tarefa, versão Treinador – TEOSQpt (Fonseca, Paula-Brito, 2005), mas não
no português brasileiro. Neste caso, a intenção é obter referência de como os jovens
interpretam o modo como os treinadores configuram seus objetivos de realização. Na
versão alternativa, antecedendo os 13 itens apresentados aos respondentes,
distribuídos pelos dois fatores/subescalas (Ego e Tarefa), é anunciada a questão: “Para
o/a treinador/a tenho mais sucesso no meu esporte quando...”.
Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire (PMCSQ):
O PMCSQ foi idealizado por Seifriz, Duda e Chi (1992) com finalidade de
analisar clima motivacional específico do esporte, como Tarefa e Ego, respectivamente
intitulado de mestria e performance. Característica principal do questionário é a
identificação de possíveis causas de sucesso no esporte. Os itens foram projetados
para analisar grau de percepção da motivação intrínseca oferecendo ênfase ao
envolvimento na mestria e na performance. Inicialmente, a partir de considerações
teóricas e empíricas, o questionário foi proposto com 106 itens. Na sequência, foi
reduzido para 40 itens e finalizou com 21 itens, dos quais, nove se identificam com o
fator/subescala de mestria e 12 com o fator/subescala de performance, recebendo
25
denominação de PMCSQ-1.
Os itens do fator/subescala de mestria descrevem a ênfase no
esforço/dedicação, no aperfeiçoamento das habilidades envolvidas, na percepção da
contribuição de cada membro para a equipe, nos erros aceitos como parte do processo
de aprendizagem e na cooperação/coesão reforçada pelos membros da equipe. Os
itens do fator/subescala de performance enfatizam a rivalidade intra-equipe, o reforço
baseado no alto nível de habilidade, a punição dos erros e o favorecimento aos
esportistas de destaque na equipe. O questionário apresenta escala de medida de tipo
Likert de cinco pontos (1 = “Discordo Totalmente” a 5 = “Concordo Totalmente”)
precedida pela frase “Na nossa equipe ...”. Os níveis de consistência interna
encontrados foram equivalentes a 0,86 e 0,77 para os fatores/subescalas mestria e
performance, respectivamente.
Mais recentemente ocorreram importantes ajustes na versão original do PMCSQ,
repercutindo favoravelmente no aprimoramento de sua qualidade psicométrica,
intitulada PMCSQ-2. A estrutura inicialmente proposta para o questionário foi
preservada; contudo, ocorreram adaptações na formulação dos itens, estendendo para
33 itens. Neste caso, os valores equivalentes aos coeficientes de α de Cronbach para
os fatores/subescalas equivalentes ao clima motivacional de mestria e performance se
aproximaram de 0,88 (Newton, Duda, Yin, 2000). Encontram-se versões traduzidas e
validadas do PMCSQ-2 para outros idiomas, inclusive português brasileiro (Benck,
2006).
Com denominação de Perceived Motivational Climate in Exercise Questionnaire
(PMCEQ) e com similar estrutura de itens e subescalas foi idealizada versão
direcionada especificamente para análise em situação de prática de exercício físico
(Thomas, Barron, 2006). Adaptação realizada apresentou níveis de consistências
internas equivalentes a 0,86 e 0,77 para fatores/subescala de mestria e performance,
respectivamente. Contudo, não foi apresentada qualquer informação adicional sobre
sua validade de construto. Versão adaptada ao exercício físico já foi traduzida para o
português europeu (Cid, Moutão, Leitão, Alves, 2012) e brasileiro (Frejomil, Casal,
2009).
26
Sport Motivation Scale (SMS):
Respaldado pela TaD, inicialmente foi desenvolvido questionário denominado
Éclelle de Motivation dans lês Sports no idioma francês (Brière, Vallerand, Blais,
Pelletier, 1995). Posteriormente, quando de sua tradução e adaptação para o idioma
inglês recebeu a denominação Sport Motivation Scale – SMS (Pelletier, Tuson, Fortier,
Vallerand, Briére, Blais, 1995). Mais recentemente, o SMS vem sendo traduzido para
vários idiomas, sendo considerado um dos instrumentos mais utilizados para identificar
os motivos para prática de esporte. A versão brasileira recebeu a denominação Escala
de Motivação no Esporte - EME-BR (Costa, Albuquerque, Lopes, Noce, Costa, Ferreira,
Samulski, 2011).
A SMS é designada para representar especificamente o continuum da TaD e
identifica diferentes formas de motivação intrínseca, motivação extrínseca e
desmotivação. O questionário é composto por 28 itens, iniciando com o enunciado
“Participo e me esforço para a prática de esporte ...”, acompanhado de escala de
medida de tipo Likert de sete pontos (1 = “Não Corresponde Nada” a 7 = “Corresponde
Exatamente”).
Contudo, mais recentemente, limitações teóricas e empíricas da SMS, entre
outros motivos, em razão da versão original contemplar unicamente itens com conteúdo
equivalente a cinco dos seis tipos de regulação motivacional previsto na TaD, e de
alguns fatores/subescalas apresentarem índices de consistência interna marginalmente
inferior ao valor limite de α de Cronbach de 0,70, deram origem a SMS-6 (Mallett,
Kawabata, Newcombe, Otero-Ferero, Jackson, 2007). Neste caso, os seis
fatores/subescalas contemplados na SMS-6 são desmotivação, motivação extrínseca
de regulação externa, motivação extrínseca de regulação introjetada, motivação
extrínseca de regulação identificada, motivação extrínseca de regulação integrada e
motivação intrínseca. A versão revisada SMS-6 demonstra propriedades psicométricas
superiores às relatadas na versão original.
27
Perception of Success Questionnaire (POSQ):
Roberts, Treasure e Balagué (1998) desenvolveram questionário para identificar
as orientações de metas (Tarefa e Ego) no contexto esportivo. Inicialmente, elaboraram
conjunto de 48 itens selecionados a partir da literatura e de outros questionários que se
dirigem à percepção de sucesso no esporte. Na sequência, mediante verificação das
diferentes abordagens, o conjunto de itens foi reduzido para 26, definindo a escala
inicial do POSQ. No entanto, após uma sequência de aplicações e análises estatísticas
em vários estudos com objetivo de aprimorar sua qualidade, o questionário apontou
validade satisfatória com não mais que 12 itens (seis itens para cada orientação de
metas), definindo a versão atual do questionário.
Ainda, foram elaboradas duas outras versões do POSQ, uma especificamente
para ser utilizada em adolescentes e outra em adultos. Em ambas as versões o
questionário tem como finalidade a percepção de sucesso relacionado à tarefa e ao ego
no esporte, sendo que os itens indagam como o respondente percebe o seu sucesso
quanto à prática de esporte. Cada um dos questionários inicia com a questão “Eu me
sinto realmente com mais sucesso no esporte quando ...”, em que são apresentados 12
itens/situações possíveis de ocorrer no contexto esportivo, sendo que as opções de
posicionamento estão dispostas em uma escala de medida de tipo Likert de cinco
pontos, ancorados nos seus extremos de 1 = “Concordo Completamente” a 5 =
“Discordo Completamente”.
Os índices originais de consistência interna, utilizando como referência o
coeficiente α de Cronbach, foram de 0,92 para orientação à Tarefa e 0,90 para
orientação ao Ego. Estudos traduziram e validaram o POSQ para outros idiomas
atestando sua qualidade psicométrica, inclusive português europeu (Fonseca, Paula-
Brito, 2001) e brasileiro (Benck, 2006).
Situational Motivation Scale (SIMS)
Elaborada inicialmente para uso no contexto educacional, a SIMS tem por
objetivo analisar a motivação intrínseca e a desmotivação (Guay, Vallerand, Blanchard,
2000). Preliminarmente, a SIMS foi constituída por 26 itens; contudo, os resultados
28
iniciais mostraram que 10 desses itens apresentavam baixa relação com itens que se
identificavam no mesmo fator/subescala motivacional. Logo, foram excluídos,
resultando em um instrumento composto por 16 itens.
Neste caso, o respondente se posiciona frente à questão “Why are you currently
engaged in this task/activity?”, mediante escala de medida de tipo Likert de sete pontos,
em que 1 equivale a “Correspond not at all” e 7 “Correspond exactly”, com escore
intermediário de 4 equivalente a “Correspond moderately”. Especificamente no contexto
esportivo, a SIMS tem demonstrado satisfatórias características psicométricas, com
valores equivalentes aos coeficientes de Alfa de Cronbach oscilando entre 0,63
(desmotivação) e 0,87 (motivação intrínseca). Explica-se a menor consistência interna
relacionada ao fator de desmotivação em razão da menor quantidade de itens que
compõe o fator/subescala (Standage, Treasure, Duda, Prusak, 2003). Existem versões
traduzidas e adaptadas para outros idiomas além da língua inglesa; porém, não é o
caso do português europeu ou brasileiro.
Inventário de Motivação à Pratica Regular de Atividade Física ou Esportiva (IMPRAFE)
Elaborado por Balbinotti (2004), o inventário foi idealizado com intuito de definir
um instrumento de âmbito nacional, não envolvendo traduções e adaptações de
instrumentos internacionais. Foi proposto para quantificar e ordenar seis possíveis
fatores/subescalas associados aos motivos para prática de atividade física em um
contexto amplo, inclusive envolvendo o esporte. Portanto, diferentemente dos demais
questionários disponibilizados na literatura, o IMPRAFE procura identificar os motivos
voltados a todo tipo de prática regular de atividade física, como é o caso de exercício
físico e lazer ativo, e não especificamente a prática de esporte.
Consiste em questionário com 120 itens, agrupando 20 itens para cada um dos
seis fatores/subescalas considerados: (a) controle de estresse; (b) saúde; (c)
sociabilidade; (d) competitividade; (e) estética; e (d) prazer. O questionário inicia com a
expressão “Realizo atividade física/esporte para ...”, em que o respondente deverá se
posicionar mediante escala bidirecional, de tipo Likert, graduada em 5 pontos,
transitando entre (1) “Isto me motiva pouquíssimo” e (5) “Isto me motiva muitíssimo”. O
29
questionário conta ainda com uma escala de verificação que permite analisar o nível de
atenção do respondente durante sua aplicação. Seis itens, um de cada fator/subescala,
tomado aleatoriamente, são repetidos no final do questionário. Logo, medida de
validade da aplicação pode ser obtida mediante concordância entre as respostas.
Estudos têm confirmado a qualidade psicométrica do IMPRAFE (Balbinotti, 2004;
Barbosa, Balbinotti, 2006), apontando valores equivalentes ao coeficiente de α de
Cronbach entre 0,89 e 0,94 para os seis fatores/subescalas de motivação
considerados. No entanto, na tentativa de simplificar a aplicação do questionário e
diminuir o tempo dedicado ao seu preenchimento, recursos estatísticos de análises
fatoriais exploratória e confirmatória permitiram idealizar versão resumida do
questionário, mantendo sua qualidade psicométrica.
A versão resumida do IMPRAFE manteve tanto a proposta original de identificar
seis fatores/subescalas, quanto à estrutura de apresentação dos itens. Neste caso, o
questionário é composto por 48 itens, agrupando oito itens para cada um dos seis
fatores/subescalas considerados. Foi igualmente mantida a escala de verificação, de
forma que juntam-se aos 48 itens, seis itens tomados aleatoriamente na própria escala.
Valores equivalentes ao coeficiente de α de Cronbach foram identificados entre 0,82 e
0,94 para os seis fatores/subescalas de motivação consideradas (Barbosa, Balbinotti,
2006).
Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ):
Elaborado por Lonsdale, Hogde e Rose (2008), o questionário propõe identificar
os motivos para a prática de esporte em adolescentes e jovens adultos. Seus
idealizadores não orientam a utilização do BRSQ em outros contextos de atividade
física, como é o caso da educação física e do exercício físico, devendo, portanto, ser
aplicado particularmente no meio esportivo, envolvendo atletas de competição.
Versão inicial do BRSQ é constituída por 42 itens complementares à expressão
“Eu prático o meu esporte ....”, acompanhada de escala de medida de tipo Likert de
sete pontos, variando entre (1) ”Não Corresponde Nada” e (7) “Corresponde
Exatamente”, intermediado por (4) “Corresponde Moderadamente”. Na sequência, em
30
análises confirmatórias de validação o questionário foi reduzido para 36 itens, reunido
em nove fatores/subescalas de regulação motivacional: (a) amotivação; (b) motivação
extrínseca de regulação externa; (c) motivação extrínseca introjetada; (d) motivação
extrínseca identificada; (e) motivação extrínseca integrada; (f) motivação intrínseca para
atingir objetivos; (g) motivação intrínseca para experiências estimulantes; (h) motivação
intrínseca para conhecer; e (i) motivação intrínseca.
De maneira alternativa, é proposto o uso de medida multidimensional para a
motivação intrínseca, removendo-se, desse modo, a subescala de motivação intrínseca,
assumindo oito/subescalas; porém, mantendo os 36 itens, o que é denominado BRSQ-
8. Ainda, medida geral de motivação intrínseca também pode ser empregada,
removendo-se os fatores/subescalas de regulação motivacional associados à
motivação intrínseca para atingir objetivos, à motivação intrínseca para experiências
estimulantes e à motivação intrínseca para conhecer, resultando, desse modo, em
análise da motivação em seis fatores/subescalas com 24 itens, o que é denominado
BRSQ-6.
Com relação às propriedades psicométricas, em estudos envolvendo jovens de
diferentes idades e experiência de prática de esporte, foram identificadas fortes cargas
fatoriais, valores de consistência interna e reprodutibilidades elevados tanto para o
BRSQ-8, como para o BRSQ-6 (Lonsdale, Hodge, Rose, 2008). Ambas as versões
foram traduzidas e validadas para o português brasileiro, recebendo a denominação
Questionário de Regulação do Comportamento no Esporte - QRCE (Vasconcellos,
2011).
2.5. Proposição do Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ)
O BRSQ foi elaborado com o intuito de preencher as lacunas deixadas pelo
Sport Motivation Scale – SMS (Pelletier et al., 1995) e pela versão revisada dessa
escala, a SMS–6 (Mallet et al., 2007), quando às propriedades psicométricas, oriundas,
sobretudo, pela ausência da forma mais autodeterminada de relação extrema, a
regulação integrada.
A versão original do BRSQ consiste em 36 questões dividas em nove
31
subescalas/fatores acompanhadas de uma escala tipo Likert de sete pontos. As
regulações ou fatores são: amotivação (AM), motivação extrínseca de regulação
externa (MERE), motivação extrínseca introjetada (MEIJ), motivação extrínseca
identificada (MEID), motivação extrínseca integrada (MEIG), motivação intrínseca para
atingir objetivos (MIAO), motivação intrínseca para experiências estimulantes (MIEE),
motivação intrínseca para conhecer (MIC) e motivação intrínseca (MI). Os autores da
escala propõe ainda uma medida multidimensional da motivação intrínseca,
removendo-se os itens MI, deixando assim a escala com oito fatores – 32 itens;
alternativamente, uma medida geral da motivação intrínseca também pode ser
empregada, bastando neste caso, remover os itens MAIO, MIEE e MIC, resultando
numa análise da motivação em 6 fatores – 24 itens.
Estudo tem procurado investigar a validade e a reprodutibilidade da escala,
criada a partir das formas de regulação do comportamento propostas por Ryan e Deci
(2002) e as três formas de motivação intrínseca identificadas por Vallerand (1997).
Neste momento, 382 atletas da Nova Zelândia (206 homens), com idade média de
24.20 anos, representando 20 esportes diferentes, responderam a versão de 32 itens
do BRSQ. Chegou-se a conclusão de que esta versão de 32 itens, chamada de BRSQ-
8, por retratar as oito formas de regulação do comportamento a que se propunha,
apresentou fortes cargas fatoriais e valores de consistência interna nas subescalas. Por
outro lado, esta versão não possibilita uma avaliação mais generalizada da motivação
intrínseca, através de uma única subescala que possa representar o constructo
(Lonsdale, Hodge, Rose, 2008).
Novo estudo foi realizado com objetivo de examinar a validade e a
reprodutibilidade das duas versões do BRSQ: a de oito itens e a de seis itens. Os
achados confirmaram que ambas as versões podem ser utilizadas de forma e validade
confiável; porém, a versão BRSQ-8 demonstrou escores superiores de consistência
interna e validade fatorial. Já a versão BRSQ-6, no entanto, não parece ter
demonstrado seis níveis de regulação ao longo do continuum, tendo os autores
chamados a atenção para a utilização desta versão quando o objetivo for analisar a
autodeterminação em quatro formas distintas (amotivação, motivação extrinsecamente
controlada, motivação extrinsecamente autônoma, e intrinsecamente motivada).
32
Em seguida, os idealizadores do BRSQ tiveram como proposta central examinar
a validade e a reprodutibilidade da escala em atletas que não fossem de elite,
diferentemente dos estudos anteriores, e também comparar as propriedades
psicométricas do BRSQ-6 e BRSQ-8 com versões original da SMS (Palletier et al.,
1995) e da SMS-6 (Mallet et al., 2007). Especificamente com base nos resultados
desse estudo foram apresentadas evidencias indicando que os valores de consistência
interna e validade fatorial do BRSQ foram superiores aos encontrados na SMS e na
SMS-6, considerando assim, o BRSQ com qualidades psicométricas superiores às
escalas a que foi comparado.
Importante estudo produzido por Barcza (2010), utilizando o BRSQ como forma
de avaliação da motivação em atletas, investigou a relação entre as regulações
motivacionais, perfeccionismo, Burnout e comportamento percebido dos treinadores.
Verificou que as três formas menos autodeterminadas de regulação do comportamento
(amotivação, regulação externa e regulação introjetada) estiveram inversamente
relacionadas ao perfeccionismo, ou seja, a busca pela excelência esportiva não se
aplica a comportamentos pouco autodeterminados.
Em síntese, os estudos citados comprovam as qualidades psicométricas do
instrumento proposto, o BRSQ, em relação aos outros instrumentos de avaliação da
motivação baseados na regulação do comportamento utilizado até o momento.
Analisadas essas evidências, próxima ação para consolidar o BRSQ, enquanto
ferramenta confiável na análise da motivação sob perspectiva da TaD, é disseminar sua
metodologia e procedimentos na área do esporte; sobretudo em idades jovens.
33
3. DESENVOLVIMENTO
A plataforma eletrônica para uso do BRSQ em versão online foi desenvolvida por
meio de aplicativo da internet (web) que utilizou linguagem de programação Hypertext
Preprocessor 5 (PHP-5), script Java Script 2.0. O mesmo possui interface gráfica que
permite os usuários interagirem. O PHP-5 é uma linguagem de programação voltada à
Internet com eficiente suporte matemático, sistema multiplataforma, suporte a grande
quantidade de banco de dados, além de possuir código fonte aberto, possibilitando
desenvolvimento de websites dinâmicos, que retornam para o programador uma página
tempo real (Niederauer 2011).
O BRSQ em versão online está hospedado no site
www.dartagnanguedes.com.br e poderá ser acessado por meio de navegadores da
internet (Internet Explorer, Mozilla, Google Crome, Opera).
O BRSQ em versão online foi composto pela mesma estrutura do instrumento
impresso, diferenciando apenas o modo de interface de preenchimento dos itens. Foi
adicionado sistema de armazenamento das respostas em arquivos individuais
utilizando-se código de identificação do respondente. Essa ferramenta possibilita a
geração de relatórios, que podem ser exportados para planilhas eletrônicas no formato
Excel for Windows. Na utilização da versão online, para assinalar as respostas, os
respondentes (alunos, atletas e outros) deverão receber instruções para selecionar uma
das respostas disponíveis para cada item (assinalar uma alternativa no questionário), e
assim liberando os itens, as próximas perguntas subsequentes até cumprir o
preenchimento dos 36 itens do BRSQ.
Para acessar a versão eletrônica do BRSQ o usuário de deverá clicar na opção
QUESTIONÁRIOS, conforme ilustra a figura 1.
35
Nessa tela deverá abrir o link para a página de acesso à versão online do BRSQ
– figura 2.
Figura 2 – Tela de entrada para a versão online do BRSQ
Ao clicar na opção de acesso ao link em destaque o usuário deverá ser
encaminhado para iniciar o preenchimento do questionário – figura 3.
Neste caso, conforme design do questionário, são disponibilizadas as opções da
escala Likert para seleção do respondente entre 1 e 7 pontos. O respondente deverá
indicar o grau de importancia que cada item do questionário poderá oferecer para a
prática de seu esporte. O respondente necessariamente deverá assinalar (clicar) uma
opção de resposta para cada item do questionário, sendo que, quando isso ocorrer, o
escore assinalado passará para a cor vermelha, chamando sua atenção quanto à
opção assinalada. O questionário registrará um única resposta por item, podendo o
usuário alterar a resposta antes de finalizar todas as questões de seu levantamento.
37
Apontando o grau de importancia de cada um dos 36 itens do questionário, o
respondente deverá clicar no icone “Calcular resultados do Questionário” – figura 4.
Figura 4 – Opção para realizar o tratamento das informações do BRSQ.
Na sequência, deverá ser disponibilizado na tela os resultados atribuídos ao
continuum de autodeterminação equivalente aos escores atribuidos pelo respondente –
figura 5.
Figura 5 – Resultados do continuum de autodeterminação para prática de esporte.
38
REFERÊNCIAS
Balbinotti MAA, Inventário de Motivação à Prática Regular de Atividades Físicas e
Esportivas (IMPRAFE-126). Núcleo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia e Psicologia
do Esporte. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.
Barbosa MLL, Balbinotti MAA. Inventário de Motivação a Pratica Regular de Atividade
Física (IMPRAFE-54). Laboratório de Psicologia do Esporte. Porto Alegre: Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, 2006.
Barcza KM. The Influence of Perceived Coaching Behaviors and Perfectionism on
Types of Motivation and Burnout. Dissertation, The Florida State University, 2010.
Barroso MLC. Validação do Participation Motivation Questionnaire Adaptado para
Determinar Motivos de Prática Esportiva de Adultos Jovens Brasileiros. Dissertação,
Florianópolis: UDESC: 130, 2007.
Becker Júnior. El efecto de tecnicas de imaginacion sobre patrones electroencefa
lograficos, frecuencia cardiaca y en el rendimento de praticantess de baloncesto com
puntuaciones altas y bajas en el tiro libre. Tesis doctoral. Facultad de Psicologia,
universidad de Barcelona. Barcelona, 1996.
Benck RT. Retreinamento das atribuições de sucesso e fracasso no esporte: uma
proposta de intervenção pedagógica. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde).
Faculdade de Ciências da Saúde. Universidade de Brasília, 2006.
Biddles S, Markland D, Gilbourne D, Chatzisarantis N, Sparkes A. Research methods in
sport and exercise psychology: Quantitative and qualitative issues. Journal of Sports
Sciences. 19:777-809, 2001.
Boiché J, Sarrazin PG. Self-determination of contextual motivation, inter-context
dynamics and adolescents’ patterns of sport participation over time. Psychology of Sport
and Exercise. 8(5):685-703, 2007
Braghirolli EM, Bisi GP, Rizzon LA. Psicologia Geral. Porto Alegre - Vozes, 2001.
Briere N, Vallerand R, Blais N, Pelletier L. Development et validation d’une mesure de
motivation intrinséque, extrinséque et amotivation en contexte sportif. International
Journal of Sport Psychology. 26(4):465-89, 1995.
39
Brickell TA, Chatzisarantis NLD. Using self-determination theory to examine the
motivational correlates and predictive utility of spontaneous exercise implementation.
Psychology of Sport and Exercise. 8:758-70, 2007.
Chatzisarantis NL, Hagger MS, Biddle SJH, Smith B, Wang CKJ. A meta-analyses of
perceived locus of causality in exercise, sport and physical education contexts. Journal
of Sport and Exercise Psychology. 25:284-306, 2003.
Cid L, Moutão J, Leitão J, Alves J. Tradução e validação da adaptação para o exercício
do Perceived Motivational Climate Sport Questionnaire. Motriz. 18(4): 708-20, 2012.
Costa VT, Albuquerque MR, Lopes MC, Noce F, Costa IT, Ferreira RM, Samulski DM.
Validação da Escala de Motivação no Esporte (SMS) no Futebol para a Língua
Portuguesa Brasileira. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. 25(3):237-46,
2011.
Cratty BJ. Psicologia no Esporte. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil Ltda, 1983.
Dale J, Weinberg RS. Bournout in Sport: A review and critique. Journal of applied sport
Psychology. 2:67-83, 1990.
Davidoff L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Mc Graw-Hill, 1983.
Deci EL, Ryan RM. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New
York: Plenum, 1985.
Deci EL, Ryan RM. Handbook of Self-Determination Research. Rochester: The
University of Rochester Press, 2002.
Duda J, Nicholls J. Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport.
Journal of Education Psychology. 84:290-99, 1992.
Edmunds J, Ntoumanis N, Duda JL. A test of self-Determination theory in the Exercise
Domain. Journal of Applied Social Psychology. 36(9):2240-65, 2006.
Fernandes HM, Vasconcelos-Raposo J. Continuum de Auto-Determinação: validade
para a sua aplicação no contexto desportivo. Estudos de Psicologia. 10:385-95, 2005.
40
Fliess-Douer O, Hutzler Y, Vanlandewijck YC. Relation of functional physical impairment
and goal perspectives of wheelchair basketball players. Perceptual Motor Skills.
96(3):755-8, 2003.
Fonseca AM. Atribuições em contextos de atividades física ou desportiva: perspectivas,
relações e implicações. Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciência do Desporto e de
Educação Física, Universidade do Porto. Porto, 1999.
Fonseca AM, Biddle S. Estudo inicial para a adaptação do TEOSQ à realidade
portuguesa: questionário sobre a Orientação para a Tarefa e para o Ego no Desporto
(TEOAQp). In: Fonseca AM. (Ed). A FCDEF-UP e a Psicologia do Desporto: Estudos.
sobre Motivação. Porto, Portugal: Editora da Universidade do Porto, 2001.
Fonseca AM, Paula-Brito A. Estudo exploratório e confirmatório à estrutura fatorial da
versão portuguesa do Perception of Success Questionnaire (POSQ). Revista
Portuguesa de Ciências do Desporto. 1(3):1-9, 2001.
Fonseca AM, Paula-Brito A. A questão da adaptação transcultural de instrumentos para
avaliação psicológica em contextos desportivos nacionais: o caso do Task and Ego
Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ). Revista Psycológica. 39:95-118, 2005.
Frejomil MB, Casal HV. O clima motivacional em jovens nadadores. Educação Física
em Revista .3:3, 2009.
Gaya A, Cardoso M. Os fatores motivacionais para a prática desportiva e suas relações
com o sexo, idade e níveis de desempenho desportivo. Revista Perfil. 2(2): 40-51, 1998.
Gill DL, Deeter TE. Development of the sport orientation questionnaire. Research
Quarterly for Exercise and Sport. 59(3):191-202, 1988.
Gill DL, Williams L. Psychological Dynamics of Sport and Exercise. 3ª Edition.
Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2008.
Gill D, Gross J, Huddleston S. Participation motivation in youth sports. International
Journal of Sport Psychology. 14:1-14, 1983.
Gomes SS, Coimbra DR, Garcia FG, Miranda R, Barra Filho M. Análise da produção
científica em Psicologia do Esporte no Brasil e no exterior. Revista Iberoamericana de
Psicologia del Ejercicio y el Deporte. 2(1):25-40, 2007.
41
Guay F, Vallerand RJ, Blanchard C. On the assessment of state intrinsic and extrinsic
motivation: The situational motivation scale (SIMS). Motivation and Emotion, 24:175-
213, 2000.
Guedes DP, Silvério NJE. Participation Motivation Questionnaire: Tradução e validação
para uso em atletas-jovens brasileiros. Revista Brasileira de Educação Física e
Esportes. 27(1):137-48. 2013.
Guimarães SER, Boruchovitch E. O Estilo Motivacional do Professor e a Motivação
Intrínseca dos Estudantes: Uma Perspectiva da Teoria da Autodeterminação.
Psicologia: Reflexão e Crítica. 17(2):143-50, 2004.
Hair J, Black W, Babin B, Anderson R, Tatham R. Multivariate Data Analysis. 6ª Edition.
New Jersey: Pearson Educational Inc. 2006.
Hardey L, Gomes G, Gould D. Understanding psychological preparation for sport: theory
and practice of elite-performers. London, England: John Wiley & Sons. 1996.
Hirota VB, Schindler P, Villar V. Motivação em atletas universitários do sexo feminino
praticantes do futebol de campo: um estudo piloto. Revista Mackenzie de Educação
Física e Esportes, São Paulo. 5:135-42, 2006.
Hu L, Bentler P. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis:
conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling. 6(1):1-55,
1999.
Knijnik JD, Greguol M, Santos SS. Motivação no esporte infanto-juvenil: uma discussão
sobre razões de busca e abandono de prática esportiva entre crianças e adolescentes.
Revista do instituto de Ciências da Saúde. 17(1):7-13, 2001
Lins JP, Campos FC. Utilização de uma extensão à teoria de dempster-shafer, o lateo,
nos segmentos de webdesign. XVII Congresso de Iniciação Científica - I Congresso de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, UFPE, CTG. 27-29, 2009.
Lonsdale C, Hodge K, Rose EA. The Behavioral Regulation in Sport Questionnaire
(BRSQ): Instrument development and initial validity evidence. Journal of Sport &
Exercise Psychology. 30:323-55, 2008.
42
Machado AA. Psicologia do esporte: da educação física escolar ao esporte de alto
nível. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
Mallet CJ, Kawabata M, Newcombe P, Otero-Ferero A, Jackson SA. Sports motivation
Scale-6 (SMS-6): a revised six-factor sport motivation scale. Psychology of Sport and
Exercise. 8(5):600-14, 2007.
Mestre S, Pais Ribeiro J. Adaptação de três questionários para a população
portuguesa baseados na teoria de auto-determinação. In: I Leal, J Pais-Ribeiro, I Silva,
S Marques. Actas do 7º Congresso Nacional de Psicologia da Saúde. 623-26, Lisboa:
ISPA, 2008.
Meurer ST, Benedetti TRB, Mazo GZ. Fatores motivacionais de idosos praticantes de
exercícios físicos: um estudo baseado na teoria da autodeterminação. Estudos de
Psicologia. 17:299-303, 2012.
Milne HM, Wallman KE, Guilfoyle A, Gordon SE, Courneya KS. Self-determination
theory and physical activity among breast cancer survivors. J Sport Exercise
Psychology. 30:23–38, 2008.
Mcaule YE, Duncan TE, Tammen VV. Psycholometric properties of the intrinsic
Motivation Inventory in a competitive sport setting: A confirmatory factor analysis.
Research Quarterly for Exercise and Sport. 60(1):48-58, 1989.
Mcauley E, Wraith S, Duncan T. Self efficacy, perceptions of success, and intrinsic
motivation for exercise. Journal of Applied Social Psychology. 21:139-55, 1991.
Murray EJ, Motivação e Emoção. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.
Murcia JAM, Coll DGC. A permanência de praticantes em programas aquáticos
baseada na teoria da Autodeterminação. Fitness & Performance Journal. 1(5):5-10,
2006.
Newton M, Duda JL, Yin Z. Examination of the psychometric properties of the perceived
motivational climate in sport questionnaire-2 in a sample of female athletes. Journal of
Sport Sciences. 18(4):275-90. 2000.
Niederauer J. Desenvolvendo Websites com PHP, 2:ed.-São Paulo: Novatec Editora,
2011.
43
Ntoumanis N. A self-determination approach to the understanding of motivation in
physical education. British Journal of Education Psychology. 71:225-42, 2001.
Paim MCC. Fatores motivacionais e desempenho no futebol. Revista da Educação
Física UEM, Maringá. 12(2):73-9, 2001.
Pelletier LG, Fortie MS, Vallerand RJ, Brière NM. Associations between perceived
autonomy sup- port, forms of self-regulation, and persistence: A prospec- tive study.
Motivation and Emotion, International Journal of Sport Psychology. 25:279-306, 2001.
Pelletier LG, Fortie MS, Vallerand RJ, Tuson KM, Blais MR. Toward a new measure of
intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation in sports: The Sport Motivation
Scale (SMS). Journal of Sport and Exercise Psychology. 17:35-53, 1995.
Reed C, Cox RH. Motives and regulatory style underlying senior athletes’ participation in
sport. Journal of Sport Behavior. 30:307–29, 2007.
Roberts GC, Treasure DC, Balagué G. Achievement goal in sport: the development and
validation of the Perception of Success Questionnaire. Journal of Sport Sciences.
16:337-47, 1998.
Ryan RM. Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive
evaluation theory. Journal of Personality and Social Psychology. 43:450-61, 1982.
Ryan RM, Deci EL. Self-Determination Theory and the Facilitation of intrinsic Motivation,
Social Development, and Well-Being. American Psychologist. 55(1): 68-78, 2000.
Ryan RM, Frederick CM, Lopes D, Rubio N, Sheldon KM. Intrinsic motivation and
exercise adherence. International Journal of Sport Psychology. 28:335-54, 1997.
Rubio K. Psicologia do esporte: teoria e prática. 1. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo.
2003.
Samulski D. Psicologia do esporte: conceitos e novas perspectivas. Barueri: Manole.
2009.
Santos LB, Da Silva TD, Hirota VB. Mulher no esporte: uma visão sobre a prática no
futebol. Revista Mackenzie de Educação Física e Esportes, São Paulo. 7(3):119-25,
2008.
44
Sawrey JM, Telford CW. Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: Livro Técnico e
Científico, 1976.
Scalcan RM, Becker JRB, Brauner, M.R.G. Fatores motivacionais que influem na
aderência dos programas de iniciação desportiva pela criança. Revista Perfil. 3(3):
1999.
Seifriz J, Duda J, Chi L. The relationship of perceived motivational climate to -intrinsic
motivation and beliefs about success in basketball. Journal of Sport and Exercise
Psychology. 14(4):375-91, 1992.
Seifriz J, Duda J, Chi L. The relationship of perceived motivational climate to intrinsic
motivation and beliefs about success in basketball. Journal of Sport and Exercise
Psychology. 14(4):375-91, 1992.
Serpa S. Motivação para a prática desportiva: validação preliminar do questionário de
motivação para as atividades desportivas (QMAD). In. Sbral F, Marques A. (Ed.)
FACDEX: Desenvolvimento somato-motor e factores de excelência desportiva na
população escolar portuguesa. Lisboa: FCT. 89-97, 1992.
Si G, Lee H. Cross-cultural issues in sport psychology research. In: Jowett S. Lavallee
D. (Eds.). Social Psychology in Sport. Champaign, Illions: Human Kinetics. 279-88,
2007.
Sirard JR, Pfeiffer KA, Pate RR. Motivacional factors associated with sports program
participation in middle school students. Journal of Adolescent Health. 38:696-703, 2006.
Skordilis EK, Koutsouki D, Asonitou K, Evans E, Jensen B, Kenneth W. Sport
orientations and goal perspectives of wheelchair athletes. Adapted Physical Activity
Quarterly. 18(3):304-15, 2001.
Sobral DT. Motivação do aprendiz de Medicina: Uso da Escala de Motivação
Acadêmica. Psicologia: Teoria e Pesquisa. 19(1):25-31, 2003.
Sonoo CN, et al. Ansiedade e desempenho: um estudo com uma equipe infantil de
voleibol feminino. Motriz Revista de Educação Física. 16(3):629-637, 2010.
45
Standage M, Treasure DC, Duda JL, Prusak KA. Validity, reliability, and invariance of
the Situational Motivation Scale (SIMS) across diverse physical activity contexts. Journal
of Sport and Exercise Psychology. 25:19-43, 2003.
Standage M, Sebire SJ, Loney T. Does exercise motivation predict engagement in
objectively assessed bouts of moderate-intensity exercise? A self-determination theory
perspective. Journal of Sport & Exercise Psychology. 30:337-52, 2008.
Thomas J, Barron K. A test of multiple achievement goal benefits in physical Education
Activities. Journal of Applied Sport Psychology. 18:114-35, 2006.
Vallerand RJ. Vers une méthodologie de validation transculturelle des questionnaires
psychologiques : implications pour la recherche en langue française. Psychologie
Canadienne. 30:662-80, 1989.
Vallerand RJ. Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation, in Dans
M.P. Zanna (ed.), Advances in Experimental Social Psychology (Academic Press.) New
York, 271-360, 1997.
Vallerand RJ, Losier FG. An integrative analysis of intrinsic and extrinsic motivation in
sport. Journal of Applied Sport Psychology. 11(1):142-69, 1999.
Vasconcellos DIT. Avaliação da Motivação para a Prática Esportiva em Adolescentes e
Jovens Adultos Brasileiros: Validação do Questionário de Regulação do
Comportamento no Esporte (QRCE). Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento
Humano). Florianópolis: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do
Estado de Santa Catarina, 2011.
Vierling KK, Standage M, Treasure DC. Predicting atitudes and physical activity in an
“at-risk” monitory youth sample: A test of self-determination theory. Psycology of Sport
and Exercise. 8(5):795-817, 2007.
Vissoci JRN, Vieira LF, Oliveira LP, Vieira JLL. Motivação e atributos morais no esporte.
Revista da Educação Física/Uem. 2:173-82, 2008.
Weinberg RS, Gould D. Fundamentos da psicologia do esporte e do exercício. porto
Alegre: ArtMed, 2001.
46
Wilson PM, Rodgers WM. The relationship between perceived autonomy support,
exercise regulations and behavioral intentions in women. Psychology of Sport and
Exercise. Barcza, K. M. (2010). The Influence of Perceived Coaching Behaviors and
Perfectionism on Types of Motivation and Burnout. 5:229-42, 2004.
47
Artigo Científico
BEHAVIORAL REGULATION IN SPORT QUESTIONNAIRE:
TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO PSICOMÉTRICA PARA USO EM ATLETAS JOVENS
BRASILEIROS
BEHAVIORAL REGULATION IN SPORT QUESTIONNAIRE:
TRANSLATION AND PSYCHOMETRIC VALIDATION FOR USE IN BRAZILIAN
YOUNG ATHLETES
Título Abreviado:
BRSQ para atletas jovens brasileiros
Autores:
Vilmar Aparecido Caus
Dartagnan Pinto Guedes
Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde
Universidade Norte do Paraná - UNOPAR
48
Resumo
Os objetivos do estudo foram traduzir para o idioma português, realizar a adaptação
transcultural e identificar as propriedades psicométricas para atletas jovens brasileiros
do Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ). A versão original foi traduzida
de acordo com recomendações internacionais. Um comitê de juízes foi formado para
analisar as versões traduzidas do questionário. O comitê utilizou como critério de
análise as equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual. A versão final do
questionário traduzido foi administrada em uma amostra de 1217 atletas jovens (410
moças e 807 rapazes) com idades entre 12 e 17 anos. Para identificar as propriedades
psicométricas foi realizada análise fatorial confirmatória e, na sequência, para análise
da consistência interna de cada fator associado à motivação para a prática de esporte,
foi empregado coeficiente alfa de Cronbach. Após discretas modificações apontadas no
processo de tradução, o comitê de juízes considerou que a versão para o idioma
português do BRSQ apresentou equivalências semântica, idiomática, cultural e
conceitual. A análise fatorial confirmou a estrutura de oito fatores originalmente
proposta, mediante indicadores estatísticos equivalentes à χ2/gl = 1,87, ao GFI = 0,945,
AGFI = 0,958 e RMSR = 0,052 (IC95% 0,043-0,062). O alfa de Cronbach apresentou
coeficientes entre 0,71 e 0,85. Concluindo, a tradução, a adaptação transcultural e as
qualidades psicométricas do BRSQ foram satisfatórias, o que viabiliza sua aplicação em
futuros estudos no Brasil.
Palavras-chaves: BRSQ; Questionário; Psicometria; Treino esportivo; Adolescentes;
Brasil.
49
Abstract
The objectives of this study were to translate for the Portuguese language, describe the
cross-cultural adaptation and identify the psychometric properties to the Brazilian young
athletes of the Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ). The original
questionnaire was translated following international recommendations. Translated
versions of the questionnaire were analyzes by a committee of experts. The committee
used semantic, idiomatic, cultural and conceptual equivalences as criteria of analysis.
The final version of the translated questionnaire was administered in a sample of 1217
young athletes (410 girls and 807 boys) aged 12 to 17 years-old. To identify the
psychometric properties confirmatory factorial analysis were completed. Cronbach’s
alpha coefficient was used to assess the internal consistency of each factor of the
BRSQ associated to motivation for the practice of sport. After minor changes identified in
the translation process, the committee of experts considered that the Portuguese
version of the BRSQ showed semantic, idiomatic, cultural and conceptual equivalences.
The factorial analysis confirmed the structure of eight factors originally proposed,
through statistical indicators equivalent to χ2/gl = 1,87, ao GFI = 0,945, AGFI = 0,958 e
RMSR = 0,052 (IC95% 0,043-0,062). The Cronbach-alpha ranged from 0,71 to 0,85. In
conclusion, the translation, cross-cultural adaptation and psychometric qualities of the
BRSQ were satisfactory, thus enabling its application in future studies in Brazil.
Uniterms: BRSQ; Questionnaire; Psychometrics; Sports training; Adolescents; Brazil.
50
Introdução
O perfil motivacional de jovens para a prática de esporte é um dos assuntos que
vem atraindo a atenção de pesquisadores e profissionais da área. Evidências disso são
as aproximações teóricas sugeridas recentemente para tentar explicar a conduta
motivacional no contexto esportivo (Gill, Williams, 2008; Ntoumanis, 2012; Ryan, Deci,
2007) e o esforço direcionado à proposição e à validação de instrumentos para
identificar e dimensionar indicadores motivacionais que levam os jovens a optarem por
iniciar, permanecer, ou ao contrário, abandonar a prática de esporte (Biddle et al., 2001;
Newton, Duda, Yin, 2000).
Na atualidade, especialmente na última década, vem se destacado a Teoria de
Autodeterminação (TaD) como uma possibilidade mais consistente e específica para
análise de aspectos motivacionais que envolvem a prática de esporte (Calvo et al.,
2010; Hagger, Chatzisarantis, 2007; Koh et al., 2012; Ryan, Deci, 2007; Singerland et
al., 2014; Vallerand, 2007; Van de Berghe et al., 2014; Vlachopoulos et al., 2000). Na
realidade, a TaD é uma teoria geral da motivação humana, que procura analisar o grau
com que as condutas relacionadas são autodeterminadas, ou seja, a intensidade com
que as pessoas realizam ações de forma voluntária, por sua própria escolha (Deci,
Ryan, 1985; 2012; Ryan, Deci, 2000).
Neste caso, a TaD procura estabelecer diferentes categorias de motivação
dispostas em um continuum de posição menos autodeterminada para mais
autodeterminada. Nos extremos opostos do continuum estão localizados os constructos
relacionados à amotivação e à motivação intrínseca e, por sua vez, na parte central
encontram-se os constructos identificados com a motivação extrínseca e suas
51
respectivas regulações – externa, introjetada, identificada e integrada (Ryan, Deci,
2000). Detalhamentos quanto à concepção e à caracterização da TaD e suas
implicações para a prática de esporte vêm sendo amplamente difundidos em outras
publicações (Ntoumanis, 2012; Ryan, Deci, 2007; Vallerand, 2007; Vlachopouloa et al.,
2000).
Nessa perspectiva, para se considerar os pressupostos de uma teoria é
necessário dispor de instrumentos de medida capazes de identificar e dimensionar os
atributos associados. Particularmente no contexto do esporte, encontram-se disponíveis
na literatura dois questionários idealizados especificamente para atender os
pressupostos da TaD: Sports Motivation Scale – SMS (Pelletier et al, 1995;) e
Behavioral Regulation in Sport Questionnaire – BRSQ (Lonsdale, Hodge, Rose, 2008).
Inicialmente, a proposição do SMS recebeu severas críticas, entre outros motivos, pela
particularidade de não contemplar em sua estrutura original a forma mais autônoma de
motivação extrínseca prevista na TaD: a regulação integrada (Vallerand, Rousseau,
2001). Em vista disso, na sequência, foi disponibilizada versão ajustada do SMS, o que
se denominou SMS-6, mantendo a estrutura original da escala; porém, adicionando
mais um fator equivalente à regulação integrada (Mallet et al., 2007). Mais
recentemente, houve uma tentativa de apresentar versão revisada deste instrumento, o
chamado SMS-II (Pelletier et al., 2013). Contudo, apesar dos esforços de seus
idealizadores, importantes limitações estatísticas com relação às propriedades
psicométricas foram identificadas em ambas versões do SMS, sobretudo quanto à
validade fatorial e à consistência interna dos itens que compõe o instrumento.
52
O BRSQ foi idealizado com intuito de minimizar as limitações apresentadas por
ambas versões do SMS, e atualmente vem recebendo grande destaque na literatura
especializada. Originalmente, o BRSQ foi proposto em língua inglesa; no entanto,
pesquisadores de países de outros idiomas se interessaram pela sua tradução e
validação, o que vem permitindo a expansão de seu uso para outras culturas (Viladrich
et al., 2011). Especificamente no Brasil, constata-se que já houve uma tentativa de
traduzir e validar o BRSQ para uso na realidade brasileira (Vasconcellos, 2011).
Contudo, no delineamento do estudo não foi oferecida a devida atenção ao rigor
metodológico recomendado para os processos de tradução e adaptação transcultural
de questionários com essas características. Além do que, para identificar as
propriedades psicométricas da versão traduzida do BRSQ foi selecionada amostra
excessivamente heterogenia quanto ao escalão etário e com quantidade insuficiente de
sujeitos para que se pudesse alcançar ajuste do modelo fatorial estatisticamente
adequado para um instrumento de 36 itens. Por consequência, sólidos critérios
conceituais previstos na TaD cederam preferência aos comprometidos achados
estatísticos.
Em sendo assim, o objetivo do presente estudo foi realizar a tradução e a
adaptação transcultural para o idioma português e, na sequência, identificar as
propriedades psicométricas do BRSQ para uso em atletas jovens brasileiros.
Métodos
Instrumento
A versão original do BRSQ foi concebida com 36 itens, precedidos pelo
enunciado “I participate in my sport ....”, em que o respondente indica o grau de
53
concordância que mais se aplica ao seu caso, por intermédio de uma escala de medida
tipo Likert de sete pontos (1 = “Not at all true”; 4 = “Somewhat true”; 7 = “Very true”). Na
sequência, mediante tratamento dos escores atribuídos a cada item e baseando-se no
continuum de autodeterminação, torna-se possível identificar, dimensionar e ordenar
nove escalas/subescalas de motivação: (a) amotivação (AMOT); (b) motivação
extrínseca de regulação externa (REEX); (c) motivação extrínseca de regulação
introjetada (REIJ); (d) motivação extrínseca de regulação identificada (REID); (e)
motivação extrínseca de regulação integrada (REIG); (f) motivação intrínseca global
(MIGL); (g) motivação intrínseca para alcance de objetivos (MIOB); (h) motivação
intrínseca para vivencia de experiências estimulantes (MIEE); e (i) motivação intrínseca
para domínio de conhecimentos (MICH).
De acordo com o objetivo e o detalhamento necessário na interpretação das
informações apresentadas pelo respondente, o conjunto dos 36 itens que compõe o
BRSQ permite a análise do continuum de autodeterminação mediante dois formatos, os
chamados BRSQ-6 e BRSQ-8. A diferença entre ambos os formatos refere-se à
abrangência de análise pretendida para a motivação intrínseca. No caso do BRSQ-6, a
motivação intrínseca é considerada de maneira global, desconsiderando, portanto, as
especificidades relacionadas ao alcance de objetivos, à vivencia de experiências
estimulantes e ao domínio de conhecimento. Logo, neste formato, os itens agrupados
nas subescalas MIOB, MIEE e MICH são ignorados, considerando para efeito de
análise apenas as seis escalas (AMOT, REEX, REIJ, REID, REIG, MIGL). Por outro
lado, o BRSQ-8 procura atender as subescalas designadas para identificar os três tipos
de motivação intrínseca, sugeridas por Vallerand e Rousseau (2001), considerando
para efeito de análise oito escalas/subescalas (AMOT, REEX, REIJ, REID, REIG,
54
MIOB, MIEE, MICH), desconsiderando, neste caso, a escala global equivalente à
motivação intrínseca (MIGL).
Tradução e Adaptação Transcultural
Os protocolos de tradução e adaptação transcultural acompanharam
procedimentos sugeridos internacionalmente (Hambleton, 2005). A tradução inicial do
idioma original (inglês) para o português foi realizada de maneira independente por dois
pesquisadores com entendimento detalhado do BRSQ. Os dois pesquisadores tinham
como idioma nativo o português e amplo domínio do idioma inglês, com experiência em
traduções de textos acadêmicos. Além da tradução, foi solicitado que registrassem
expressões que poderiam oferecer dúbia interpretação.
Um grupo bilíngue formado por três pesquisadores da área de esporte comparou
os textos traduzidos, uniformizando o uso de expressões divergentes, e foi produzida
uma versão única do questionário que sintetizou as duas versões anteriores. Em
seguida, ocorreu a retrotradução do questionário por dois outros tradutores de maneira
independente. Os tradutores escolhidos para essa etapa tinham como idioma nativo o
inglês, domínio do idioma português e atuação como docente universitário em
Instituição brasileira. Solicitou-se aos tradutores que registrassem expressões que
pudessem gerar dúvidas no processo de retrotradução. O grupo bilíngue comparou
ambos os textos retrotraduzidos, produzindo versão única.
Um comitê analisou o processo de tradução e os resultados alcançados nas
etapas anteriores. O comitê foi formado por nove membros, incluindo os autores do
estudo, tradutores que participaram do processo de tradução/retrodução e três
docentes universitários da área do esporte, todos bilíngue inglês-português. O comitê
55
realizou revisão das sete versões do BRSQ disponível: versão original em língua
inglesa, duas versões traduzidas para o idioma português, versão síntese de ambas as
traduções para o idioma português, duas versões de retrotradução e versão síntese de
ambas as retrotraduções.
O comitê realizou apreciação dos tipos de equivalências entre o instrumento
original e a versão no idioma português. Os membros receberam orientações por
escrito sobre o objetivo do estudo e as definições adotadas para as equivalências.
Cada um respondeu individualmente a um formulário de análise que comparava cada
item do questionário original, da versão síntese traduzida para o idioma português e da
versão síntese de retrotradução, em relação às equivalências semântica, idiomática,
cultural e conceitual. O formulário de análise foi estruturado mediante escala diferencial
com alternativas discretas: “inalterada”, “pouco alterada”, “muito alterada” e
“completamente alterada”.
Sujeitos
Próxima etapa do estudo foi realizar testagem do BRSQ traduzido para o
português, com intuito de identificar os indicadores de validade psicométrica. Para
tanto, o BRSQ foi aplicado em uma amostra de atletas jovens participantes dos Jogos
da Juventude do Paraná no ano 2013. Por volta de 3600 atletas jovens participavam
nesta competição em diferentes modalidades: basquetebol, handebol, voleibol, futsal,
futebol, atletismo, natação, ciclismo, ginástica, judô, caratê, taekwondo e tênis. Para
seleção da amostra utilizou-se método não probabilístico casual. Para tanto,
previamente ao início das competições, todos os técnicos e dirigentes participantes dos
Jogos foram contatados e informados quanto à natureza, aos objetivos do estudo e ao
56
princípio de sigilo. Na sequência, foi solicitado autorização para contatar e convidar os
atletas jovens para participarem do estudo. Mediante confirmação pelo Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, 1217 atletas jovens (410 moças e 807 rapazes),
com idades entre 12 e 17 anos, concordaram em participar do estudo, o que
representou por volta de 30% do universo de participantes da competição.
Procedimentos
O BRSQ foi aplicado em um único momento, individualmente para cada atleta
jovem e por dois pesquisadores. Procurou-se evitar a aplicação do questionário em
situações em que os atletas jovens pudessem estar imerso em estresse pré ou pós-
competição. Neste caso, utilizaram-se os momentos em que os atletas jovens não se
encontravam em ambiente de competição ou quando eram tão somente expectadores
das competições. Os atletas jovens receberam o questionário com instruções e
recomendações para o seu preenchimento, não sendo estabelecido limite de tempo
para o seu término. Eventuais dúvidas manifestadas pelos respondentes foram
prontamente esclarecidas pelos pesquisadores que acompanhavam a coleta dos
dados.
Tratamento Estatístico
No intuito de identificar a validade de construto do BRSQ para uso na análise do
continuum de autodeterminação de atletas jovens foi empregada a análise fatorial
confirmatória com o método de estimativa Maximum Likelihood (máxima
verossimilhança). Inicialmente, com auxílio do Gráfico de Bigodes, descartou-se a
presença de casos outliers, atendendo-se, desse modo, importante pressuposto para
os procedimentos da análise fatorial confirmatória. Para testar o ajuste entre o modelo
57
teórico proposto e a matriz de coleta de dados foram utilizados múltiplos critérios: razão
entre qui-quadrado e graus de liberdade (χ2/gl), Goodness-of-Fit Index (GFI), Adjusted
Goodness-of-Fit Index (AGFI) e Root Mean Square Residual (RMSR). Neste caso, χ2/gl
< 2, GFI e AGFI ≥ 0,9 juntos com valores de RMSR ≤ 0,08 sugerem um bom ajuste de
modelo (Hu, Bentler, 1999).
Na sequência, a validade fatorial dos escores derivados dos 36 itens foi
observada mediante análise da saturação fatorial itens-escalas/subescalas. Para tanto,
recorreu-se as correlações bivariadas por intermédio do coeficiente de correlação de
Pearson. Neste caso, foi assumido como critério de exclusão aqueles itens com
saturação fatorial inferior a 0,40 ou que estivessem representados em mais de um fator
com saturação fatorial ≥ 0,40.
Para análise da consistência interna foram empregados os cálculos de alfa de
Cronbach. Também, foram calculados valores de média e desvio-padrão,
acompanhados das indicações de simetria e curtose de cada item do questionário e
escala/subescala identificada no modelo. Os dados foram tratados utilizando-se os
pacotes estatísticos computadorizados SPSS versão 20.0 e AMOS versão 17.0. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da
Universidade Norte do Paraná – Plataforma Brasil (Parecer 208.975/2013).
Resultados
Discretas divergências no uso de expressões foram observadas nas etapas do
processo de tradução. As eventuais divergências foram discutidas no comitê de análise
e prevaleceram as expressões de mais fácil compreensão e de uso frequente para
facilitar o entendimento. Dos 36 itens da versão traduzida do BRSQ, em 31 deles (86%)
58
os membros do comitê de análise apontaram como “inalterada” as equivalências
semântica, idiomática, cultural e conceitual. Nos cinco restantes (14%), os membros do
comitê apontaram “pouco alterada” pelo menos em uma das equivalências. Nenhum
item da versão traduzida do BRSQ apresentou as opções “muito alterada” ou
“completamente alterada” assinaladas em comparação com a versão original. Versão
traduzida do BRSQ pode ser conferida em anexo.
Características demográficas e histórico de treino dos atletas jovens
selecionados para o estudo estão descritas na tabela 1. Dos 1217 atletas jovens
envolvidos no estudo, 34% eram moças e, considerando ambos os sexos, 46,4% deles
tinham entre 15 e 16 anos e proporção similar se distribuiu em idades ≤ 14 anos e 17
anos. Contudo, identificou-se maior proporção de moças (31,7%), em comparação com
os rapazes (23,8%), em idades ≤ 14 anos. No que se refere ao histórico de treino,
proporções similares de moças e rapazes iniciaram os treinos em idades ≤ 9 anos; no
entanto, mais elevada proporção de rapazes iniciaram os treinos em idades ≥ 14 anos
(21,1% versus 16,1%). Quanto à experiência de treino, identificou-se menor tempo de
treino entre as moças, sendo que, 31,2% delas apontaram ter ≤ 2 anos de treino em
comparação com 16,1% dos rapazes. Com experiência de treino ≥ 7 anos observou-se
21,2% das moças e 36,8% dos rapazes. De maneira similar em ambos os sexos, menor
proporção de atletas jovens reunidos na amostra relataram treinar ≤ 4 horas/semana
(9,3%), enquanto 46% apontaram treinar ≥ 10 horas/semana. Constatou-se predomínio
de treino em modalidades coletivas (62%) e 69,3% dos atletas jovens demonstraram
experiência em competições de abrangência estadual e regional. Do restante, 21,5% e
9,3% relataram experiência em competições nacionais e internacionais,
respectivamente.
59
Tabela 1 – Indicadores sóciodemográficos e histórico de treino da amostra de atletas jovens analisados no estudo.
Moças (n = 410)
Rapazes (n = 807)
Ambos os Sexos (n = 1217)
Idade ≤ 14 Anos
15 – 16 Anos 17 Anos
Idade de Inicio do Treino ≤ 9 Anos
10 – 11 Anos 12 – 13 Anos
≥ 14 Anos Tempo de Treino
≤ 2 Anos 3 – 4 Anos 5 – 6 Anos
≥ 7 Anos Volume de Treino
≤ 4 horas/semana 5 – 9 horas/semana ≥ 10 horas/semana
Modalidade Esportiva Individual
Coletiva Nível de Competição
Internacional Nacional Estadual
Regional/Municipal
130 (31,7%) 201 (49,0%) 79 (19,3%)
125 (30,5%) 116 (28,3%) 103 (25,1%) 66 (16,1%)
128 (31,2%) 101 (24,7%) 94 (22,9%) 87 (21,2%)
38 (9,3%)
184 (44,9%) 188 (45,8%)
163 (39,8%) 247 (60,2%)
31 (7,6%)
114 (27,8%) 180 (43,9%) 85 (20,7%)
192 (23,8%) 364 (45,1%) 251 (31,1%)
237 (29,4%) 212 (26,2%) 188 (23,3%) 170 (21,1%)
131 (16,1%) 167 (20,7%) 212 (26,3%) 297 (36,9%)
75 (9,3%)
360 (44,6%) 372 (47,2%)
300 (37,2%) 507 (62,8%)
82 (10,2%)
148 (18,3%) 372 (46,1%) 205 (25,4%)
322 (26,5%) 565 (46,4%) 330 (27,1%)
362 (29,7%) 328 (27,0%) 291 (23,9%) 236 (19,4%)
259 (21,3%) 268 (22,0%) 306 (25,1%) 384 (31,6%)
113 (9,3%)
544 (44,8%) 560 (46,0%)
463 (38,0%) 754 (62,0%)
113 (9,3%)
262 (21,5%) 552 (45,4%) 290 (23,9%)
Quanto à validade de construto, em um primeiro momento, a análise fatorial
confirmatória foi conduzida considerando o conjunto dos 36 itens do BRSQ, e os
resultados apontaram indicadores estatísticos equivalentes à χ2/gl = 1,87, ao GFI =
0,945, AGFI = 0,958 e RMSR = 0,052 (IC95% 0,043-0,062). Na sequência, ao testar o
modelo separadamente para cada um dos dois formatos propostos, verificou-se que as
dimensões de adequação ao modelo teórico encontrado, tanto para o formato BRSQ-6
(χ2/gl = 1,52; GFI = 0,961; AGFI = 0,981; RMSR = 0,048 - IC95% 0,040-0,056), como
60
para o formato BRSQ-8 (χ2/gl = 1,96; GFI = 0,926; AGFI = 0,912; RMSR = 0,069 - IC95%
0,058-0,081), atenderam aos critérios sugeridos.
Quanto à validade fatorial, por intermédio da figura 1 visualizam-se informações
equivalentes à saturação fatorial do modelo proposto. De imediato, constata-se que
todos os valores de r encontrados apontam significância estatística (p < 0,001), não
sendo encontrados itens com saturação fatorial ≥ 0,40 em mais de um fator ou com
saturação insuficiente. Portanto, constata-se que a totalidade dos 36 itens originalmente
considerados na proposição do BRSQ também oferece melhor solução fatorial para ser
utilizado na amostra de atletas jovens selecionada no estudo.
Valores de média, desvio-padrão, assimetria e curtose acompanhados dos
coeficientes alfa de Cronbach para as escalas/subescalas são apresentados na tabela
2. Os escores individuais inclusos no modelo apresentaram distribuição de dados
normal (assimetria < 2; curtose < 7) e valores de média que variaram de 1,91 a 6,01,
com desvios-padrão associados entre 0,41 e 0,96. Esses achados referentes à
estatística descritiva fundamenta fortemente a confiabilidade das estimativas de
consistência interna, considerando que o valor médio de nenhuma das
escalas/subescalas, isoladamente, se aproximou dos escores extremos possíveis (1 ou
7). Destaca-se, ainda, que a variabilidade dos escores individuais foi restrita,
denotando-se, portanto, alguma homogeneidade em sua dispersão, independente do
fator considerado. Ao procederem os cálculos dos coeficientes alfa de Cronbach foram
identificadas dimensões que variaram de 0,71 (REIG) a 0,85 (MICH), o que aponta para
índices desejáveis de consistência interna para ambos os formatos da versão traduzida
do BRSQ.
61
Amotivação
RegulaçãoExterna
RegulaçãoIntrojetada
RegulaçãoIdentificada
RegulaçãoIntegrada
0,70
0,78
0,76
0,74
Item 6
Item 8
Item 17
Item 30
Item 13
Item 18
Item 20
Item 33
Item 5
Item 7
Item 16
Item 24
Item 10
Item 22
Item 27
Item 31
Item 3
Item 4
Item 9
Item 35
0,72
0,77
0,78
0,77
0,73
0,83
0,68
0,75
0,75
0,77
0,76
0,75
0,71
0,78
0,79
0,71
0 , 7 0
- 0 , 0 9
0 , 8 5
0 , 7 8
0 , 7 4
- 0 , 2 9
- 0 , 1 9
- 0 , 1 7
- 0 , 2 5
- 0 , 3 4
- 0 , 2 9
0 , 0 2
- 0 , 3 1
- 0 , 3 3
- 0 , 3 9
- 0 , 2 9
MI - Objetivo
Item 11
Item 12
Item 23
Item 34
0,76
0,79
0,72
0,76
MI - ExperiênciasEstimulantes
Item 2
Item 19
Item 29
Item 32
0,66
0,80
0,75
0,76
MI - Conhecimento
Item 15
Item 26
Item 28
Item 36
0,77
0,85
0,88
0,79
0 , 5 5
0 , 7 9
0 , 6 8
0 , 7 5
0 , 6 1
0 , 5 2
- 0 , 1 9
- 0 , 2 3
- 0 , 1 6
0 , 6 1
0 , 5 7
0 , 5 0
Figura 1 – Estrutura fatorial do Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) traduzido e aplicado em atletas jovens brasileiros.
62
Tabela 2 – Estatística descritiva e coeficiente alfa de Cronbach das escalas/subescalas do Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) traduzido e aplicado em atletas jovens brasileiros.
Média Desvio-padrão
Assimetria Curtose Alfa de
Cronbach
AMOT
REEX
REIJ
REID
REIG
MIGL
MIOB
MIEE
MICH
1,91
2,27
2,62
5,45
5,79
5,98
5,99
6,01
5,48
0,41
0,50
0,66
0,76
0,88
0,84
0,90
0,96
0,82
1,14
1,72
0,93
-0,93
-0,96
-1,16
-1,10
-0,97
0,87
0,99
1,96
0,03
0,63
0,79
1,38
0,93
0,70
0,30
0,81
0,84
0,83
0,74
0,71
0,82
0,79
0,80
0,85
AMOT: amotivação; REEX: motivação extrínseca de regulação externa; REIJ: motivação extrínseca de regulação introjetada; REID: motivação extrínseca de regulação identificada; REIG: motivação extrínseca de regulação integrada; MIGL: motivação intrínseca global; MIOB: motivação intrínseca para alcance de objetivos; MIEE: motivação intrínseca para vivencia de experiências estimulantes; MICH: motivação intrínseca para domínio de conhecimentos.
Discussão
A efetivação das etapas do processo de tradução do instrumento não apresentou
maior dificuldade devido à metodologia adotada e à estrutura simples e objetiva de
formulação dos itens do BRSQ. A tradução inicial realizada pelos dois tradutores foi
pouco modificada nas etapas subsequentes. A retrotradução, quando comparada ao
63
instrumento original, apresentou discretas discrepâncias, resultantes de ajustes
realizados para atender especificidades de determinados itens. A análise das
equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual, equivalente à adaptação
transcultural, como a etapa de tradução, indicou que o instrumento foi de fácil tradução.
A análise das equivalências mostrou que os domínios do BRSQ são apropriados
e os atributos utilizados na versão original do instrumento são igualmente válidos para a
cultura-alvo, o que atende a equivalência cultural. A equivalência conceitual indicou que
poucos itens necessitaram de ajustes. Os itens puderam ser considerados de maneira
semelhante ao formato original, indicando, mais uma vez, que a estrutura de formulação
do BRSQ foi bem elaborada. No que se refere à equivalência idiomática, a versão
traduzida mostrou que quase a totalidade dos itens foram avaliados como “inalterado” e
nenhum membro do comitê de análise considerou algum item como “muito alterado” ou
“completamente alterado”, quando da comparação entre as versões dos instrumentos
original, traduzido e retrotraduzido.
Quanto à estrutura fatorial do BRSQ traduzido e adaptado no presente estudo
para o idioma português, constatou-se disposição semelhante a encontrada na versão
original proposta por Lonsdale, Hodge, Rose (2008), sendo extraída idêntica quantidade
de fatores equivalentes à motivação, independentemente de se utilizar a versão
reduzida (BRSQ-6) ou a versão ampliada (BRSQ-8). Ainda, com valores equivalentes
ao alfa de Cronbach superiores a 0,70 em todos os fatores de motivação extraído da
estrutura fatorial, pode-se assumir que a versão traduzida do BRSQ apresenta aceitável
consistência interna, o que aponta sua confiabilidade para análise do perfil de
motivação em atletas jovens no contexto brasileiro. Porém, observou-se que, em
comparação com a versão original, a consistência interna de cada escala/subescala de
64
motivação, de modo geral, foi discretamente mais baixa na estrutura fatorial do BRSQ
traduzido para o idioma português. Também, a amplitude de variação entre os escores
mais elevado (0,85) e mais baixo (0,71) foi superior a apresentada pela versão original
do BRSQ (0,91 e 0,76, respectivamente), o que sugere menor equilíbrio entre os fatores
de motivação na versão traduzida para o idioma português.
Provável justificativa para esses achados possam estar associada às
características das amostras selecionadas em um e outro estudo. Originalmente, o
BRSQ foi aplicado e validado em uma amostra de atletas de elite nacional da Nova
Zelândia, com idade média próxima de 25 anos, enquanto no presente estudo foram
reunidos atletas jovens com idades ≤ 17 anos que participavam da etapa final dos
Jogos da Juventude do Paraná, competição estadual que reuni participantes com
experiência de competição/treino bastante diversificada. Portanto, é possível que os
contextos em que ambos os estudos foram realizados possam ter definido diferenças
quanto ao perfil de interesse e motivos para a prática de esporte.
Outra opção de análise da validade dos fatores teóricos que compõem o BRSQ
traduzido para o idioma português é mediante as dimensões dos coeficientes de
correlação inter-fatores decorrentes da definição dos construtos, como forma de
complemento da análise fatorial, uma vez que, em teoria, devem se portar de acordo
com o continuum de autodeterminação. Neste caso, constata-se que a disposição dos
valores de r entre os fatores observados na estrutura fatorial confirmam a presença do
continuum de autodeterminação nas duas versões do BRSQ, considerando que
regulações próximas uma das outras no continuum mostraram estar fortemente
correlacionadas em um sentido positivo, quando comparadas com regulações mais
65
afastadas no continuum. Fato similar também foi relatado no estudo original de
proposição do BRSQ, o que reforça a tese de que este instrumento se define como
ferramenta de análise das regulações de motivação de praticantes de esporte sob a luz
da TaD.
Concluindo, o instrumento BRSQ traduzido e adaptado para o idioma português
alcançou bom desempenho psicométrico frente à amostra do presente estudo,
apresentando satisfatórios coeficientes alfa de Cronbach calculados para os fatores de
motivação gerados. A solução fatorial gerada mediante a análise fatorial confirmatória
foi similar a apresentada originalmente, tanto para versão reduzida (BRSQ-6) como
para versão ampliada (BRSQ-8). No entanto, os achados apontaram que o BRSQ-8
apresentou indicações de validação equivalentes à consistência interna e à validade
fatorial mais adequadas. Desta maneira, ambas as versões do BRSQ disponibilizadas
no presente estudo mostraram-se promissoras para utilização em futuras intervenções
com objetivo de analisar as regulações de motivação para a prática de esporte em
atletas jovens brasileiros.
Referências
Biddle S, Markland D, Gilbourne D, Chatzisarantis N, Sparkes A. Research methods in
sport and exercise psychology: quantitative and qualitative issues. Journal of Sports
Sciences. 19 :777-809, 2001.
Calvo TG, Cervelló R, Jiménez R, Iglesias D, Murcia JAM. Using self-determination
theory to explain sport persistence and dropout in adolescent athletes. Spanish Journal
of Psychology. 13(2):677-84, 2010.
66
Deci EL, Ryan RM. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New
York: Plenum, 1985.
Deci EL, Ryan R M. Self-determination theory. In: Van Lange PAM, Kruglanski AW,
Higgins ET (Eds.). Handbook of Theories of Social Psychology. Thousand Oaks, CA:
Sage. 2012. pp. 416-37.
Gill DL, Williams L. Psychological Dynamics of Sport and Exercise. 3th Edition.
Champaign, Illinois: Human Kinetics. 2008.
Hagger M, Chatzisarantis N. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Exercise and
Sport. Leeds, England: Human Kinetics Europe. 2007.
Hambleton RK. Issues, design and technical guidelines fot adapting tests into multiple
languages and cultures. In: Hambleton RK, Merenda PF, Spielberger CD (Eds).
Adapting Psychological and Educational Tests for Cross-Cultural Assessment. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum. 2005. pp. 3-38.
Hu L, Bentler P. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis:
conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling. 6(1):1-55,
1999.
Koh KT, Wang CK, Erickson K, Cote J. Experience in competitive youth sport and needs
satisfaction: The Singapore Story. International Journal of Sport Psychology. 43:15-32,
2012.
Lonsdale C, Hodge K, Rose EA. The Behavioral Regulation in Sport Questionnaire
(BRSQ): Instrument development and initial validity evidence. Journal of Sport and
Exercise Psychology. 30:323-55, 2008.
67
Mallett CJ, Kawabata M, Newcombe P, Otero-Ferero A, Jackson SA. Sports motivation
Scale-6 (SMS-6): a revised six-factor sport motivation scale. Psychology of Sport and
Exercise. 8(5):600-14, 2007.
Newton M, Duda JL, Yin Z. Examination of the psychometric properties of the perceived
motivational climate in sport questionnaire-2 in a sample of female athletes. Journal of
Sport Sciences. 18(4):275-90, 2000.
Ntoumanis N. A self-determination theory perspective on motivation in sport and
physical education: Current trends and possible future directions. In: Roberts GC,
Treasure D (Eds.). Advances in Motivation in Sport and Exercise. Leeds, England:
Human Kinetics Europe. 2012. pp.91-128.
Pelletier LG, Rocchi MA, Vallerand RJ, Deci EL, Ryan RM. Validation of the revised
sport motivation scale (SMS-II). Psychology of Sport and Exercise 14:329-41, 2013.
Pelletier LG, Tuson DM, Fortier MS, Vallerand RJ, Brière NM, Blais MR. Toward a new
measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation in sports: the Sport
Motivation Scale. Journal of Sport and Exercise Psychology. 17(1):35-53, 1995.
Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation,
social development, and well-being. American Psychologist. 55:68-78, 2000.
Ryan RM, Deci EL. Active human nature: Self-determination theory and the promotion
and maintenance of sport, exercise, and health. In: Hagger MS, Chatzisarantis NLD
(Eds.). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Exercise and Sport. Champaign,
IL: Human Kinetics. 2007. pp. 1-19.
68
Slingerland M, Haerens L, Cardon G, Borghouts L. Differences in perceived competence
and physical activity levels during single-gender modified basketball game play in middle
school physical education. European Physical Education Review. 20:20-35, 2014.
Vallerand R. Intrinsic and extrinsic motivation in sport and physical activity: a review and
a look at the future. In: Tennenbaum G, Eklund R (Eds.). Handbook of Sport
Psychology. 3rd Edition. New York: John Wiley & Sons. 2007. pp. 59-83.
Vallerand RJ, Rousseau FL. (2001). Intrinsic and extrinsic motivation in sport and
exercise: A review using the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. In:
Singer RN, Hausenblas HA, Janelle CM (Eds.). Handbook of Sport Psychology. New
York: Wiley. 2001. pp.389-416.
Van de Berghe L, Vansteenkiste M, Cardon G, Kirk D, Haerens L. Research on self-
determination in physical education: Key findings and proposals for future research.
Physical Education and Sport Pedagogy. 1: 97-121, 2014.
Vasconcellos DIC. Avaliação da motivação para a prática esportiva em adolescentes e
jovens adultos brasileiros: validação do Questionário de Regulação do Comportamento
no Esporte (QRCE). Dissertação de Mestrado em Ciências do Movimento Humano.
Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC. 2011.
Viladrich C, Torregrosa M, Cruz J. Calidad psicométrica de la adaptación española del
Cuestionario de Regulación Conductual en el Deporte. Psicothema. 23(4):786-94, 2011.
Vlachopoulos SP, Karageorghis CI, Terry PC. Motivation profiles in sport: a self-
determination theory perspective. Research Quarterly for Exercise & Sport. 71(4):387-
97, 2000.
69
a
Abaixo estão alguns motivos que podem levar as pessoas a praticarem esporte. Utilizando a escala de medida fornecida, assinale com um círculo no número apropriado o quanto cada um desses motivos é importante para você praticar esporte. Quando decidir se algum destes itens é um motivo pelo qual você pratica esporte, por favor, reflita sobre todos os fatores que o levam à pratica de esporte. Não existem itens certos ou errados. Logo, não dedique muito tempo por item e procure responder da maneira mais honesta possível. Alguns itens podem ser parecidos, mas é importante que todos os itens sejam respondidos.
Eu pratico esporte ....
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nada verdadeiro
Pouco verdadeiro
Algumas vezes verdadeiro
Muito verdadeiro
Totalmente verdadeiro
1. Porque aprecio esporte. 1 2 3 4 5 6 7
2. Pelo prazer que sinto quando estou completamente envolvido no esporte. 1 2 3 4 5 6 7
3. Porque é uma parte de mim. 1 2 3 4 5 6 7
4. Porque é uma oportunidade que tenho de ser eu mesmo. 1 2 3 4 5 6 7
5. Porque me sentiria envergonhado de desistir. 1 2 3 4 5 6 7
6. Mas as razões do por que pratico não estão tão claras para mim. 1 2 3 4 5 6 7
7. Porque me sentiria fracassado se desistisse. 1 2 3 4 5 6 7
8. Mas mesmo assim me pergunto qual a razão de sua pratica. 1 2 3 4 5 6 7
9. Porque o que faço no esporte reflete quem eu sou. 1 2 3 4 5 6 7
10. Porque os benefícios do esporte são importantes para mim. 1 2 3 4 5 6 7
11. Porque gosto da sensação de realização quando tento alcançar objetivos de longo prazo. 1 2 3 4 5 6 7
12. Porque gosto da sensação de sucesso quando estou buscando alcançar algo importante. 1 2 3 4 5 6 7
13. Porque se não praticar, outras pessoas ficarão insatisfeitas comigo. 1 2 3 4 5 6 7
14. Porque adoro esporte. 1 2 3 4 5 6 7
15. Porque gosto de aprender algo novo sobre esporte. 1 2 3 4 5 6 7
16. Porque me sinto obrigado a continuar. 1 2 3 4 5 6 7
17. Mas me questiono porque continuo praticando esporte. 1 2 3 4 5 6 7
18. Porque me sinto pressionado por outras pessoas para praticar. 1 2 3 4 5 6 7
19. Pela empolgação que sinto quando estou realmente envolvido com o esporte. 1 2 3 4 5 6 7
20. Porque as pessoas me pressionam para praticar. 1 2 3 4 5 6 7
70
21. Porque é divertido. 1 2 3 4 5 6 7
22. Porque o esporte me ensina autodisciplina. 1 2 3 4 5 6 7
23. Porque gosto de fazer as coisas o melhor que posso. 1 2 3 4 5 6 7
24. Porque me sentiria culpado se parasse. 1 2 3 4 5 6 7
25. Porque acho prazeroso. 1 2 3 4 5 6 7
26. Porque gosto de aprender como utilizar novas técnicas. 1 2 3 4 5 6 7
27. Porque valorizo os benefícios do esporte. 1 2 3 4 5 6 7
28. Porque gosto de aprender novas técnicas. 1 2 3 4 5 6 7
29. Porque adoro a sensação que sinto quando pratico esporte. 1 2 3 4 5 6 7
30. Mas me questiono por que estou fazendo isso. 1 2 3 4 5 6 7
31. Porque é uma boa maneira de aprender coisas que podem ser úteis em minha vida. 1 2 3 4 5 6 7
32. Por causa da sensação positiva que experimento quando pratico esporte. 1 2 3 4 5 6 7
33. Para satisfazer as pessoas que querem que eu pratique esporte. 1 2 3 4 5 6 7
34. Porque me dá uma sensação de realização quando me esforço para atingir meus objetivos.
1 2 3 4 5 6 7
35. Porque o esporte me permite viver de uma forma que é verdadeira com meus valores. 1 2 3 4 5 6 7
36. Pelo prazer que tenho em saber mais sobre o esporte. 1 2 3 4 5 6 7