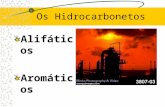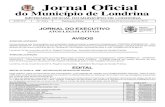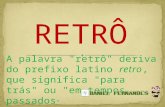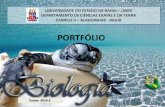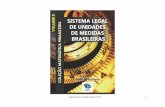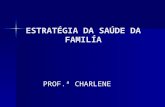CHARLENE SOARES DA SILVA - letras.ufpr.br · categorias tradicionais da narrativa (tais como tempo...
Transcript of CHARLENE SOARES DA SILVA - letras.ufpr.br · categorias tradicionais da narrativa (tais como tempo...

CHARLENE SOARES DA SILVA
“UMA EXPERIÊNCIA MÍSTICA ÀS AVESSAS” ESTUDO SOBRE A PARÓDIA RELIGIOSA EM A PAIXÃO SEGUNDO G.H.,
DE CLARICE LISPECTOR.
Monografia apresentada como requisito para obtenção do grau de bacharel em Letras (Português) – ênfase em Estudos Literários. Curso de Letras do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná. Prof. Orientadora: Sandra M. Stroparo
Curitiba 2007

ii
AGRADECIMENTOS
Agradeço a minha família e, especialmente, a minha mãe, que na
coragem de sua luta diária, tem demonstrado que a condição humana é
mesmo a da paixão.
Agradeço a meu marido pela paciência e compreensão. Mesmo sem
entender essa minha “cisma com barata”, ele sempre me apoiou.
Finalmente agradeço a professora Sandra não apenas pela orientação,
mas por acreditar neste trabalho. Em momentos em que pensei que não seria
possível realizá-lo, foi ela quem não me fez desistir.

1
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO__________________________________________________2 Capitulo I – A PARÓDIA EM QUESTÃO______________________________6
Capitulo II – O CAOS____________________________________________13
Capítulo III – PROVAÇÃO________________________________________ 18
Capítulo IV – O PECADO_________________________________________23
Capítulo V – DANAÇÃO, REDENÇÃO E PAIXÃO _____________________ 30
Capitulo VI – CONCLUSÃO_______________________________________35
REFERÊNCIAS________________________________________________41

2
INTRODUÇÃO
Ainda não há consenso entre a crítica atual sobre uma denominação
para a literatura contemporânea. Para críticos, como Linda Hutcheon1, a
literatura e as artes em geral vivem o chamado Pós-Modernismo, no entanto
essa afirmação ainda é um pouco controversa.
Em linhas gerais, o Pós-Modernismo é tido como resultado de um
momento histórico de falências de todo dogmatismo. Segundo seus teóricos, a
literatura atual se caracteriza pelo ceticismo diante das metanarrativas2, pela
descentralização do sujeito e, sobretudo, por uma forma fluida que rompe com
categorias tradicionais da narrativa (tais como tempo e espaço) e implode os
significados.
O prefixo “pós” não marca aí apenas a sucessão temporal de um
período, mas a representação de um tipo de produção cultural essencialmente
contraditória, histórica e política que rompe com a separação entre alta e baixa
cultura.
Muitas dessas características, é certo, não surgiram com o Pós-
Modernismo. A ruptura com a tradição, a crise da representação, a descrença
na validade e na permanência do discurso, a angústia pela perda da noção de
sujeito e o estranhamento são marcas já da modernidade.
Na poesia de Rimbaud, por exemplo, já podemos encontrar a mesma
ruptura da arte com a representação da realidade, a fragmentação textual, a
percepção de um sujeito que não existe de forma autônoma. Conforme
apontou esse autor, o fazer poético na modernidade se constitui por “um longo,
imenso e racional desregramento de todos os sentidos” 3.
O Pós-Modernismo, contudo, recupera essa experiência de arte e a
expande de tal forma que a torna marca da produção contemporânea. Nunca
1 Poética do Pós-Modernismo, passim. 2 Termo utilizado por Hutcheon para se referir aos discursos tradicionais e oficiais produzidos pelas instituições sociais. 3 Arthur Rimbaud, A carta do vidente. In: Oeuvres completes – correspondance. Trad. Sandra M. Stroparo.

3
se viu em outra época, uma produção que se servisse tão abundantemente
dessas características para negar tudo o que é tradicional e estabelecido,
afirmando-se no estranhamento que provoca. Talvez por isso mesmo seja
difícil reconhecer o que é pós-moderno.
Independente de concordarmos com os teóricos do Pós-Modernismo,
em relação a uma denominação unívoca para a literatura atual, não podemos
deixar de reconhecer que certas considerações levantadas por essa teoria
trouxeram uma inegável contribuição para o estudo das obras
contemporâneas.
A teoria pós-moderna nos interessa, sobretudo, pelo reconhecimento
que faz, na arte contemporânea, de uma contundente crítica às narrativas
mestras, ou seja, aos discursos oficiais estabelecidos seja pela religião, pela
ciência ou pela arte. Deus, a natureza, a ciência perdem a sua autoridade
como fonte de verdades universais.
Seguindo esse raciocínio Baudrillard4, outro importante teórico do pós-
modernismo, afirma que com a implosão das metanarrativas, a sociedade
passou o valorizar o hiper-real. O simulacro passa a ser mais real do que a
realidade.
A crítica pós-moderna aos textos universais, entretanto, só se faz a partir
de e dentro do contexto desses discursos. Aproveitando-se dos textos da
tradição, a literatura atual subverte um passado que não quer perpetuar e de
que, ao mesmo tempo, não pode prescindir.
A paródia é para o nosso tempo, portanto, o recurso privilegiado de
criação artística, revelando o quanto a arte contemporânea se tornou auto-
reflexiva, o quanto ela se questionará sobre as possibilidades de seu discurso.
Como recurso responsável por desestabilizar convenções, por apontar nossos
paradoxos, a paródia nos dá uma reinterpretação crítica do passado.
É certo que a paródia não surgiu com o pós-moderno. Podemos
encontrar referências a sua utilização desde a literatura grega, entretanto, a
sua utilização em larga escala como um recurso capaz de realizar tanto a 4 Thomas Bonnici, O pós-modernismo. In: BONNICI, Thomas & ZOLIN, Lúcia Osana (Org.) Teoria Literária, p 259.

4
mudança quanto a continuidade cultural, através da reelaboração e do
reconhecimento da tradição, é algo que se acentua na produção artística
contemporânea.
Na literatura brasileira o uso da paródia é também acentuado com o
modernismo de 22, no entanto, a paródia produzida por esses autores é a
paródia cômica e burlesca, cujo principal objetivo é ridicularizar e provocar riso.
É o que vemos, por exemplo, na produção de um Oswald de Andrade.
Clarice Lispector, entretanto, toma outra direção. A experiência paródica
de seus livros não tem nada de cômico, apresentando, ao contrário, um forte
tom irônico e questionador. Em 1943, quando é publicado seu romance Perto
do Coração Selvagem, ela já sinaliza uma mudança na sensibilidade artística.
Mas em 1964, com a publicação de A Paixão Segundo G.H., se torna evidente
o quanto a obra de Clarice já não pode ser compreendida como continuidade
da estética modernista.
Não se pretende como isso enquadrar a obra de Clarice em qualquer
classificação seja ela modernista ou pós-modernista. A produção desta autora
não se presta a qualquer tipo de enquadramento, pois sempre os ultrapassa.
Entretanto, a crítica contemporânea à sua produção parece não ter sido
suficientemente capaz de explicá-la. É por conta deste fator que retomamos
parte da crítica pós-moderna, a qual nos deu importantes fundamentos para
sua análise.
A Paixão Segundo G.H. rompe com as estruturas de tempo e de espaço,
mas principalmente com a linguagem e não pode ser interpretada apenas como
ruptura com a tradição. Como uma narrativa extremamente nova, ela efetua a
corrosão da linguagem e das estruturas narrativas, questionando-a como forma
de representação.
O resultado desse novo modo de composição é o surgimento de uma
anti-narrativa que vai do caos ao silêncio para, através da linguagem,
questionar o discurso literário.
Essa desconfiança sobre a linguagem parece se dar, sobretudo, através
da paródia, conforme se pretende mostrar aqui. O romance retomará a paixão

5
de Cristo sobre um novo sentido. A experiência vivida pela personagem
continua ainda mística, no entanto, o objetivo alcançado difere muito dos ideais
cristãos.
Subvertendo o discurso religioso, essa narrativa se enquadra na mesma
desconfiança e ceticismo que a arte contemporânea sobre as metanarrativas.
O sentido cotidiano e desgastado do signo e subvertido ao longo da narrativa
de forma a evidenciar sua artificialidade e implodir as noções tradicionais do
significado.
Há um consenso entre a crítica em considerar essa obra como uma anti-
narrativa. Críticos como Benedito Nunes e Antônio Cândido já apontaram para
a dissolução das estruturas narrativas desta obra, no entanto, ainda não há um
estudo detido de todas as estruturas responsáveis por essa dissolução.
As observações destes críticos serviram para confirmar nossa hipótese
sobre o romance, mas também exigiam o desenvolvimento de estudos que as
tornassem objetos concretos, resultados de pesquisa. Analisar todas as
categorias narrativas que são subvertidas nesta obra exigiria um trabalho de
maior fôlego e extensão do que o pretendido por este trabalho.
Identificando, portanto, uma lacuna crítica nos estudos sobre A Paixão
Segundo G.H., pretende-se aqui, ao menos em parte, preenchê-la, através da
de um estudo mais profundo sobre o papel da paródia nesta obra. É essa
necessidade que este trabalho visa suprir.

6
I. A PARÓDIA EM QUESTÃO
Paródia foi o termo utilizado por Olga de Sá para caracterizar as
relações intertextuais presentes em A Paixão Segundo G.H. Segundo a autora,
há nesta obra um pólo paródico “constituído pela paródia séria, não burlesca,
que denuncia o ser pelo desgaste do signo, pelas figuras de contradição como
o paradoxo e oxímoro, “descrevendo” o que foi escrito (...) 5”. Embora aí a
autora não esclareça exatamente em que termos compreende este conceito,
seus apontamentos marcam uma aguda observação daquilo que, naquela
obra, ela chama de uma paródia séria.
De fato, a leitura de PSGH6 implica na compreensão de suas relações
intertextuais. Paródia, pastiche ou mera alusão? Essas são apenas algumas
das possibilidades de construção de intertextualidade que podem ser
representadas por figuras de linguagem que estão muito próximas, mas que
são, contudo, distintas. É preciso repensar o conceito de paródia e distingui-lo
das demais formas, se quisermos admiti-lo, como fez Olga de Sá.
PSGH é alicerçada em um diálogo com uma reelaboração (cabe aqui
avaliar se paródica o não) de textos religiosos. A começar pelo título, que
remete diretamente à história da Paixão de Cristo, encontramos em todo o
texto referências a textos bíblicos e a história de santos. A história narrada,
entretanto, não segue os moldes tradicionais de paródia.
Um dos primeiros fatores que chama a atenção quanto à singularidade
da suposta paródia presente em PSGH é o tipo de relação estabelecida entre o
texto de origem e o texto parodiado. Ao contrário do que preconizam alguns
prestigiados dicionários de literatura, a relação entre esses textos não se
realiza apenas no âmbito do cômico ou burlesco.
Segundo definição do dicionário Oxford de literatura, a paródia é:
5 Olga de Sá, “Paródia e Metafísica”. In: LISPECTOR, Clarice. A Paixão Segundo G.H. Edição crítica. Coordenação de Benedito Nunes. 2ª ed. Madri – São Paulo: ALLCA XX – Scipione Cultural, 1997. Todas as referências a essa obra utilizarão essa versão. 6 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. Daqui em diante todas as referências a essa obra serão feitas pela abreviação PSGH.

7
“Uma composição em prosa ou em verso em que os estilos característicos do pensamento e fraseado de um autor, ou classe de autores, são imitados de maneira a torná-los ridículos, em especial aplicando-os a temas caricatamente impróprios; imitação de uma obra tomando mais ou menos como modelo o original, mas alterado de maneira a produzir um efeito ridículo.” 7
Essa definição, se levada, exclusivamente, em consideração,
certamente excluiria de nossos estudos o termo paródia, obrigando-nos a
considerar a hipótese de pastiche ou de alusão para as referências
intertextuais da obra. Para compreender, entretanto, o que afirmou Olga de Sá,
é necessário, aprofundar o estudo sobre este termo seguindo outros teóricos.
Na Poética, Aristóteles atribui a origem da paródia a Hegemon de Tarso,
quando este utiliza o gênero épico para representar homens comuns, na vida
cotidiana, em oposição à convenção de representar seres superiores.
Hegemon teria sido o primeiro a realizar a inversão do gênero épico,
caracterizando assim a paródia como subversão de um gênero estabelecido.
Essa definição de paródia, embora correta à época, não se sustentou
nas suas diversas utilizações práticas, ou seja, nas próprias obras de arte dos
séculos posteriores. A paródia seguiu para novos âmbitos que não se limitavam
à distorção de um gênero. E é a partir de Bakhtin que a teoria sobre a paródia
ganha consistência e forma.
A noção de dialogismo é o cerne da teoria bakhtiniana e é também o
centro de sua concepção de linguagem. O diálogo representa a condição de
sentido do discurso. Para este teórico, a linguagem só existe enquanto dirigida
para o outro e por isso os discursos monofônicos (uma só voz) representam
uma ilusão. Nenhum discurso é autônomo ou independente. Simplificando,
poderíamos dizer que a distinção entre o monólogo e o diálogo está
simplesmente em evidenciar ou não o interlocutor.
De acordo com essa concepção, o sujeito perde o seu papel central e
uno para se desdobrar em um sujeito histórico e ideológico, o qual não carrega
nenhuma palavra propriamente sua, mas sim perspectivas de outras vozes.
Segundo Diana da Luz Pessoa de Barros:
7 Linda Hutcheon, Uma teoria da Paródia. p.48.

8
“Emprega-se o termo polifonia para caracterizar um certo tipo de texto, aquele em que se deixam entrever muitas vozes, por oposição aos textos monofônicos, que escondem os diálogos que os constituem. Reserva-se o termo dialogismo para o princípio constitutivo da linguagem e de todo o discurso.” 8
Pode-se concluir daí que os discursos apresentam diversas vozes,
representadas por diversas idéias e conceitos de um sujeito ao mesmo tempo
histórico e ideológico, cuja origem são outros discursos, com o qual o texto
dialoga. Nos textos monofônicos esses diálogos não deixam marcas, mas nos
polifônicos esse diálogo transparece de forma nítida, através de recursos tais
como a intertextualidade.
Portanto, segundo a teoria bakhtiniana, todo discurso é um ato de
linguagem que só se realiza a partir da interação com outros discursos pré-
existentes e essa relação dialógica se estabelece, na interação verbal, na
relação entre o enunciador e o enunciatário e no texto escrito através da
intertextualidade.
Com isso pode-se perceber que para Bakhtin a paródia é uma forma de
intertextualidade, a qual ele define da seguinte forma:
“Um autor pode usar o discurso de um outro para seus fins pelo mesmo caminho que imprime nova orientação significativa ao discurso que tem sua própria orientação e a conserva. Neste caso, esse discurso deve ser sentido como de um outro. Assim, num único discurso podem-se encontrar duas orientações interpretativas, duas vozes. Assim é o discurso parodístico, a estilização, o skaz estilizado.” 9
Essa definição é bastante interessante para se pensar o uso da paródia
contemporaneamente. Ainda hoje é consenso, conforme apontou Bakhtin, que
a paródia é um discurso no qual o autor emprega a fala de outro, mas introduz
nesta uma intenção diversa. Entretanto, essa definição em si só não basta para
dar conta de um fenômeno mais extenso e completo, presente tanto nos
romances e sátiras como na pintura, escultura e outras formas de arte do
nosso século. Os estudos feitos por Bakhtin associavam a paródia muito mais
ao gênero romanesco. É justamente esse tipo de limitação que o estudo de
Hutcheon vem suprir.
8 Diana Luz Pessoa de Barros, Dialogismo, Polifonia e Enunciação. In: FIORIN & BARROS (Orgs). Dialogismo, Polifonia e Intertextualidade. p.5. 9 Mikhail BAKHTIN, A poética de Dostoievski. In: FIORIN & BARROS (Orgs). Dialogismo, Polifonia e Intertextualidade. Trad. Leonor Lopes Fávero. p.53.

9
Segundo Hutcheon, a paródia é neste século um dos maiores modos de
construção formal e temática de textos. Analisando diversas formas de
expressões artísticas que vão da música à literatura, da pintura ao cinema, a
autora aponta para a paródia como um modo de se chegar a um acordo com
os textos do passado e colocá-los em funcionamento de acordo com novas
necessidades.
Os artistas modernos, portanto, parecem ter plena consciência de que
toda mudança implica em continuidade e oferecem, através da paródia, uma
forma de reorganizar esse passado.
Para além das implicações estéticas, Hutcheon, assim como Bakhtin, vê
na paródia implicações ideológicas e sociais. A paródia representa um reflexo
da crise de nossa noção de sujeito como fonte constante e coerente de
significação, da singularidade romântica, da origem sacrossanta do texto e do
autor.
Em virtude da importância dada ao termo pela autora, é de se esperar
que esta não assuma simplesmente a mesma concepção de Bakhtin. Para
Linda Hutcheon não existem definições trans-históricas de paródia, mas
denominadores comuns a todas as definições. A paródia feita pela arte
contemporânea não é a mesma feita por Hegemon, a qual se limitava a
subverter um gênero. O tipo de paródia característico à nossa época é um
processo de revisão e reexecução, inversão e “transcontextualização” de obras
anteriores.
Segundo Hutcheon, portanto, a paródia é repetição com distância
crítica, marcando diferença, ao invés de semelhança. Essa definição, no
entanto, embora bastante simples, necessita de alguns esclarecimentos e a
autora propõe uma análise deste conceito em dois âmbitos: o formal e o
pragmático.
Com relação a seu âmbito formal, Linda defende que a paródia não é
mero empréstimo textual. A utilização de um texto pelo outro é um modo pelo
qual uma obra afirma-se como um gênero com raízes na realidade de tempo
histórico e espaço geográfico.

10
A paródia, portanto, aproxima dois textos, mas acentua e dramatiza a
diferença entre ambos. A ironia é o mecanismo retórico que permite marcar
essa diferença. É uma estratégia formal que permite ao descodificador
interpretar e avaliar. A definição de paródia pode assim ser complementada
como: “uma forma de imitação caracterizada por uma inversão irônica”. 10
Essa inversão irônica, no entanto, nem sempre se faz às custas do texto
parodiado. Ao contrário das teorias de intertextualidade de Genette, Hutcheon
não reconhece paródia como sinônimo de intertextualidade, nem como
transformação mínima do texto. A “transcontextualização” paródica pode tomar
a forma de uma incorporação literal ou de um refazer de elementos formais.
Para a autora, os textos não geram nada se não forem apreendidos e
interpretados. A mera “transcontextualização” de texto não é capaz de gerar
nada sozinha, se o leitor não for capaz de decodificar essas referências. O
processo de comunicação é fundamental para o funcionamento da paródia.
“Quando falamos de paródia não nos referimos apenas a dois textos que se inter-relacionam de certa maneira. Implicamos também uma intenção de parodiar outra obra (ou conjunto de convenções) e tanto um reconhecimento desta intenção como capacidade de encontrar e interpretar o texto de fundo na sua relação com a paródia”. 11
A paródia exige a abertura para um contexto pragmático que leve em
conta a intenção do autor e o efeito sobre o leitor, a competência envolvida e a
sua descodificação.
Essa posição se justifica, quando pensamos no sentido etimológico
deste termo. O prefixo para- tem originalmente dois significados. O primeiro
deles é de oposição, contrário. Desta forma, a paródia seria mera oposição,
contraste entre textos, o que justificaria as paródias satíricas. O segundo
sentido é “ao longo de”, o que parece sugerir acordo, intimidade entre os
textos. Esse segundo sentido é o que permite alargar o escopo pragmático
deste termo e revela que a paródia também pode ser:
“A paródia é, pois, na sua irônica ‘transcontextualização’ e inversão, repetição com diferença. Está implícita uma distanciação crítica entre o texto em fundo a ser parodiado e a nova obra que incorpora, distância geralmente assinalada pela ironia”. 12
10 Linda Hutcheon, Uma teoria da paródia, p.17. 11 Ibid, p.34. 12 Ibid, p.48.

11
Para pensarmos num novo âmbito para a paródia, entretanto, é
necessário esclarecer que o seu alvo é sempre outra forma de discurso
codificado. Em outras palavras, o seu alvo é intratextual, mesmo que o texto
parodiado não seja alvo de crítica.
Conforme já apontado, a inversão irônica é a principal característica da
paródia, mas esse não é um recurso meramente formal. Além de representar
uma antífrase, uma oposição ou contraste entre um sentido pretendido e um
afirmado, a ironia tem um importante papel pragmático: a ironia julga. Sua
função pragmática é sinalizar uma avaliação.
A paródia, portanto, se serve da ironia como recurso privilegiado para
marcar a diferença entre textos em um nível microcósmico, através da inversão
semântica, e num nível macrocósmico através da avaliação pragmática
proporcionada pela ironia.
A recusa pela ironia da univocalidade equipara-se à recusa, pela
paródia, da unitextualidade.
Dessa forma podemos perceber que nada na definição de paródia a
vincula, exclusivamente, à produção do ridículo. O ethos13 paródico vai do
ridículo mordaz à homenagem reverencial e melhor seria apontá-lo como não
marcado.
As paródias atuais não ridicularizam os textos que lhe servem de fundo,
Ulysses de Joyce é um grande exemplo de paródia que utiliza o texto de
Homero não como alvo de crítica, mas como padrão por meio do qual colocam
o contemporâneo sob análise.
Como conclusão tem-se que, ao nível formal, a paródia é sempre uma
estrutura paradoxal de sínteses contrastantes. Ao nível pragmático ela envolve
sempre uma avaliação decodificada pelo leitor através de recursos tais como a
ironia.
Depois de defini-la convém agora distingui-la das demais formas
intratextuais tais como a citação, a alusão, o pastiche e a sátira. Tanto a
13 O termo ethos é aqui entendido como uma reação intencionada inferida e motivada pelo texto.

12
paródia como a citação e a alusão são formas de discurso indireto, ou seja, de
referência ao discurso de outrem. Aí reside a única semelhança entre os
termos, pois seus objetivos são bem distintos. A citação e a alusão, embora
sirvam-se de um outro discurso, não o utilizam de forma a tornarem-no parte do
texto produzido.Isto quer dizer que citação e alusão não exigem a mesma
necessária transcontextualização que a paródia.
Com relação ao pastiche a diferença entre os termos é mais tênue.
Ambos efetuam uma síntese bitextual entre textos, ambos têm um ethos não
marcado que vai do cômico ridículo à séria homenagem. Porém, enquanto a
paródia busca distanciar-se de seu modelo marcando sua postura crítica em
relação à obra parodiada, o pastiche acentua a semelhança entre as duas
obras. Essa é, segundo Hutcheon, a principal diferença entre os termos.
Em PSGH a “transcontextualização” textual é do tipo paródica e grande
parte da dificuldade em assim defini-la se deve à limitação de definições
tradicionais sobre o termo. A essência paródica é repetição com diferença
crítica, essa é a grande marca também da obra.
A paródia em PSGH não se constrói, como define Gennete, a partir da
reelaboração do texto de origem. A autora se utiliza de excertos modificados
dos textos bíblicos, porém a transcontextualização paródica se dá, sobretudo, a
partir do reaproveitamento de temas da Paixão de Cristo e da Criação, os quais
são retirados do contexto religioso cristão e colocados numa situação cotidiana:
uma mulher em um apartamento com uma barata.
Quase todos os 33 capítulos 14 articulam-se com temas como: provação,
pecado, danação e redenção, numa gradação que retoma desde a origem
mítica cristã do mundo e do pecado até ao sofrimento transformador da
Paixão.
14 Utilizamos aqui a terminologia capítulo, mas na obra as separação entre as partes não recebe qualquer denominação. Cremos que para fins de análise, a denominação capítulo é mais adequada.

13
II. O CAOS
“Uma forma contorna o caos, uma forma dá construção à substância amorfa – a visão de uma carne infinita é a visão dos loucos, mas se eu cortar a carne em pedaços e
distribuí-la pelos dias e pelas fomes – então ela não será mais a perdição e a loucura: será de novo a vida humanizada.” 15
A experiência do caos compõe o primeiro núcleo paródico presente em
PSGH. Constituído principalmente pelo primeiro capítulo, o caos se traduz,
tanto no conteúdo apresentado, quanto na forma da linguagem adotada,
exprimindo a contradição entre ser e linguagem, responsável pela
desarticulação do universo narrado.
Caos é, segundo a mitologia, o nome dado à primeira divindade a surgir
no Universo. O Caos representa uma força primitiva, vaga e amorfa que
antecede a criação da deusa Gaia (Terra). Os cristãos, utilizando-se de parte
desta simbologia, identificam o caos com um estado anterior à criação da Terra
por Deus. Em sentido corrente, caos é sinônimo de desorganização, confusão,
desordem.
Ao caos, portanto, associam-se as idéias do primitivo, do amorfo, do
desorganizado, que precedem à criação do cosmo ou, segundo os cristãos, à
criação do mundo por Deus. Todas essas concepções estão presentes na
Paixão.
Em PSGH, o caos se instaura a partir da dificuldade de um narrador
instável, estilhaçado, em produzir um discurso sobre a experiência vivida. A
narrativa se articula com uma voz em primeira pessoa que não é capaz ainda
de compreender o que lhe aconteceu, mas que precisa organizar os fatos
vividos em linguagem para tentar compreendê-los.
No dia anterior, G.H. sofrera uma grande e lenta dissolução que foi
responsável pela perda de sua identidade como antes era conhecida e por
torná-la um novo ser para o qual ainda não havia a segurança de qualquer
sistema social. A narradora, portanto, caracteriza-se como uma entidade 15 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.11.

14
totalmente abalada em suas convicções, transformada pela experiência vivida
que ainda está sob o impacto dos sentimentos e sensações que essa
experiência desencadeou.
A experiência vivida por G.H. foi de tal forma transformadora que, para
confirmá-la, seria necessário transformar também o mundo inteiro, para que ela
pudesse novamente se ajustar a ele.
Essa contradição entre a experiência vivida e o mundo no qual G.H. se
conhecia e se afirmava determinam sua incompreensão, sua insegurança, sua
desconfiança na capacidade da linguagem, como ela a conhecera até então,
de dar conta dos fatos vividos.
“Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não saber como viver, vivi uma outra?”16 Se o mundo não faz mais sentido como era, a linguagem por ele
utilizada também não faz mais. Segundo a narradora, a palavra mente a coisa.
Entre a palavra e o seu significado, entre uma idéia e sua representação, há
sempre um abismo, uma impossibilidade.
Quando o sujeito não compreende a experiência vivida, cria
inevitavelmente uma outra do tamanho de sua compreensão. Criamos o mundo
através da linguagem e somos por ela também criados. G.H. precisará também
recriar a sua experiência através da linguagem.
“Só posso compreender o que me aconteceu, mas só me aconteceu o que eu compreendo – que sei do resto? o resto não existiu.”17 Dessa forma, a personagem afirma que criamos a experiência, de modo
a dar-lhe uma forma, um sentido humano. Segundo G.H., a visão do Todo não
é apreensível por nós, a visão da carne infinita é a visão dos loucos.
“Quem sabe me aconteceu apenas uma lenta e grande dissolução? E que minha luta contra essa desintegração está sendo esta: a de tentar agora dar-lhe uma forma? Uma forma contorna o caos, uma forma dá construção à substância amorfa – a visão de uma carne infinita é a visão dos loucos...”. 18
Essa imagem é uma das representações mais consistentes do
incompreensível, do amorfo, do caótico. É necessário cortar a carne em mil
16 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.9. 17 Ibid, p.11. 18 Ibid, p.11.

15
pedaços e distribuí-los pelos dias e pelas fomes para que ela não seja mais a
perdição e a loucura, mas a vida humanizada.
G.H. assume que não é possível retratar fielmente a realidade.
Precisamos da validação humana da experiência, mas esta não é portadora de
seu sentido verdadeiro, como se supunha. É preciso criar sobre o que
aconteceu para tornar os fatos em alguma medida apreensíveis. G.H. precisará
também recriar a experiência vivida através da linguagem.
Criar, contudo, não se confunde com mentir, com fazer com que as
coisas tenham apenas sentido humano:
“Não quero que me seja explicado o que de novo precisaria de validação humana para ser interpretado.” 19
“Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida. E sem mentir. (...) Entender é uma criação, meu único modo.” 20
Como, no entanto, utilizar essa linguagem que não é portadora da
verdade, mas sim um modo de criação, para relatar com fidelidade o que lhe
aconteceu? Como utilizar essa antiga e convencional forma de linguagem para
dar forma à perda?
O desafio de G.H. é, justamente, utilizar a linguagem, a forma
organizada para dar forma a uma experiência de desintegração, de perda da
identidade, ao amorfo. A linguagem tem que se deparar com seu avesso. Nas
suas próprias palavras: “traduzir o desconhecido para uma língua que
desconheço”.
Ao final do primeiro capítulo G.H. decide, enfim, iniciar o seu relato, mas
se debaterá até o fim da narrativa com essa contradição. Talvez apenas o
silêncio seja capaz de retratar fielmente ao que viveu, no entanto, é preciso
perseguir a longo caminho da linguagem para chegar até ele.
A paródia ao caos, portanto, é realizada, num primeiro plano, através da
criação de um universo narrativo de incompreensão, de desconfiança, de
entrega da personagem à desordem e a confusão que é paralela às definições
mais correntes de caos.
19 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.12. 20 Ibid, p.15.

16
Entretanto, o caos tem aqui um sentido simbólico mais abrangente,
ultrapassando o sentido de desordem. O caos reflete a impossibilidade de
transformar a experiência vivida em linguagem, remetendo-nos à idéia caótica
de um mundo primitivo, sem formas, sem linguagem, cuja ancestralidade é
indissociável da idéia do Caos cristão – o vazio que antecede a criação. Afinal,
a idéia de um mundo sem linguagem é a idéia de um mundo caótico e primitivo,
a idéia de um mundo anterior ao Verbo, a Deus.
Segundo o livro do Gênesis, a Terra era um vazio sem forma, era trevas
e abismo até que Deus ordenasse o surgimento de tudo que nela se contém:
“E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz. E houve luz.” (Gênesis 1:2-3).
A criação do mundo se dá, portanto, a partir de palavras proferidas por
Deus ou, dito de outra forma, a criação do mundo se dá a partir de linguagem.
Essa afirmação é sustentada por outro trecho bíblico, segundo o qual Deus é
sinônimo do Verbo, da palavra.
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez.” (João 1:1-3).
Dessa forma torna-se evidente que o caos clariceano retoma também a
simbologia do caos cristão, parodiando o seu significado com uma ironia
refinada.
O caos representa a idéia de um mundo sem linguagem e sem Deus
que, no texto, é percebido como nossa melhor parte, um mundo sem
acréscimos humanos, nosso mais essencial e primitivo significado: ele é o que
de mais fiel e real existem em nós.
Mas caos não se traduz só em tema. Ele faz parte também da forma, da
linguagem adotada, principalmente, no primeiro capítulo. A narrativa começa,
não por acaso, com uma ruptura marcada por seis travessões. O uso da
pontuação indica a separação da personagem narradora de seu mundo e o
mergulho no fluxo de consciência. A partir de então, temos um narrador em
primeira pessoa que tenta organizar um discurso que dê conta da experiência
que viveu no dia anterior.

17
Situado, portanto, temporalmente depois da experiência que será
narrada pela personagem, o primeiro capítulo tenta organizar no tempo do
discurso o passado narrado, caracterizando-se essencialmente como um
capítulo digressivo. No entanto, o distanciamento entre o tempo do discurso e o
tempo da história não permite, como seria fácil supor, que a memória possa
articular com mais precisão os fatos vividos.
A personagem ainda está sob o impacto dos fatos vividos que não
compreende e por isso não consegue articular facilmente seu relato. O discurso
produzido por G.H. é hesitante, interrompido por incessantes interrogações,
comentários, digressões que produzem no leitor a mesma desconfiança que
G.H. tem sobre a linguagem.
“E - se a realidade é mesmo que nada existiu?! quem sabe nada aconteceu ?”21
“Mas como faço agora? Devo ficar com visão toda, mesmo que isso signifique ter uma verdade incompreensível?” 22
A narradora produz, através de idéias conflitantes e paradoxais, o
mesmo efeito caótico produzido pela temática textual, tornando o caos um
dado concreto percebido na leitura. Através da utilização de figuras de
linguagem tais como o paradoxo e o oxímoro, o texto vai desconstruindo toda
possibilidade de certeza sobre o signo, instaurando sua dificuldade, sua
impossibilidade de representação do real.
“E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive:” 23 (paradoxo)
“Estou desorganizada porque perdi o que não precisava?”24 (paradoxo)
“... experimentei a vivificadora morte.”25 (oxímoro).
“Todo momento de achar-se é um perder-se a si próprio.”26 (paradoxo).
Esse efeito concentra-se, sobretudo, no primeiro capítulo, onde não há
propriamente ação narrativa, mas sim uma grande digressão, no entanto, toda
a obra se constitui a partir desse questionamento sobre a linguagem aqui
iniciado. A narrativa parte do caos, da desorganização para uma tentativa de 21 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.11. 22 Ibid, p.11. 23 Ibid, p.9. 24 Ibid, p.9. 25 Ibid, p.12. 26 Ibid, p.12.

18
criação de um discurso que possa, ao menos em parte, dar conta do vivido
para enfim assumir a desistência, cujo prêmio final é o silêncio.

19
III. PROVAÇÃO
“Provação: significa que a vida está me provando. Mas provação significa que eu também estou provando. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais
insaciável.” 27
O segundo pólo paródico presente em PSGH articula-se em torno da
experiência da provação. A narrativa subverte ironicamente o sentido cristão
do padecimento imposto para nos testar, impondo a G.H. a tentação através de
uma barata.
Segundo a liturgia cristã, as provas são instrumentos utilizados por Deus
para revelar nosso verdadeiro caráter. A provação é uma forma de sofrimento,
através do qual Deus nos experimenta e conhece o que há de verdadeiro em
nossos corações.
Ainda segundo os cristãos, há vários tipos de provas a que podemos ser
submetidos tais como doenças, perseguições ou tentações. A tentação é um
tipo de provação desencadeada por Satanás para induzir-nos ao pecado.
Na Bíblia, muitas vezes, provação e tentação são usadas como
sinônimos, porém é na indução ao pecado que reside a principal a diferença
entre ambas. Enquanto que a provação é provocada por Deus para nos tornar
cônscios de quem somos, a tentação, quando não é vencida, conduz
inevitavelmente ao pecado.
No livro do Gênesis é narrada a primeira provação imposta ao homem: a
tentação no paraíso. Depois de criar o primeiro homem e a primeira mulher do
mundo, Deus os coloca no jardim do Éden, uma espécie de paraíso mítico,
onde eles gozavam de prosperidade e vida eterna. Tendo direito e acesso a
tudo o que esse paraíso continha, ao homem só era proibido provar dos frutos
da árvore do conhecimento.
27 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.84.

20
Ciente desta proibição, Satanás decide tentar homem e mulher,
utilizando-se de um animal. A serpente é o ser escolhido para levar Eva a
cometer o pecado. Fazendo-lhe crer que através da prova do fruto proibido,
Eva tornar-se-ia igual a Deus, a serpente faz com que ela prove do fruto
proibido e também induza Adão a prová-lo.
A partir de então o destino humano estará selado. Como homens
descendentes de Adão e Eva, somos também descendentes do pecado e por
isso estamos fadados à perda da imortalidade e à necessidade de trabalho
como forma de garantir o sustento.
A provação, portanto, carrega dois sentidos semânticos associados a
essa mitologia. O ato de provar pode significar experimentar, sentir o gosto,
mas também experimentar sofrimento, dar prova ou testemunho de uma
verdade, de uma realidade.
Em PSGH a experiência da provação carrega todos esses significados.
A prova a que é submetida G.H. é uma experiência de sofrimento e de
revelação e também uma experiência de provar, de experimentar pelo gosto.
Através de um fato absolutamente banal e corriqueiro, o aparecimento de uma
barata, essa personagem revela o seu verdadeiro caráter e comete um pecado.
G.H. é a personagem principal desta narrativa, identificada apenas por
suas iniciais Trata-se de uma mulher de vida mundana e superficial que está
presa às noções de bom senso, beleza e ordem. Construção da classe social a
que pertence, G.H. é a representação de um mundo alheado da sua realidade,
a qual se reflete em seu apartamento.
“Tudo aqui é réplica elegante, irônica e espirituosa de uma vida que nunca existiu em parte alguma: minha casa é apenas uma criação artística”. 28
É essa mulher que, tomada por profundo desejo de ordenar, decide
arrumar o quarto da empregada que se demitira no dia anterior, atravessando o
corredor escuro disposta a limpar o imundo.
Ao entrar no quarto da empregada, entretanto, G.H. é surpreendida por
um ambiente limpo, vazio, seco. O quarto já não servia mais a sua dupla
28 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.21.

21
função de morada e depósito. Janair, a empregada recém demitida, criara ali
um espaço para si.
O quarto continha apenas uma cama, um velho guarda roupa, algumas
malas e uma inscrição na parede: um desenho a carvão de um homem, uma
mulher e um cão, formados apenas por contornos. Nenhum desses elementos,
entretanto, alterava o vazio do quarto que é comparado ao retrato de um
estômago vazio.
Abandonando o espaço público e social da sala, onde o senso estético e
de ordenação predominam, G.H. dirige-se ao espaço privado da área de
serviço, onde Janair criara um espaço apenas suficiente à vida.
Do modo como a empregada o deixara, o quarto não poderia pertencer
ao resto do apartamento. Ele representava uma ausência, um vazio que
incomodava. Era preciso tomar posse daquele ambiente novamente. A decisão
de limpar o quarto é uma tentativa de reintegração de posse, que, entretanto,
será rapidamente malograda pelo surgimento de uma barata.
Embora portadora de um sentido simbólico, a barata, aqui não é um ser
alegórico, mas o animal real, responsável por provocar asco e medo em
mulheres. Esse animal representa vida na nudez do quarto, a vida que levará
G.H. a se despersonalizar, ela é o ser responsável pelo desencadeamento da
experiência de despersonalização da personagem e pelo seu rompimento com
o sistema. A barata é quem desencadeia a tentação de G.H.
Inicialmente a presença da barata desperta em G.H. a capacidade de
violência, o desejo de matar. Diante do repugnante e do imundo, a personagem
fica entregue aos seus instintos mais primitivos, colocando-se no mesmo nível
da natureza. Assassinar a barata é a maneira pela qual a personagem tenta
trazer de volta o mundo como ela o conhece.
Disposta, portanto, a matar a barata, G.H. fecha em um só golpe a porta
do guarda-roupa sobre o corpo do animal, mas não alcança o intento
pretendido. A barata, ainda viva, expele sua massa branca para fora do corpo
ferida. Faltava ainda um golpe, mas ao ver sua vítima agonizando G.H. recua.

22
G.H. está, portanto, diante de um ambiente que lhe é profundamente
hostil pela presença de vida que ela ignorava. Janair e a barata são os
verdadeiros habitantes do quarto, os seres pelos quais ela sempre guardou
indiferença, ódio e até repugnância.
Ao olhar para o corpo da barata, entretanto, tem início um processo de
reconhecimento e identificação, que a levará a provar da massa branca da
barata.
G.H., vendo e sendo vista pela barata, toma consciência da vida no
outro. A vida que é essência e matéria-prima de tudo o que existe. A mesma
matéria-prima, a mesma matéria do Deus que forma todas as coisas e que está
presente nela, em Janair e na barata. Presa pela cintura na porta do guarda-
roupa, a barata é como qualquer fêmea, “pois o que é esmagado pela cintura é
fêmea”.29
“Como chamar de outro modo aquilo horrível e cru, matéria-prima e plasma seco, que ali estava, enquanto eu recuava para dentro de mim em náusea seca, eu caindo séculos e séculos dentro de uma lama- era lama, e nem sequer lama úmida e ainda viva, era uma lama onde se remexiam com lentidão as raízes de minha identidade.”30
“A vida se vingava de mim, e a vingança consistia apenas em voltar, nada mais.” 31
A barata representa, portanto, o apelo de um mundo anterior ao
humano, animal que chama G.H. para sua identidade mais pura. A barata era a
vida que olhava para G.H. Um ser cru, repugnante, matéria-prima de tão
primitivo. G.H. vê a barata e reconhece nela sua identidade mais profunda. O
seu ser também vinha de uma fonte anterior à humana.
“Era isso então. É que eu olhara a barata viva e nela descobria a identidade de minha vida mais profunda. Em derrocada difícil, abriam-se em mim passagens duras e estreitas.” 32
Conforme aponta Benedito Nunes33 o olhar inumano, anterior e contrário
ao seu cotidiano, subtrai a identidade de G.H. e a leva a dar o passo em
direção à desordem.
29 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.60. 30 Ibid, p.38. 31 Ibid, p.46. 32 Ibid, p.38. 33 Benedito Nunes, O itinerário místico de G.H. In: O drama da linguagem. p.61.

23
A barata assemelha-se a uma mulata. À morte, a barata, pode ser
Janair, mas também pode ser a própria G.H.. A barata é a própria vida
pulsando.
“A barata não tem nariz. Olhei-a, com aquela sua boca e seus olhos: parecia uma mulata à morte. Mas os olhos eram radiosos e negros. Olhos de noiva. (...)” 34
Através deste processo de identificação entre a barata e G.H., a
existência de vida é percebida no outro, a existência fora de si. A barata seduz
G.H. com seus cílios, lábios e boca e mostra que tudo o que é vivo é feito do
mesmo.
Nessa paródia à provação cristã, portanto, o quarto de Janair se
transfigura em deserto pela sua associação à secura, ao vazio e solidão.
“E na minha grande dilatação, eu estava no deserto. Como te explicar? eu estava no deserto como nunca estive. Era um deserto que me chamava como um cântico monótono chama. Eu estava sendo seduzida e ia para essa loucura promissora.”35
A barata é a transfiguração da serpente, o animal que impele G.H. a
realizar o ato proibido, a prova do interdito, do imundo, através de sua sedução.
“A barata que enchia o quarto de vibração enfim aberta, as vibrações de seus guizos de cascavel no deserto.” 36
A utilização da palavra provação em PSGH, portanto, não é algo
aleatório, mas que remete parodicamente à provação cristã, através da
retomada de vários textos bíblicos.
O primeiro texto retomado é o Gênesis, de onde é utilizada a idéia de
uma provação, de um teste, através da prova pelo sabor de algo proibido. Do
Gênesis também é a referência à serpente, na qual a barata se transforma.
A transformação do quarto em deserto, por outro lado, parodia uma série
de significados religiosos atribuídos ao deserto que é um local tradicional de
provação.
Para os judeus, por exemplo, o deserto é o local de uma realidade
ambivalente: por um lado ele é a experiência de um tempo árido e terrível e por
outro é o tempo em que se experimenta a maior intimidade com Deus, que
remetem principalmente aos livros do Êxodo e do Deuteronômio. 34 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.37. 35 Ibid, p.40. 36 Ibid, p.39.

24
Outro importante significado atribuído ao deserto está contido no Novo
Testamento, no livro de Mateus, onde é narrada a tentação de Cristo por
Satanás. Ali o deserto aparece como metáfora da privação e do sofrimento que
nos prepara para a alegria e abundância, através da fé em Deus.
Todos esses sentidos são, no entanto, subvertidos em PSGH, trazendo
para uma experiência moderna a essência do sentido místico revelado pela
provação.
O sofrimento da personagem é ter que se deparar com a pobreza, com
a miséria, com o sujo, com o feio, com tudo o que é contrário ao seu mundo
puramente estético. A partir deste encontro com um mundo que ela sempre
quis ignorar, a personagem terá que reconhecer que Janair e a barata também
sempre estiveram vivas ali e que há vida em diversas formas. G.H. percebe
que tanto ela quanto Janair e a barata são feitas do mesmo e só por mera
criação humana é que se crêem distintas.
O quarto transformado em deserto representa sim um espaço de
privação e de sofrimento, mas não propriamente a privação vivida por G.H. O
quarto é o retrato da vida miserável a que estava submetida Janair, o que G.H.
terá que admitir e reconhecer.
A serpente não é aqui a representação de Satanás, mas uma simples
barata que, com sua natureza imunda e marginal, impõe a G.H. o
reconhecimento de uma condição de vida totalmente avessa à sua concepção
de mundo organizado.
Confirmando a teoria de Linda Hutcheon, a paródia é repetição com
diferença, transcontextualização com reversão irônica. A reelaboração da
provação cristã aplicada a um contexto cotidiano e banal, torna o confronto
entre uma mulher e uma barata uma experiência mística, transformadora, mas
que ironicamente não leva à transcendência.
A provação de G.H. é, portanto, aceitar e reconhecer a vida em todas as
formas, depois de passar pelo sofrimento da despersonalização. A provação,
no entanto, a levará a cometer o pecado.

25
IV. O PECADO
“O pecado renovadamente original é este: tenho que cumprir a minha lei que ignoro, e se eu não cumprir a minha ignorância, estarei pecando originalmente contra a vida.” 37
Em PSGH, o pecado é assumido em termos absolutamente paradoxais
e conflitivos. A narradora afirma que revive o pecado original, o qual,
entretanto, é compreendido em termos contrários à tradição religiosa.
Depois de prender a barata sob o guarda-roupa para tentar matá-la, G.H
vive uma experiência de repugnância e sedução, um misto de nojo e fascínio
que lhe faz abandonar sua vida cotidiana e reverte seu espaço cotidiano numa
paisagem onírica e alucinatória. Essa experiência paradoxal é a náusea, a
qual representa um mal estar súbito do corpo que é transmitido à consciência e
que revela, por meio do fascínio do objeto visto, uma nova realidade.
Conforme aponta Benedito Nunes, aproximando a náusea sartreana da
náusea vivida por G.H.:
“Em Sartre como em Clarice, a náusea, que neutraliza o poder dos símbolos, é o ponto de ruptura do sujeito com sua praticidade diária. Foi possuída pela náusea, ao contemplar face a face a barata esmagada que G.H. soçobrou na existência anônima das coisas que se tornou partícipe, desligando-se da linguagem e do eu ao mesmo tempo. “ 38
A náusea representa, portanto, o ponto de ruptura entre G.H. e o seu
mundo e a sua queda aos apelos de um mundo inumano, abissal, que
reivindicava a sua vida, a raiz de sua identidade.
Ao contrário da náusea sartreana, entretanto, a náusea vivida por G.H.
não se converte em experiência do absurdo injustificável da existência humana.
Em PSGH, ela é uma experiência vivida por meio de um êxtase místico que
estabelece a relação de participação entre o sujeito humano e a realidade não
humana, através do ritual.
A partir da náusea, G.H. passa a reconhecer na barata, algo familiar,
conhecido. Segundo a personagem, a barata também deveria ser fêmea. O
37 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H . p.63. 38 Benedito Nunes, O mundo da náusea e o fascínio da coisa. In: O drama da linguagem. p.121.

26
seu corpo preso pela cintura à porta do guarda-roupa, os seus olhos
comparados a dois ovários, tudo isso despertava em G.H. uma idéia de
feminilidade que aproxima o animal e a mulher. Mas não é só isso, tanto G.H.,
quanto a barata representam sujeitos bi-partidos. A barata está fendida pela
porta e G.H. pela sua existência real e neutra e a vida artificial que criou.
A personagem percebe que há algo comum, primeiro que é matéria
bruta de todos os seres. Até esse momento, ela não era capaz de reconhecer
vida além dos limites de sua classe social. Os seus sentidos estavam viciados
pelo gosto, pelas convenções, pela “sentimentação”39 humana e não lhe era
possível sentir o gosto do neutro, da matéria bruta de todas as coisas.
Se a barata é esse ser aparentemente tão nefasto, porque foi criada pelo
mesmo Deus que, segundo as sagradas escrituras, criou G.H. e Janair. Se o
imundo é tão ruim, porque então Deus o criou?
“Eu me sentia imunda como a Bíblia fala dos imundos. Por que foi que a Bíblia se ocupou tantos dos imundos, e fez uma lista de animais imundos e proibidos? por que se, como os outros, também eles haviam sido criados? E por que o imundo era proibido? Eu fizera o ato proibido de tocar no imundo.” 40
A sede de saber, a curiosidade malsã, que remetem tanto ao mito
fáustico quanto ao desejo de conhecimento adâmico, consomem a
personagem. Haveria vida na barata? A mesma vida que é matéria bruta em
G.H., também faria parte da barata?
“Eu tinha que cair na danação de minha alma, a curiosidade me consumia.”41
G.H. precisa saber, mas para isso terá que abandonar o mundo como
conhecia e romper com suas noções de ordem, de belo, de senso. Para saber
o que é a vida, G.H. terá que estar à altura da natureza mais primitiva,
humilhar-se e ceder aos seus instintos ignorados. Em última instância, terá que
conhecer a vida, através de seu extremo oposto: a morte da barata.
Para romper sua ignorância e sentir a verdadeira identidade das coisas,
G.H. abandona sua forma humana e se entrega ao ritual.
39 Termo utilizado por Clarice Lispector em PSGH para indicar a criação sentimentos. 40 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.46, grifo meu. 41 Ibid, p.39.

27
O termo ritual é um conceito abrangente e marcado por várias
interpretações, das quais nos interessa, aqui, apenas no seu sentido mais
essencial, cujo significado é recuperado na experiência mística de G.H..
Em linhas gerais, o ritual pode ser definido como uma forma de interação
que marca uma ruptura no tempo cheia de significado próprio. O ritual é um
processo que implica na associação de símbolos a gestos e ações que tenham
um sentido especial para quem os pratica, correspondendo, portanto, a uma
representação simbólica de um conceito, de uma idéia.
Segundo Gennep, os rituais podem marcar também uma passagem,
dando expressão simbólica ao fato de que uma pessoa ou um grupo social
passava para uma nova etapa da vida ou mudava algum aspecto significativo
de seu status social. Exemplos desses rituais, chamados ritos de passagem,
são os casamentos, os funerais, ordenações e posses para novos cargos etc42.
Os ritos de passagem, ainda segundo Gennep, têm todos uma ordem
comum: há primeiro uma separação do indivíduo de suas condições prévias,
depois um estágio de transição e finalmente a incorporação a uma nova
condição ou reagregação à antiga ordem.
O ritual vivido em PSGH é uma experiência de comunhão, de ingestão
sacrílega de um animal que remete ao ritual católico da eucaristia, mas que
também está associado a rituais primitivos de incorporação.
Na primeira fase deste ritual, G.H. rompe com sua condição prévia
através da náusea e do reconhecimento de si na figura da barata. Depois desta
fase é que tem início a própria experiência simbólica, cuja representação se dá
na ingestão da matéria de dentro da barata e corresponde a perda da
identidade de G.H. como antes era conhecida.
Conforme aponta Benedito Nunes43, a experiência de desapossamento
da individualidade, de perda da identidade só se dá com a ingestão da barata.
G.H. quer livrar-se de todo acréscimo e para isso precisa redimir-se na própria
42 Citado por Mariza Peirano, Rituais ontem e hoje. passim 43 O itinerário místico de G.H. In: O drama da linguagem, p. 65.

28
coisa numa espécie de comunhão negra, sacrílega e primitivista em que se
assimila a vida divina na própria matéria viva.
A ingestão da massa da barata representa o ponto máximo deste
pecado transmutado em ritual de redenção. A manducação é uma espécie de
comunhão sacrílega que remete, sem dúvida, ao ritual da eucaristia. A partir
desse momento, G.H. revive a origem do mundo e se une à divindade. Para
esse pecado não há danação, nem transcendência, apenas o gosto do neutro e
de um Deus indiferente.
Simplificando, pode-se dizer que o pecado de G.H. consiste
basicamente em provar da matéria expelida pelo corpo da barata, contrariando
a proibição bíblica de tocar no imundo. No entanto, o pecado cometido por
G.H., além de uma transgressão a uma interdição bíblica, representa a
realização de um ritual místico às avessas em que o imundo é o objeto de
comunhão.
Historicamente a noção de pecado está associada a contextos
religiosos, correspondendo a qualquer ato de desobediência à vontade Deus.
Segundo a perspectiva judaico-cristã, o pecado é uma violação de um
mandamento divino, que não está necessariamente ligada a uma falta moral.
Esse discurso foi criado, principalmente, a partir do livro do Gênesis.
Teólogos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, baseando-se no do
ato o de desobediência cometido pelo homem ainda no paraíso, conceituaram
o pecado como toda ação, palavra ou cobiça cometida contra as leis divinas.
Para os cristãos, o pecado revela nossa natureza fraca, nossa inclinação
para o Mal. Como criaturas que falham e pecam, desde a criação, somos
naturalmente incitados a fazer o mal, embora possamos escolher não fazê-lo.
Essa possibilidade de escolha nos faz responsáveis pelos atos que
cometemos.
A conseqüência mais imediata do pecado é a culpa, o sofrimento, mas
há outros tipos de punição, de acordo com a gravidade do ato cometido. A
mais severa punição imposta ao homem é a danação, que corresponde à
condenação da alma ao Inferno. Para livrar-se dessas penas, cabe ao homem
o arrependimento e a expiação como forma de unir-se novamente à divindade.

29
Segundo a Psicologia e a Sociologia, entretanto, o pecado é um
instrumento utilizado pela Igreja para provocar no homem a consciência sobre
seus atos e submetê-lo à culpa.
O conceito de pecado, portanto, está marcado por uma concepção cristã
de mundo, segundo a qual a transgressão de um preceito religioso implica em
uma necessária culpa e expiação.
A experiência vivida por G.H., entretanto, reverte parodicamente esse
conceito de pecado, transformando-o numa experiência ritualística que remete
a vários elementos da tradição: desde o pecado original até a eucaristia,
passando pelo mito fáustico, pelos ritos de passagem até os rituais sacrílegos
do Sabath. Toda essa multiplicidade de referências dá à obra inúmeras
possibilidades de leitura dentre as quais destacamos principalmente a de
Benedito Nunes que associa essa experiência aos rituais de ascese e a de
Afonso Romano de Sant’Anna que a associa aos rituais de passagem.
Para a análise aqui proposta, entretanto, as referências cristãs são
definidoras. Embora essas referências em seu sentido tradicional sejam a todo
o momento parodiadas, é a partir delas que a obra se estrutura.
Conforme já exposto, segundo a ortodoxia cristã, o pecado constitui um
ato consciente e voluntário de desobediência às leis divinas. A ação cometida
por G.H., embora não seja totalmente voluntária, caracteriza-se como pecado
por se opor diretamente ao texto do Levítico:
“Tudo o que anda sobre o ventre, e tudo o que anda sobre quatro pés, ou que tem mais pés, entre todo o réptil que se arrasta sobre a terra não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles.”44
Segundo esse texto, ao homem é proibido provar, tocar ou alimentar-se
dos seres ditos imundos. Embora a barata não seja aí explicitamente citada,
podemos enquadrá-la entre todos os seres que rastejam e que, por andarem
sobre o próprio ventre assim como a serpente, são ditos imundos.
No momento em que G.H. transgrediu o interdito bíblico, cometeu, sim,
um pecado pela concepção original, porém o que é ressaltado nessa ação
44 Levítico 11:42:43, grifo nosso.

30
transgressora não é nem culpa, ou arrependimento, mas uma revelação. Ao
provar da barata, G.H. descobre que o imundo não é imundo e que tudo o que
é vivo é feito do mesmo. O imundo é apenas a raiz das coisas. O imundo é o
ser sem acréscimo, nunca enfeitado.
Essa concepção de pecado é por si só bastante revolucionária. Como
definido, inicialmente, pela narradora, na Paixão, a transgressão consiste em
cumprir uma lei ignorada, mas uma lei. A lei que é seguir o instinto humano, o
lado animal e natural que há em nós.
Ao se deixar seduzir e provar da barata, G.H. toma consciência de si
mesma como se toma consciência de um sabor. Assim como Adão e Eva, é
através da prova do fruto proibido que se chegará ao conhecimento.
“É que nesses instantes, de olhos fechados, eu tomava consciência de mim assim como se toma consciência de um sabor: eu toda estava com sabor de aço e azinhavre, eu toda era ácida como um metal na língua, como planta verde esmagada, meu sabor me veio todo à boca.” 45·
Provando da barata, G.H. está se colocando também no mesmo nível
desse ser. Ela e a barata faziam parte de um mesmo plano e não havia mais
diferença entre ambas para Deus.
G.H. como era conhecida morria, se desumanizava para entrar no seio
da natureza. O tempo se torna um agora. Entrar não era pecado, mas era a
danação de sua vida como ela conhecia anteriormente.
“Eu sabia que entrar não era pecado. Mas é arriscado como morrer. Assim como se morre sem saber para onde, e esta é a maior coragem de um corpo. Entrar só era pecado porque era a danação de minha vida, para a qual eu depois não pudesse mais regredir. Eu talvez já soubesse que, a partir dos portões, não haveria diferença entre mim e a barata. Nem aos meus próprios olhos nem aos olhos do que é Deus.” 46
Mas não é apenas através da violação do interdito bíblico que G.H.
comete um pecado. A experiência ritualística que compõe esse ato é também
uma inversão do sentido original do ritual eucarístico, o qual será aqui
transformado em ritual sacrílego.
O ritual de eucaristia consiste em uma celebração, na qual os cristãos
recebem o pão (representado pela hóstia) e o vinho, repetindo os atos que
Cristo fez na última ceia. A ingestão do pão representa o corpo de Cristo 45 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.36. 46 Ibid, p.53.

31
concebido sem pecado, que foi oferecido na cruz para nos salvar, da mesma
forma que o vinho é a representação do sangue derramado para remissão de
nossos pecados na Paixão. A Eucaristia representa, portanto, o próprio
sacrifício de Cristo na cruz, o qual é instituído como prática ritualística para
perpetuar o sacrifício da cruz, encher nossa alma de graça e nos fazer crer na
vida eterna, através da ressurreição.
A paródia ao pecado se constitui a partir de uma idéia de pecado
original, contida no Gênesis que se pode resumir como o desejo de provar pelo
gosto algo proibido. O novo fruto deste pecado está, entretanto, explicitamente
proibido a humanidade no livro do Levítico que não nos permite provar do
imundo.
Para G.H., no entanto, o pecado representa uma possibilidade de
redenção. Ingerir a barata representa uma possibilidade de arrependimento
pelo tratamento dispensado, por exemplo, a Janair. Provar da barata a
colocaria no mesmo nível que o mais abjeto dos seres, no qual ela também se
reconhecia e é por isso que ela transforma o seu ato transgressor em um ritual.
A ritualização da manducação é a tentativa de tornar sua experiência
uma espécie de comunhão com o Deus e de conhecer a si mesmo em
essência.
Para G.H., o ritual é a marca de Deus. Nosso único destino. Pelo pecado
original, foi revelada nossa verdadeira condição de seres que falham, que
faltam, mas é através desse mesmo pecado que nos aproximamos de Deus.

32
V. DANAÇÃO E PAIXÃO
"Então - então pela porta da danação eu comi a vida e fui comida pela vida. Eu entendia que meu reino é deste mundo. E isto eu entendia pelo lado do inferno em
mim. Pois em mim mesma eu vi como é o inferno."47
A danação é a conseqüência do pecado cometido por G.H. Ao provar da
massa da barata, a personagem reconhece que estará condenada ao Inferno,
mas essa força demoníaca que dela se apossa não é mais punição. Na
“mística ao revés”48 vivida pela personagem, a danação se converte em
redenção e a paixão passa a ser a única marca da existência humana.
De fato, quando G.H. prova da barata, conhece o Inferno, mas este só
existe nela mesma. O inferno de G.H. é simplesmente a aceitação da dor, a
falta de piedade pelo destino humano, é uma grande indiferença que tudo
absorve.
Esse inferno não é, então, punição, mas a nossa própria condição de
existência. É o que existe de concreto antes da criação de um conceito artificial
de humanidade que ignora nosso destino fatal.
A experiência da danação vivida pela narradora é, portanto,
compreendida em termos absolutamente paradoxais. É um misto de gozo e de
dor, de lágrima e riso que resumem a negação da esperança e da
humanização, para afirmar a verdadeira condição humana: nossa sujeição à
dor.
Ao libertar-se de todo acréscimo, de toda a sua artificialidade, G.H.
percebe que ser humano se transformou num ideal, quando deveria ser o modo
pelo qual seguimos simplesmente aquilo que é o humano.
“O mundo não tem intenção de beleza, e isto antes teria me chocado: no mundo não existe nenhum plano estético, nem mesmo o plano estético da bondade, e isto antes me chocaria. A coisa é muito mais que isto. O Deus é maior que a bondade com sua beleza.”49
47 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.77. 48 Termo cunhado por Luís Costa Lima em seu ensaio “A mística ao revés de Clarice Lispector”. 49 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.102.

33
Toda a idéia de humanização está baseada apenas numa esperança. A
esperança de uma vida melhor, a esperança de dias melhores, enfim, a idéia
de que algo pode ser melhor em algum outro lugar ou em outro tempo que
nunca se realiza. É preciso ser simplesmente o já, afirma G.H.
A negação dessa possibilidade de vida melhor, além da nossa
existência, é em essência a negação da própria idéia tradicional de
transcendência e de Deus.
Conforme aponta Benedito Nunes50, na maioria das religiões, Deus e o
homem ocupam necessariamente planos ontológicos distintos. O homem é
marcado pela carência, pela falta, e está num plano inferior, enquanto que a
divindade, representando a promessa de uma nova vida e da salvação, está
sempre num plano superior.
A relação entre Deus e o homem, portanto, se dá sempre através de
uma promessa de união que só pode ser cumprida através da ascensão do
homem ao plano divino, ou seja, através da transcendência.
Ao contrário dessa ascensão, no entanto, o que G.H. experimenta com a
manducação é uma grande indiferença. A tentativa de comunhão de sua alma
com Deus resulta na percepção de que o que se quer é apenas uma divindade
humana. Não precisamos de alma. Deus que não é nem bom, nem mal, é
apenas indiferente. Deus é a vida indiferente que segue seu rumo interessada
somente em caminhar.
A ritualização da manducação, portanto, não resulta, como seria
esperado, no acontecimento de algo extraordinário. G.H. não é fulminada pela
fúria divina, nem tão pouco encontra a comunhão de sua alma com um plano
supra-real que é Deus.
Depois do mergulho no abismo da consciência, da identidade, através
da realização do ritual, apenas o cotidiano retorna com sua força indiferente.
Como observou Luís Costa Lima51, a experiência mística vivida por G.H. não
50 O itinerário místico de G.H. In: O drama da linguagem, p. 69. 51 Luís Costa Lima, A mística ao revés de Clarice Lispector. In: LISPECTOR, Clarice. A Paixão Segundo G.H. Ed. Crítica. Coord. Benedito Nunes.

34
leva a sua alma à comunhão com Deus, mas ao seu encontro com as coisas
que compõem o real, o presente humano.
A experiência mística de G.H. não é algo transcendente, mas que se
realiza na prática diária e cotidiana, através do reconhecimento da vida e do
divino. O divino para G.H. é o real. Não há alma imaterial. O milagre é uma
anomalia.
A danação experimentada pela narradora, portanto, não representa a
condenação ou punição a martírios que não sejam próprios da condição
humana.
Contrariando a doutrina cristã segundo a qual a danação representa a
condenação eterna da alma humana ao Inferno, resultado de um ato grave e
voluntário de desobediência às leis divinas (pecado mortal) que nos faz perder
a graça divina, PSGH subverte, através da paródia, a idéia tradicional de
danação.
Na Paixão o pecado também leva à danação, porém a perda da graça
divina, a experiência do Inferno, é percebida como algo positivo e revelador.
G.H. não quer mais ser partícipe de uma relação com o divino que é baseada
apenas na esperança, na transcendência, e que não reconhece a condição real
de nossa existência. A perda da graça divina é o reconhecimento de Deus
simplesmente no real.
G.H. nega a idéia tradicional de existência de um Deus providencial,
pessoal e transcendente. Deus é o que existe. Não é nome próprio, mas
substantivo comum, essência de todas as coisas e é por isso que a partir de
sua experiência G.H. irá se referir a ele como "o Deus", com o artigo definido.
“Porque o Deus não promete. Ele é muito maior do que isso: Ele é, e nunca pára de ser. Somos nós que não agüentamos essa luz sempre atual, e então a prometemos para depois, somente para não senti-la hoje mesmo e já. O presente é a face hoje do Deus.” 52
Ao contrário do que afirmam os textos religiosos, Deus é uma figura
sempre atual e presente. Ele quer que sejamos com Ele o mundo. Segundo
52 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.94.

35
G.H., podemos ser como Deus, mas não vê-lo, mas para isso é necessário o
despojamento de tudo o que é o humano.
No Inferno do seu próprio sofrimento, G.H. reconhece que:
“Eu não sou Tu, mas mim és Tu. Só por isso é que jamais poderei Te sentir direto: porque és mim.” 53
Essa afirmação aparentemente tão contraditória resume a concepção
que G.H. faz de sua relação com o divino. Para ela o sujeito, representado pelo
pronome eu, que é gramaticalmente sempre o agente da ação, não pode ser
esse Tu identificado como Deus. Ao contrário, ela afirma que somente um mim,
o pronome objeto e, se quisermos ir mais longe, o sujeito despido de
identidade, de construção humana é que é capaz de sentir o que é Deus.
É justamente que aconteceu com G.H. ao provar da barata e perder sua
identidade. Só assim é que lhe foi possível saber o que é Deus: através de um
eu desapossado de si mesmo e que é identificado como mim.
Para G.H. nossa relação com Deus é guiada exclusivamente pela
necessidade: a fé e a fome. Nossa carência determina o quanto de Deus
teremos. Deus nos usa, pois ele precisa ser amado e para que o amemos é
necessário precisar de tudo, estar vazio. Essa é a chave da paixão.
Só temos de Deus o que nos basta. É por isso que quanto mais
precisarmos, mais Deus teremos. Nossa nostalgia, portanto, não é do Deus
que nos falta, mas de nós mesmos que não somos bastante. Sentimos falta de
nossa grandeza impossível.
Deus nos usa e não impede que também o usemos. Nós é que ainda
não estamos preparados para usá-lo numa intertroca. Deus está sempre.
Como está o leite, a flor ou o minério que, se ainda foi explorado, não é
responsável por não ter sido usado.
G.H. conclui que tudo está. Assim como, por exemplo, o remédio para a
cura do câncer está. Se não o descobrimos é porque certamente ainda não
precisamos não morrer de câncer.
53 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.85.

36
A revelação do amor também é uma revelação de carência.
Abandonando a esperança, G.H. celebra a própria carência, assume sua falta e
em última instância a sua condição de vida.
Temos que assumir a promessa que se cumpre: a realidade. E para
isso abandonar a idéia de beleza e de bondade, o plano estético. G.H. precisou
passar pelo Inferno para poder reconhecer que há um modo muito mais
profundo de amar que prescinde desse plano estético
A partir da danação, G.H. reconhece que sua vida anterior era
exatamente o seu mal, pois era apenas a imaginação de uma esperança de
algo melhor. Era preciso encontrar a redenção, mas a redenção no real, no
hoje, no já.
Mas, ao contrário da redenção cristã, a redenção de G.H. teria de se dar
na própria coisa. Ter nojo seria negar a sua primeira vida. Não precisa
transcender mais. Teria de cometer o anti-pecado, comendo a barata e
atravessando uma sensação de morte. Mas ao comer a barata, G.H. percebe
que também não está preparada para admitir uma vida maior que a sua.
G.H. transcende o próprio ato de comer da barata, crendo que com isso
teria a maior transmutação de si em si mesma. Ela dá a esse ato uma
valoração máxima, quando na verdade acaba por tentar cuspir o corpo
ingerido, demonstrando que só está preparada para a vida humana.
De fato, se G.H. sentiu algum remorso por não reconhecer a vida
presente na barata e em Janair ela coloca na possibilidade de comer a barata
uma forma de redenção: ato máximo. No entanto, ela não faz nada
verdadeiramente por aquelas figuras, mas por si mesma. Através da barata,
G.H. quer conhecer-se a si mesma.
A experiência de G.H. é, portanto, uma experiência psicológica de
sofrimento e descoberta que reinterpreta a história da paixão de Cristo. Livre,
no entanto, de toda a noção convencional de moralidade, essa narrativa afirma
que a paixão, o sofrimento é em essência a condição humana.

37
“E é aceita a nossa condição como a única possível, já que ela é o que existe e não outra. E já que vivê-la é a nossa paixão. A condição humana é a paixão de Cristo.”54
Temos que aceitar sem piedade por nós mesmos a nossa condição.
Nesse sentido, a figura de Jesus Cristo representa o divino real. Cristo é
o ser que vai da promessa à realização. Através de sua morte, de seu
sofrimento, ele salva a humanidade, mas para isso ele precisará agüentar toda
a sorte de suplícios.
Para G.H. assim também é a vida humana. Temos que assumir nossas
faltas, nossa miséria, nosso destino fatal sem tentar enfeitá-lo, torná-lo mais
bonito e irreal. O sofrimento é sim a condição do homem. A dor não é alguma
coisa que acontece, mas o que somos.
G.H. também irá sofrer, se despersonalizará. Irá construir toda uma voz
até chegar à conclusão de que apenas a mudez é capaz de revelar o que
viveu. A desistência será sua última revelação.
54 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.112.

38
VI. CONCLUSÃO
Conforme se pretendeu evidenciar, a paródia é o principal recurso de
composição de PSGH. Através do diálogo paródico com textos da tradição,
especialmente os religiosos, a narrativa amplia suas possibilidades de
significação quase que indefinidamente podendo ser lida como uma
experiência mística individual e até como uma nova releitura bíblica.
A utilização da paródia nesta obra não se dá no sentido mais tradicional
do termo que a associa ao cômico e burlesco, mas através de uma
reelaboração irônica séria de temas e conceitos religiosos que são fundadores
da moralidade cristã e por extensão de todo um passado coletivo herdado ao
Ocidente.
A Paixão retoma temas extremamente caros à tradição religiosa, cujas
referências estão quase sempre no antigo testamento e que são aplicados a
um contexto absolutamente cotidiano para romper com os significados
tradicionais e convencionais.
Por sua vez, a utilização do sagrado num contexto extremamente
secular e até profano ironiza a dimensão dogmática dada aos textos religiosos
de que a obra se serve, contribuindo para a tese da autora de que a
experiência religiosa não é algo transcendente, mas uma experiência atual e
concreta de ligação com a vida.
Não por acaso, a narrativa começa no caos, ou seja, com uma
desarticulação tanto do discurso, quanto das idéias que representam e
parodiam um mundo sem linguagem que remete diretamente a idéia do Caos
cristão.
Assim como no Gênesis Deus diz faça-se luz, e a luz é feita, também
G.H. acredita que tudo o que existe é criado pela linguagem, ainda que essa
não seja capaz de retratar fielmente a realidade. A ironia paródica neste caso
fica por conta da subversão do “fantástico” neste ato. A chave da criação para
G.H. não é crer no sobrenatural, mas interpretá-lo de forma racional, secular.

39
De fato, afirma G.H. só podemos reconhecer a luz a partir do momento em que
podemos denominá-la. “Eu tenho à medida que designo”55, afirma a
personagem.
Decidida a organizar esse caos em linguagem, a narradora dá inicio
então ao relato de sua experiência, mas faz questão de exprimi-la de forma
paradoxal. Para G.H. um discurso simplesmente afirmativo não teria qualquer
sentido, afinal subverter o discurso religioso para simplesmente afirmar outro é
pretender perpetuar outra verdade universal que não está em parte alguma.
Assim, para retomar a experiência da provação cristã num contexto que
nos fizesse sentido é que a narrativa se utiliza do confronto entre uma mulher
bem situada financeiramente, artificial e alienada com um mundo de privação,
sofrimento e miséria, representado por Janair e pela barata. O reconhecimento
desta realidade torna-se para a narradora um grande teste, um sacrifício pelo
qual a personagem precisará passar.
A paródia à provação não se dá, entretanto, pela simples existência do
sofrimento. As associações entre sabor e saber, a prova pelo gosto, a
transfiguração da barata em serpente, retomam o livro do Gênesis e a temática
do pecado original, ou seja, a primeira provação imposta ao homem. Note-se
que assim como no Paraíso, G.H. também não pode resistir.
A associação do quarto de Janair ao deserto remete, por outro lado, a
vários significados atribuídos a este termo que estão desde as tentações
vividas por Cristo no deserto (Mt 4) até a fuga do judeus do Egito (Êx). Nesses
contextos, o deserto é um local hostil e árido que gera sofrimento e privação,
mas que prepara para a comunhão espiritual. Em PSGH, entretanto, o quarto
só permitirá a comunhão com a vida.
Ao contrário de Adão e Eva, ao cometer o pecado, G.H. não pretende
ser igual a Deus. O pecado é algo necessário para lhe aproximar de sua
natureza real, humana.
Apenas provando do imundo é que G.H. poderá se libertar de sua
pureza fácil, artificialmente construída. É por isso que ela afirma que cometeu
55 Clarice Lispector, A Paixão Segundo G.H. p.113.

40
o anti-pecado, o ato necessário para se aproximar de uma realidade não-
humana, mas que é viva e que assume nosso caráter de ser carente.
A manducação parodia diretamente o ritual da eucaristia. O ritual de
ingestão do corpo de cristo representado pela hóstia e a referência de G.H.
para ingerir a barata e tentar a comunhão com o divino. A ironia neste caso é
que este ato só leva ao conhecimento da própria coisa, sem nenhuma
transcendência.
Depois de “pecar”, G.H. espera pela danação, por ser condenada ao
Inferno, mas nada de extraordinário acontece. A morte da barata só é capaz de
fazê-la reconhecer a verdadeira condição humana de sofrimento. Assim com a
natureza da barata admitia que ela fosse morta por um ser que fosse maior do
que ela, também a humanidade deveria admitir seu destino fatal, sem criar
esperanças artificiais.
A dor, o sofrimento, a paixão, é a condição humana por excelência.
Sem a transcendência, G.H. reconhece que o divino é o real.

41
V. REFERÊNCIAS
BAKHTIN, Mikhail. Questões de Literatura e de Estética: a teoria do romance. São Paulo: Hucitec, 1988. BARROS, Diana Luz Pessoa de; FIORIN, José Luiz (orgs.). Dialogismo, Polifonia e Intertextualidade: em torno de Bakhtin. 2.ed. São Paulo: Edusp, 2003. BONNICI, Thomas; ZOLIN, Lúcia Osana (orgs.) Teoria literária: abordagens históricas e tendências contemporâneas, 2. ed. Maringá: Eduem, 2005. COSTA LIMA, Luis. A mística ao revés de Clarice Lispector. In: LISPECTOR, Clarice. A Paixão Segundo G.H. Edição crítica. Coord. de Benedito Nunes. 2ª ed. Madrid – São Paulo: ALLCAXX – Scipione Cultural,1997. HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo. Trad. Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991. __________, Linda. Uma teoria da paródia. Trad. Teresa Louro Pérez. Lisboa: Edições 70. INSTITUTO MOREIRA SALLES. Cadernos de Literatura Brasileira: Clarice Lispector. São Paulo, 2004. LISPECTOR, Clarice. A Paixão Segundo G.H. Edição crítica. Coord. de Benedito Nunes. 2ª ed. Madrid – São Paulo: ALLCAXX – Scipione Cultural,1997. NUNES, Benedito. O drama da Linguagem: uma leitura de Clarice Lispector. São Paulo: Ática, 1989. PEIRANO, Mariza. Rituais ontem e hoje. São Paulo: Jorge Zahar, 2003. RIMBAUD, Arthur. “A carta do vidente”. In: Oeuvres completes – correspondance. Trad. Sandra M. Stroparo. Paris: Robert Laffont, 1992.
SÁ, Olga de. Paródia e Metafísica. In: LISPECTOR, Clarice. A Paixão Segundo G.H. Edição crítica. Coord. de Benedito Nunes. 2ª ed. Madrid – São Paulo: ALLCAXX – Scipione Cultural,1997. SANT’ANNA. Afonso Romano de. O ritual epifânico do texto. In: LISPECTOR, Clarice. A Paixão Segundo G.H. Edição crítica. Coord. de Benedito Nunes. 2ª ed. Madrid – São Paulo: ALLCAXX – Scipione Cultural,1997. BÍBLIA SAGRADA. Trad. João Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1995.