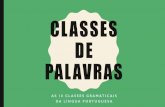CLASSES MÉDIAS.pdf
-
Upload
jaime-lima -
Category
Documents
-
view
41 -
download
5
Transcript of CLASSES MÉDIAS.pdf
CNPq – CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
ESTÁGIO DE DOUTORADO NO EXTERIOR (DOUTORADO SANDUÍCHE) PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO
Título do projeto: Nova Classe Média no Brasil? Uma análise para além da renda Doutorando/Candidato ▪ André Ricardo Salata Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ Programa de Pós‐Graduação em Sociologia e Antropologia/PPGSA Profª. Orientadorª ▪ Maria Celi Scalon Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ Programa de Pós‐Graduação em Sociologia e Antropologia/PPGSA Prof. Orientador Estrangeiro ▪ Tak Wing Chan Oxford University (Inglaterra) Departamento de Sociologia Vigência pretendida para a bolsa: de dezembro de 2011 a Junho de 2012
RIO DE JANEIRO, ABRIL DE 2011
INTRODUÇÃO
No Brasil a discussão em torno da classe média é atualmente tão intensa que tem inclusive ultrapassado os limites acadêmicos e se espraiado através do debate público, nos jornais impressos, revistas, televisão e etc. De uma maneira geral tem sido constantemente defendida a idéia do crescimento da classe média no Brasil, ou do surgimento de uma nova classe média.
Não são raras as reportagens a respeito de famílias que devido a acréscimos em sua renda vêm aumentando seu padrão de consumo e conquistando espaço em mercados antes exclusivos a setores mais abastados, melhorando assim seu padrão de vida. Tais situações têm servido para ilustrar a idéia de que o Brasil teria se tornado um país composto, em sua maioria, por famílias de classe média.
Este debate foi, em grande parte, impulsionado por recentes trabalhos acadêmicos que definem as classes exclusivamente, ou em parte, através da renda ou do consumo (Torres, 2004; Neri, 2008; Souza e Lamounier, 2010; Oliveira, 2010).
Nos últimos anos o país apresentou taxas de considerável crescimento econômico, que aliadas à diminuição das desigualdades de renda, aos programas de transferência direta de remuneração, à estabilização econômica alcançada nas últimas décadas e à expansão do crédito, têm sido capazes de elevar os rendimentos e o padrão de consumo de muitas famílias (Barros et al, 2010). Tomando como base esse cenário economicamente positivo, o trabalho de Neri (2008) mostrou a diminuição dos grupos de renda inferiores e o correlato crescimento dos grupos intermediários – a “Classe C”.
Destarte, o debate atualmente dominante no Brasil em torno da classe média tem se concentrado nos grupos de renda e no acesso das famílias ao consumo. No entanto, apesar da enorme importância de fatores como remuneração e consumo, partindo do ponto de vista sociológico talvez estes não sejam os critérios mais adequados para se atestar o crescimento ou diminuição da classe média. Alguns sociólogos, inclusive, já vêm questionando essas abordagens e suas conclusões (Souza, 2010).1
No trabalho que venho desenvolvendo tenho como objetivo testar essa hipótese do crescimento da classe média brasileira (ou do surgimento de uma nova classe média).
Em busca de uma definição conceitual para a(s) “classe(s) média(s)”
A discussão sociológica em torno da definição de “classe(s) média(s)” é muito ampla. Já em Marx podemos encontrar citações a respeito dos grupos intermediários, sejam eles a pequena burguesia proprietária ou os empregados assalariados, supervisores, técnicos e etc. (Burris, 1986). Weber, por outro lado, ao longo de quase toda sua obra esteve atento ao desenvolvimento da autoridade impessoal e racional através da 1 Ver também reportagem publicada no jornal O Globo em 06/08/2008, intitulada "Educação e Trabalho são os Símbolos da Classe Média". Endereço eletrônico: http://oglobo.globo.com/economia/mat/2008/08/06/educacao_trabalho_sao_os_simbolos_da_classe_media‐547610026.asp.
2
formação das burocracias, em grande parte responsáveis pelo crescimento da chamada nova classe média na primeira metade do século XX (Mills, 1951).
Uma das grandes dificuldades, principalmente dentro do campo marxista, para lidar com as chamadas novas classes médias, é o fato de seus integrantes não serem proprietários mas ao mesmo tempo administrarem os negócios, fazerem trabalhos não manuais, supervisionarem os trabalhadores ou possuírem habilidades e status que os distinguem dos demais não proprietários. A teoria Weberiana, ao possibilitar que outros fatores além da propriedade delimitem as classes, parece mais adequada para a compreensão dessas camadas intermediárias.
De qualquer forma, até hoje estas duas correntes – Marxista e Weberiana - servem como as principais bases a partir das quais a definição das classes e, mais especificamente, da(s) classe(s) média(s) são orientadas. Atualmente podemos encontrar diversos termos que tentam dar conta das camadas médias, como “Service Class” (Goldthorpe, 2000), “New Class” (Gouldner, 1979), “White Collar” (Mills, 1951), “Managerial Class” (Ehrenreich e Ehrenreich, 1978 apud Savage et al, 1995), “contradictory locations within class relation” (Wright, 1976 apud Wright, 1986) e etc.
Os argumentos utilizados para definir a(s) classe(s) média(s) são diversos, assim como são várias as discordâncias nesse campo. Mas, o que nos interessa no momento é destacar que, dentro da tradição sociológica, fatores como tipo de ocupação, posição na ocupação, qualificações, status, entre outros, são mais importantes do que a “renda” na definição das classes – entre elas a “classe média”.
No Brasil são diversos os trabalhos que já tocaram no tema da classe média (Fernandes, 1975; Albuquerque, 1977; Quadros, 1985; Romanelli, 1986; Oliveira, 1988; O`Dougherty, 1988; Bonelli, 1989; Figueiredo, 2004, entre outros).2 Mais comum é que estes trabalhos surjam na área de Economia e adotem como foco a renda. No entanto, as limitações da renda, tanto como medida de pobreza como de desigualdade já foram amplamente expostas. Até mesmo o prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, evidencia sua incompletude (Sen, 2001). Dessa forma, é possível perceber os limites deste tipo de análise também, ou principalmente, quando se trata do estudo das classes sociais, no caso a classe média.
Discordâncias a respeito da maneira a partir da qual a(s) classe(s) média(s) são definidas, ou a partir da qual devem ser mensuradas, já se faziam presentes há algum tempo. Autores como Langoni (1973) e Queiroz (1965), por exemplo, mensuram a classe média a partir de informações a respeito da renda individual ou familiar; já Santos (2002) e Quadros (2003) a definem através de critérios sócio-ocupacionais. Outros autores se situam mais próximos de uma definição através do consumo (O`Dougherty, 1988), ou mesmo de critérios diversos como escolaridade, ocupação e renda (Figueiredo, 2004). São poucos os trabalhos que analisam comportamento político (Saes, 1985), práticas, gostos, preferências ou, ainda mais relevante, estilo de vida das classes médias (Owensby, 1999). Mesmo os estudos sobre consumo se restringem a gastos/acesso, não evidenciando o estilo de vida dessas camadas.
2 Para uma revisão dessa literatura, ver Pochman et al (2006).
3
ALGUNS DOS RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
O estudo coordenado por Neri (2008), um dos grandes propulsores do atual debate, divide a sociedade brasileira em 5 classes (A, B, C, D, e E)3, cujos limites são dados pela renda. O gráfico abaixo mostra a evolução dessas faixas de renda nos últimos anos no Brasil:
Gráfico 01. Brasil – População Masculina, entre 24 e 60 Anos de Idade, por Classes de Renda*, 2002 e 2009 (em %)
26,1
16,5
15,5
12,2
45,4
54,2
13,0
17,0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2002
2009
E
D
C
AB
Fonte: PNADs, 2002, 2009 / IBGE (elaboração própria) *Renda domiciliar per capita de todos os trabalhos / preços constantes, 2009 (INPC) **E (R$00,00 – R$ 140,00) / D (R$ 141,00 – R$ 222,00) / C (R$ 223,00 – R$ 964,00) / AB
(mais de R$ 965,00)
Percebemos uma melhora na distribuição de renda, com os grupos de menor renda diminuindo sua participação e os grupos de renda média e alta intensificando sua presença. Devemos destacar a notável queda da participação da “Classe E” e também o correlato aumento da “Classe C”. Diante de dados dessa natureza vem sendo difundida a idéia de que o Brasil estaria se tornando, ou já teria se tornado, um país de classe média.
No entanto, quando olhamos a composição sócio-ocupacional desta “Classe C” vemos o quanto heterogênea ela é:
3 Geralmente as classes “A” e “B” são trabalhadas juntas, formando a classe “A & B”, ou “AB”.
4
4Tabela 01. Composição Sócio-Ocupacional (EGP) por Classes de Renda no Brasil, 2002-2009 – para indivíduos do sexo masculino, entre 24 e 60 anos de
idade
Fonte: PNADs, 2002, 2009 / IBGE (elaboração própria) *Renda do trabalho principal / preços constantes, 2009 (INPC)
**E (R$00,00 – R$ 140,00) / D (R$ 141,00 – R$ 222,00) / C (R$ 223,00 – R$ 964,00) / AB (mais de R$ 965,00)
Dentro da “Classe C”, tanto em 2002 quanto em 2009, podemos encontrar desde profissionais e administradores até trabalhadores não qualificados e setores rurais, passando por pequenos proprietários, trabalhadores qualificados e não manuais de rotina. Por essa razão, acreditamos que outras maneiras de mensurar a classe média, especialmente aquelas que fazem parte da tradição sociológica lembrada acima, baseadas nas informações sócio-ocupacionais, poderiam nos ajudar a interpretar os recentes movimentos das classes médias no interior da estrutura social brasileira.
Abaixo temos a distribuição dos indivíduos do sexo masculino, com idade entre 24 e 60 anos, pelo esquema EGP com 6 classes, nos anos de 2002 e 2009:
4 Fizemos uso do esquema de classificação desenvolvido por Erikson, Goldthorpe e Portocarero (1979), a anteriormente citada classificação EGP. Originalmente este esquema contava com 11 classes, mas aqui trabalhamos com sua versão agregada em 6 diferentes classes ‐ também utilizada por Marques, Scalon e Oliveira (2009). No tocante ao que estamos aqui classificando como “classes médias”, a primeira categoria – profissionais e administradores – é composta pelas posições de alto nível dentro da Nova Classe Média, como dirigentes, diretores, gerentes, especialistas, técnicos e profissionais de status elevado em geral. Já dentro da segunda categoria – trabalhadores não manuais de rotina – se encontram, por exemplo, secretários, professores do ensino fundamental, delegados de polícia, escritores, jornalistas e vendedores de lojas. Juntando esses dois primeiros grupos poderíamos falar de uma “Nova Classe Média” (ou “White Collars”) no sentido atribuído por Mills (1951). Por fim a classe dos pequenos proprietários ‐ ou “Antiga Classe Média” (Mills, 1951) ‐ é composta por dirigentes, gerentes, representantes comerciais, produtores, vendedores, entre outros; todos na posição de empregadores ou conta‐própria.
5
Tabela 02. Presença Relativa e Absoluta das Classes EGP no Brasil, 2002-2009 – para indivíduos do sexo masculino, entre 24 e 60 anos de idade
Fonte: PNADs, 2002, 2009 / IBGE (elaboração própria)
É importante observar que todas as classes crescem em termos absolutos, o que reflete o crescimento da população ocupada do Brasil nos últimos anos. No entanto, a participação relativa das classes na estrutura social não parece sofrer modificações substantivas entre 2002 e 2009. Acreditamos que o mais importante a ser destacado é a manutenção do patamar de participação da(s) classe(s) média(s) – quando mensuradas através de critérios sócio-ocupacionais - na estrutura social brasileira dos últimos anos.
Os dados mostrados até o momento evidenciam que diferentes maneiras de se mensurar a(s) classe(s) média(s) podem levar a resultados e conclusões bastante distintos. Quando definida através da renda - como a “Classe C” (Neri, 2008) -, apresenta crescimento substantivo nos últimos anos. Porém, quando definida através de critérios como tipo de ocupação e posição no mercado de trabalho é a sua manutenção que se destaca.
Como já foi dito, nos últimos anos o Brasil apresentou um contexto econômico bem favorável, onde muitos indivíduos e famílias saltaram das faixas de renda inferiores para faixas intermediárias. A tabela abaixo nos ajuda a entender quais classes foram as mais beneficiadas em relação ao aumento da renda entre 2002 e 2009:
6
Tabela 03. Renda Média* e Faixas de Renda** por Classes EGP no Brasil, 2002-2009 – para indivíduos do sexo masculino, entre 24 e 60 anos de idade
Fonte: PNADs, 2002, 2009 / IBGE (elaboração própria)
E D C AB Tota
MédiaVariação % (2002‐2009)
% % % % %
2002 3522,9 2,
l
8 3,9 37,8 55,5 100,0
2009 3616,4 1,1 1,9 34,7 62,3 100,02002 1317,8 9,8 12,3 58,9 19,0 100,02009 1339,2 4,4 8,4 64,6 22,6 100,02002 2349,5 10,2 8,8 49,8 31,2 100,02009 2448,4 5,9 6,5 49,5 38,1 100,02002 959,3 17,1 18,0 57,0 7,9 100,02009 1086,5 9,0 11,5 66,2 13,3 100,02002 817,7 23,1 18,8 52,4 5,7 100,02009 897,6 14,1 14,8 62,3 8,8 100,02002 508,5 58,7 16,5 22,2 2,6 100,02009 585,0 45,1 16,2 34,2 4,5 100,0
2,7
1,6
4,2
13,3
9,8
15,0
Faixas de RendaRenda Média
Rural
EGP Ano
Profissionais e Administradores
Trabalhadores não manuais de rotina
Pequenos proprietários
Trabalhadores manuais qualificados
Trabalhadores não qualificados
*Renda do trabalho principal / preços constantes, 2009 (INPC) **E (R$00,00 – R$ 140,00) / D (R$ 141,00 – R$ 222,00) / C (R$ 223,00 – R$ 964,00) / AB (mais de R$ 965,00)
Todos os grupos apresentaram aumento em suas rendas no período estudado. Chama a atenção o fato de que os grupos que mais se beneficiaram, proporcionalmente, desse aumento nos rendimentos, foram aqueles localizados na base da estrutura, no setor dos trabalhadores manuais e no setor rural.
Algumas conclusões mais gerais devem ter tiradas dos dados expostos acima. As classes médias obtêm rendimentos nitidamente mais elevados (com exceção dos trabalhadores não manuais de rotina) que as classes de trabalhadores manuais. Apesar disso, nos últimos anos as classes que mais se beneficiaram com aumento de renda, proporcionalmente falando, foram aquelas mais próximas da base da estrutura social brasileira. Nesse sentido talvez possamos dizer que, no que diz respeito aos rendimentos, nos últimos anos tenha havido uma aproximação entre a “baixa classe média” e os estratos mais qualificados da classe trabalhadora. Assim, ao invés de falarmos de uma “Nova Classe Média” poderíamos ponderar, talvez, sobre uma parcela da classe trabalhadora que, em relação a certas características – especialmente rendimentos e poder de consumo -, estaria se aproximando de alguns setores da(s) classe(s) média(s).
JUSTIFICATIVAS
Alguns autores vêm lançando dúvidas sobre a idéia do crescimento da classe média no Brasil, ou do nascimento de uma “Nova Classe Média” (Souza, 2010). Os resultados
7
alcançados por nós até o presente momento – alguns expostos na seção anterior - nos permitem afirmar que a estrutura social brasileira não está sofrendo modificações no sentido de um crescimento da classe média (definida em termos sócio-ocupacionais), mas que ao longo de toda estrutura social, e principalmente em sua base, nos últimos anos as classes estariam sendo beneficiadas por um aumento significativo em sua renda e poder de consumo.
Mas será que o fato de as camadas populares terem aumentado seus rendimentos e poder de consumo significa uma maior aproximação com a(s) classe(s) média(s)?
Discussões nesse sentido não são novas; pelo menos não na literatura internacional sobre estratificação social (Goldthorpe et al, 1969). Na Inglaterra do pós-guerra, durante seguidos anos de melhora nos padrões de vida (rendimentos e consumo, principalmente) da classe trabalhadora, alguns autores defendiam a tese do “emburguesamento” desta camada (Devine, 1997) e chegavam, inclusive, a falar de uma aproximação dos trabalhadores com a classe média, tanto em termos de padrão de vida quanto em termos de identidade, aspirações e orientação política. (Zweig, 1960).5
A reação a essa tese se fez presente em trabalhos como os de Lockwood (1960) e Goldthorpe et al (1969). Entre os argumentos que colocavam em dúvida aquela hipótese destacamos, em primeiro lugar, a fragilidade da suposta ligação entre poder de consumo, melhorias na renda, padrões de sociabilidade, estilo de vida e aspirações; além disso, também se colocava em dúvida a capacidade daquela tese em demonstrar que a classe trabalhadora enriquecida almejava alcançar um status de classe média e, por fim, e mais importante, que a própria classe média os aceitasse enquanto tal.
Tomando essa bibliografia inglesa como base, acredito que a discussão que se faz hoje no Brasil sobre o tema da classe média seja frágil em dois aspectos. Primeiramente, a definição de classes em termos de renda deve ser problematizada e/ou complementada, como pôde ser demonstrado na seção posterior. Em segundo lugar, ao constatar-se não um aumento dessa classe enquanto grupamento sócio-ocupacional, mas sim uma melhora na renda e padrões de consumo que se espraia por toda estrutura social - mas principalmente em sua base -, como alguns dos dados já elaborados por nós podem indicar6 -, serão necessárias investigações mais profundas a respeito do significado destas mudanças e seus efeitos sobre estilos de vida e estratégias de distinção das classes envolvidas.
Como já afirmamos em parágrafos anteriores, a literatura sociológica sobre estratificação social, ao tratar da classe média, foca principalmente nas características de sua inserção no mercado de trabalho (ou função/posição no processo produtivo) e também em seu caráter simbólico, seu estilo de vida, seus hábitos e estratégias de reprodução.7 Acreditamos que, a fim de aprofundar o debate atual sobre o tema no Brasil, seria necessário analisar as implicações dessas mudanças – econômicas - no
5No mesmo período houve debates semelhantes em outros países como Estados Unidos, França e Alemanha. Para maiores referências ver Goldthorpe et al (1969). 6 Ver também Salata e Scalon (2011). 7 Em relação a essa segunda abordagem a obra de Pierre Bourdieu é referência obrigatória.
8
plano simbólico, para a prática das famílias e indivíduos que compõem esses agrupamentos.
Muito tem se falado a respeito do suposto crescimento da classe média e também sobre as implicações desse movimento para questões políticas e sociais (Torres, 2004), mas pouca atenção tem sido dada a análises mais profundas que problematizem e complementem a definição de classe média predominantemente utilizada, assim como a suposta passagem quase automática entre melhorias na renda (e poder de consumo) e estilos de vida. É essa a lacuna que o trabalho tem buscado preencher.
OBJETIVOS
Destarte, estamos elaborando um trabalho que desenvolve a análise em dois níveis distintos, mas intercambiáveis. Ambos têm como objetivo final, em conjunto, verificar a validade da tese do crescimento da classe média na última década no Brasil, ou do surgimento de uma nova classe média. O primeiro nível tem se concentrado na dimensão estrutural e suas mudanças nos últimos anos, e tem como principal objetivo buscar compreender as recentes transformações – ou inércia – da estrutura social brasileira (em especial no que diz respeito às classes médias). O segundo nível de análise se dará no campo da prática dos indivíduos enquanto membros de determinadas classes sociais. Seus objetivos se encontrariam em compreender de que maneira os membros de diferentes “situações de classe” estariam se comportando diante das recentes mudanças econômicas no Brasil - com melhoria na remuneração e poder de consumo da população de uma forma geral. Teríamos o objetivo de verificar se o aumento dos rendimentos poderia ter modificado os estilos de vida das famílias de classes populares, aproximando-as, nesse sentido, às famílias de classes médias, o que se constituiria como um primeiro passo para uma maior aproximação social entre esses dois grupos.
PROBLEMAS, HIPÓTESES E MÉTODOS
Como já dissemos, uma questão principal tem guiado o trabalho: poderíamos, de fato, falar de crescimento da classe média brasileira, ou surgimento de uma nova classe média, nos últimos anos? Mais especificamente essa única questão pode ser desmembrada em dois pontos: primeiro, poderíamos falar de uma aproximação da “situação de classe” de alguns setores das classes populares em relação à classe média? Segundo, estaria ocorrendo um movimento de aproximação “social” entre estes grupos? Faz-se referência, dessa maneira, à distinção elaborada por Weber (1922) entre “situação de classe” e grupos de status, que corresponderiam a duas dimensões
9
distintas (mas possivelmente interligadas) da estratificação social; a primeira de cunho eminentemente econômico, e a segunda eminentemente social.8
A primeira questão a ser respondida implica em problematizar a definição das classes através da renda, assim como propor outras maneiras de identificar as classes médias - através dos agrupamentos sócio-ocupacionais tradicionalmente utilizados pela literatura sociológica. Através dos resultados que temos alcançado – alguns expostos acima - podemos perceber que, na verdade, não estamos presenciando nem o crescimento nem o surgimento de outra classe média. O que estaria ocorrendo seria um aumento generalizado da renda e padrões de vida que se espraiaria por toda estrutura social - com efeitos mais acentuados em sua base.
Destarte, outra questão deve ser colocada: se é verdade que as categorias de base da estrutura social brasileira sofreram significativo aumento em seus rendimentos, padrão de vida e poder de consumo nos últimos anos, poderíamos supor que os indivíduos dessas camadas estariam reivindicando o status de classe média para si, adotando novos estilos de vida? E em relação à classe média consolidada, esta estaria buscando novas maneiras de se distinguir?
Duas hipóteses, portanto, estão presentes neste trabalho. A primeira, já parcialmente confirmada, afirmava que, se mensurada por critérios sociológicos, a classe média brasileira não teria apresentado crescimento substancial nos últimos anos. Os resultados alcançados até o momento – alguns expostos acima – nos permitem afirmar que não houve grandes alterações na estrutura social brasileira nos últimos anos; na verdade, verificamos uma significativa melhora nos rendimentos e acesso ao consumo das camadas populares. Tal constatação nos leva a nossa segunda hipótese: dada essa melhora no padrão de vida das camadas populares, estaria ocorrendo uma maior aproximação social/simbólica com a(s) classe(s) média(s).
Bourdieu (2008) já argumentava que o aspecto simbólico da divisão de classes, e as classificações associadas a ele, são dotados de um poder real, e não meros reflexos de uma estrutura. Um estudo que se proponha a investigar possíveis mudanças na divisão de classes não deve se ater somente a questões de cunho estrutural/econômico, ou às “situações de classe” no sentido dado por Weber (1922); faz-se necessário compreender o aspecto simbólico e social desses movimentos, aproximando-se da noção weberiana de status, de forma a estudar a relação deste com as “situações de classe” em um ambiente de mudanças.
8Identificamos uma classe quando um grupo de indivíduos possui uma situação de classe em comum, dada pelo componente causal específico de suas chances de vida – que pode ser a ocupação, propriedade, habilidades e etc. ‐, na medida em que este componente é representado exclusivamente por interesses econômicos na posse de bens e oportunidades de rendimentos sob as condições do mercado de produtos ou do mercado de trabalho (Weber, 1979). Já os grupos de status são definidos por Weber (1979) como “todo componente típico do destino dos homens determinado por uma estimativa social específica, positiva ou negativa, de honra/prestígio” (p. 71). Ou seja, estes dizem respeito a uma série de relações hierárquicas socialmente percebidas e, em alguma medida, aceitas, que expressam superioridade, inferioridade ou igualdade (Chan et al, 2010). Os grupos de status, segundo Max Weber, se expressariam através das relações íntimas e dos estilos de vida.
10
A dimensão do status, no entanto, tem sido sistematicamente esquecida nos trabalhos sobre estratificação social das duas últimas décadas. Quando lembrada, como acontece no caso das análises da sociologia norte-americanas sobre o tema, ela é tratada conjuntamente à dimensão econômica. Mas um tema como esse, sobre classes médias, exige que avancemos nessa questão. Falar de “Classe Média” é falar sobre uma “situação de classe” e, ao mesmo tempo, um grupo de status; duas dimensões da estratificação social que podem, ou não, estar interligadas. É necessário, portanto, que, assim como defendido por Chan e Goldthorpe (2004), levemos a sério essa distinção em nossas análises.
Por essa razão iremos buscar, a fim de complementar o tipo de análise que temos feito através dos dados das PNADs (Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio / IBGE) – em parte exposta acima -, analisar também os dados das POFs (Pesquisas de Orçamentos Familiares / IBGE), que poderão nos fornecer informações a respeito das práticas de consumo das famílias e, conseqüentemente, por meio de uma análise adequada, sobre seus estilos de vida. Dessa maneira poderemos saber se estaria ocorrendo um movimento de aproximação entre os trabalhadores manuais enriquecidos e as camadas médias.9
Metodologia
O método da pesquisa emprega técnicas quantitativas de análise de dados. Duas bases de dados têm servido como alicerce de nossas análises.
Nesse primeiro momento, a fim de analisar as possíveis mudanças na participação da classe média no interior da estrutura social brasileira nos últimos anos, temos trabalhado com os dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio (PNADs, 2001-2009), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Através das PNADs obtivemos dados - representativos para a população brasileira - sobre tipo de ocupação, posição na ocupação, renda, escolaridade, etc. Também nessa fase estamos aprimorando nossa compreensão de como cada classe se aproveitou das recentes mudanças na economia brasileira, com aumento da renda e do consumo.10
Outra base de dados produzida pelo IBGE, as Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF 2002-2003 e 2008-2009), serão analisadas na segunda fase deste trabalho, já que fornecem informações detalhadas a respeito do consumo das famílias brasileiras. Weber (1922) afirma que é através das práticas de consumo que os grupos de status podem ser identificados; por meio destas práticas é que se revelariam os estilos de vida distintos que conformariam esses grupos. Através dos dados das Pesquisas de Orçamentos Familiares, portanto, seremos capazes de verificar possíveis modificações nos estilos de vida das classes populares abastada, testando assim a hipótese de uma
9A questão proposta ganha ainda mais fôlego quando lembramos que estudos internacionais (Mills, 1951; Goldthorpe et al, 1969) e, principalmente, nacionais (Owensby, 1999; Fernandes, 1975), já demonstraram que a barreira social entre trabalhadores manuais e não manuais é forte e se faz presente há muitas décadas. 10 Sobre este ponto já temos um artigo elaborado e aceito para publicação (Salata e Scalon, 2011).
11
maior aproximação entre estas e as outras camadas sociais intermediárias ao longo dos últimos anos.
Deve ser ressaltado que uma análise de padrões de consumo como proxy de estilos de vida é bastante diferente do uso que tem sido feito da POF até o presente momento para demonstrar o maior acesso das camadas populares aos bens de consumo (Oliveira, 2010). Não nos interessa apenas demonstrar tal fato, já amplamente divulgado. Faz-se necessária a elaboração de uma análise mais profunda – do ponto de vista empírico e teórico - sobre essas práticas, assim como aquelas que têm sido realizadas por Chan (2010) e Chan e Goldthorpe (2007a, 2007b, 2007c, 2007d) dentro do contexto Europeu e, principalmente, Inglês.
Plano de atividades e justificativas para o seu desenvolvimento no exterior
O trabalho está dividido nas seguintes etapas: desenvolvimento do projeto, defesa do projeto de tese, levantamento e leitura da bibliografia, redação da introdução e primeiros capítulos, tabulação dos dados das PNADs, análise dos dados das PNADs, tabulação dos dados das POFs, análise dos dados das POFs, redação dos capítulos intermediários e finais, conclusão do trabalho e defesa da tese. A tabela abaixo contém o cronograma completo:
Tabela 01. Cronograma de Atividades e Planejamento (2010-2014)
Desenvolvimento do ProjetoLevantamento e leitura da bibliografia
Redação dos Primeiros Capítulos
Tabulação dos dados das PNADs
Análise dos Dados das PNADs
Tabulação dos dados das POFs
Análise dos Dados das POFs
Redação dos Capítulos Intermediários e Finais
Conclusão do Trabalho
Defesa da Tese
mar/14
ETAPAS DO TRABALHO
jul/13ago/13set/13out/13nov/13dez/13
jan/13fev/13mar/13
abr/13mai/13
jun/13
set/12out/12nov/12
jan/14fev/14
dez/12
mai/11
jun/12
jul/11ago/11set/11out/11nov/11dez/11jan/12fev/12mar/12
abr/12mai/12
jul/12ago/12
CALENDÁRIO
jun/11
mar/10
abr/10mai/10
jun/10jul/10ago/10set/10out/10nov/10dez/10jan/11fev/11mar/11
abr/11
Nota: já realizado / a ser realizado no Brasil / a ser realizado no período do estágio no exterior
12
Até o presente momento estivemos desenvolvendo o projeto (já finalizado), o levantamento e a leitura da bibliografia, e a tabulação e análise dos dados das PNADs.
Nesta seção gostaríamos de abordar mais especificamente a parte do trabalho a ser desenvolvida fora do Brasil (como indicado na tabela acima) – na condição de estudante visitante financiado pela bolsa de estágio de doutorado no exterior -, na Universidade de Oxford (Nuffield College)11, sob orientação do professor Tak Wing Chan. Dada a relevância da produção de Chan no campo dos estudos de desigualdades e estratificação social, voltada principalmente para a relação entre classe, status, consumo e estilos de vida (Chan et al, 2010; Chan, 2010; Chan e Goldthorpe, 2007a; Chan e Goldthorpe, 2004), sua orientação será de grande valor para o desenvolvimento desse trabalho.
Julgamos importante ressaltar que no Brasil as POFs, ou qualquer outra base de dados semelhante, têm sido muito pouco (na verdade, quase nada) exploradas por sociólogos, ficando suas análises quase sempre restritas às abordagem puramente econômicas do acesso à bens de consumo. Pouquíssima atenção tem sido dada, por aqui, à discussão sobre status social e estilos de vida, e muito menos relacionando essas esferas ao consumo. Por essas razões gostaria de enfatizar a necessidade de aprofundar contatos com professores/pesquisadores estrangeiros que venham trabalhando nessas questões – como é o caso do professor Tak Wing Chan.
A bibliografia contemporânea Inglesa sobre esse tema, como muito bem colocado por Devine e Savage (2005), tem procurado inovar as análises sobre estratificação social. Tem havido por lá um crescente interesse pela dimensão simbólica (ligada à idéia do status) das divisões sociais, que nos últimos anos havia sido deixada de lado. Acreditamos que o atual debate sobre a classe média brasileira, ou o surgimento de uma “nova classe média”, careça de uma maior atenção sobre este aspecto. Por essa razão, seria interessante estreitarmos laços com professores/pesquisadores de ponta que estejam engajados nesse movimento. Dessa maneira poderemos desenvolver análises sociologicamente mais interessantes e profundas sobre as possíveis alterações nas barreiras sociais brasileiras em um contexto de significativas mudanças econômicas.
Assim, entre os meses de dezembro de 2011 e junho de 2012 – período pretendido de vigência da bolsa de estágio de doutorado no exterior -, pretendo desenvolver os seguintes aspectos de minha tese:
- Análise dos dados das PNADs
Interpretação dos resultados
- Análise dos dados das POFs
Seleção das variáveis
Aplicação das técnicas de análises de dados 11Maria Celi Scalon, minha orientadora, fez seu pós‐doutorado também em Oxford, no ano de 2002.
13
Interpretação dos resultados
- Desenvolvimento teórico
A relação entre classe e status
Estilos de vida e consumo
Durante esse período será finalizada a análise dos dados originados a partir das PNADs. Como já dissemos, estes dados já foram em grande parte tabulados, e uma amostra dos mesmos pode ser encontrada em seções anteriores deste projeto. No entanto, uma análise mais profunda dos resultados alcançados ainda precisaria ser melhor elaborada.
A fase mais importante do trabalho a ser desenvolvida em Oxford é a avaliação acerca do consumo de classes e estilos de vida, com a utilização dos dados das POFs. Primeiro será necessário definir as variáveis e aplicar as técnicas de análise apropriadas; em seguida, teremos de interpretar os resultados alcançados. Como já dissemos, através dos dados das POFs (2002-2003 e 2008-2009) poderemos obter informações sobre os estilos de vida das classes sociais e testar hipóteses a respeito de uma possível aproximação entre as classes populares enriquecidas e as classes médias. Nessa fase o auxílio do professor Tak Wing Chan, que tem grande experiência no tema (inclusive com um livro recentemente publicado sobre o assunto – Chan, 2010), será imprescindível.
Por meio de análises adequadas dos dados existentes nas POFs poderemos replicar, para o caso Brasileiro, algumas das interessantes análises desenvolvidas sobre esse tema pelo professor Tak Wing Chan e seus colegas (Chan et al, 2010; Chan, 2010; Chan e Goldthorpe, 2007a; Chan e Goldthorpe, 2004). Por meio das POFs temos informações a respeito do consumo cultural dos indivíduos – como idas a cinemas, teatros, restaurantes, compra de livros, entre outros –, seus gostos – tipo de comida, tipo de roupa, tipo de bebida, entre outros –, e aspirações – gastos com cursos, faculdades, material escolar, e outros - que, se adequadamente analisadas, podem servir de proxies para se estudar os estilos de vida de diferentes classes; dessa maneira seremos capazes de testar nossas hipóteses colocadas anteriormente.
Teríamos como variáveis dependentes aquelas relacionadas ao estilo de vida dos indivíduos; e, como variáveis independentes, as classes e outras variáveis de controle, como cor, gênero, idade, escolaridade e, principalmente, renda. Dessa maneira poderemos, através de técnicas de análises multivariadas – como regressões -, verificar, primeiramente, se diante das mudanças na renda e poder de consumo ocorridas nos últimos anos, o estilo de vida das camadas populares se aproximou daquele da(s) classe(s) media(s); em segundo lugar, poderemos saber se o fator “classe” continua exercendo influência sobre os estilos de vida mesmo quando em termos monetários há uma aproximação entre camadas populares e médias. Para tanto, o auxílio e a experiência do professor Tak Wing Chan na seleção das variáveis
14
que servirão como indicadores de estilo de vida, na análise das mesmas, e também na interpretação dos resultados obtidos, serão essenciais.
Outra importante etapa que pretendemos elaborar nesse período é o desenvolvimento teórico da pesquisa. A experiência em Oxford seria importante nesse aspecto devido à facilidade de acesso e imersão no extenso debate desenvolvido na Inglaterra sobre os temas tratados; a bibliografia inglesa, incluindo aí os trabalhos do professor Tak Wing Chan, como já tivemos a oportunidade de demonstrar, tem sido tomada como a principal referência nesse trabalho.
CONCLUSÕES
Mudanças importantes estão acontecendo no Brasil; a renda da população em geral vem aumentando e o consumo crescendo. Quanto a este fato não restam dúvidas, e os trabalhos de diversos autores deixam isso bem claro (Neri, 2008; Oliveira, 2010; Barros et al, 2010). Falar de crescimento da classe média, no entanto, exige pesquisas mais profundas que busquem entender a natureza da classe média no Brasil e as melhores formas de mensurá-la.
Muito tem se falado do suposto crescimento dessa camada social e das conseqüências disso para a sociedade brasileira, com reflexo nas demandas populares em relação aos governos, resultado de eleições e etc. Análises apressadas podem nos levar a conclusões e previsões errôneas a esse respeito. Primeiro deveríamos nos perguntar se houve, concretamente, um crescimento da classe média no Brasil.
“Classe” é um conceito sociológico dos mais discutidos e disputados. A(s) “Classe(s) Média(s)”, por sua vez, já geraram muitas discórdias e afundaram algumas leituras mais ortodoxas de importantes correntes teóricas. Defini-las não é simples e exige muita reflexão e análise. A sociologia da estratificação as tem estudado através do status de suas ocupações, tipo de contrato de trabalho, posse de ativos, estilo de vida e etc. Falar de “Classe média”, portanto, envolve “situações de classe” e também status – no sentido dado por Weber (1922) a estes termos. Uma análise completa a este respeito deve ser capaz de aliar essas duas dimensões.
Esperamos que o trabalho que temos desenvolvido possa ajudar a aprofundar esse debate, que tem sido tão intenso nos últimos anos, mas que em alguns momentos tem levado a conclusões apressadas.
15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALBUQUERQUE, G. Classes médias e política no Brasil, Rio de janeiro: Paz e Terra, 1977.
BARBOSA, A. A formação do mercado de trabalho no Brasil: da escravidão ao assalariamento. Campinas: Instituto de Economia/UNICAMP. 2003
BARROS, R. CARVALHO, M. FRANCO, S. Mendonça, R. 2010. Determinantes da Queda na Desigualdade de Renda no Brasil. IPEA. Texto para discussão nº 1460.
BONELLI, Maria da Glória. A classe média, do "Milagre" à recessão: mobilidade social, expectativas e identidade coletiva. São Paulo: IDESP, 1989.
BOURDIEU, Pierre. A Distinção: crítica social do julgamento. São Paulo, SP, Edusp, 2008.
BURRIS, V. The Discovery of the New Middle Class. Theory and Society. 15, p. 317-49, 1986
CHAN, Tak Wing. BIRKELUD, Elisabeth. KRISTIAN, Arne. e WIBORG. Social status in Norway. European Sociological Review, 2010. CHAN, Tak Wing. . Social Status and Cultural Consumption Cambridge University Press, 2010. CHAN, Tak Wing. GOLDTHORPE, John. The social stratification of cultural consumption: some policy implications of a research project. Cultural Trends, 16:373--384. 2007a CHAN, Tak Wing. GOLDTHORPE, John .Data, methods and interpretation in analyses of cultural consumption: a reply to Peterson and Wuggenig. Poetics, 35:317—329. 2007b CHAN, Tak Wing. GOLDTHORPE, John. Class and status: the conceptual distinction and its empirical relevance. American Sociological Review, 72:512—532. 2007c CHAN, Tak Wing. GOLDTHORPE, John. Social stratification and cultural consumption: music in England. European Sociological Review, 23:1--29. 2007d. CHAN, Tak Wing. GOLDTHORPE, John. Social status and newspaper readership. American Journal of Sociology, 112:1095—1134. 2007e. CHAN, Tak Wing. GOLDTHORPE, John The social stratification of theatre, dance and cinema attendance. Cultural Trends, 14:193--212. 2005. CHAN, Tak Wing. GOLDTHORPE, John Is there a status order in contemporary British society? Evidence from the cccupational structure of friendship . European Sociological Review 20:383--401. 2004.
DAHRENDORF, R. Class and Class Conflict in Industrial Society. London: Routledge and nKegan Paul. 1959.
DEVINE, Fiona. Social Class in America and Britain. Edinburgh University Press. 1997.
16
DEVINE, Fiona. SAVAGE, Mike. The Cultural Turn, Sociology and Class Analysis. In: DEVINE, Fiona. SAVAGE, Mike. Scott, John. CROMPTON, Rosemary (orgs.). Rethinking Class: culture, identities and lifestyles. Palgrave, 2005.
EHRENREICH, B. EHRENREICH, J. "The professional-managerial class", in P. WALKER (ed.), Between Labour and Capital, New York: Monthly Review. 1979.
ERIKSON, R. GOLDTHORPE, J. H. PORTOCARERO, L. Intergenerational Class Mobility in Three Western European Societies. British journal of Sociology, 30. 415-41. 1979.
FERNANDES, F. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 1975.
FIGUEIREDO, A. Fora do Jogo: a experiência dos negros na classe média brasileira. In: Cadernos Pagu, jul/dez. 2004, nº 23, p. 199-228
GOLDTHORPE, J.H. ‘The Service Class Revisited’ in M. Savage and T. Butler (eds) Social Change and the Middle Classes,London: UCL Press. 1995
GOLDTHORPE, J.H. et al. The Affluent Worker in the Class Structure, Cambridge: Cambridge University Press. 1969
GOLDTHORPE, John H. "Social Class and the Differentiation of Employment Contracts". In: GOLDTHORPE, J. On Sociology: numbers, narratives, and the integration of research and theory. Oxford University Press, 2000.
GOULDNER, A. W. The Future of intellectuals and the Rise of the New Class, New York: Continuum.
LANGONI, C. Distribuição de Renda e Desenvolvimento Econômico no Brasil, Rio de Janeiro: Expressão e Cultura. 1973
LOCKWOOD, D. The "New Working Class". Arch. europ. sociol., I 248-259. 1960
LOCKWOOD, D. The Blackoated Worker, London, Allen & Unwin. 1958
MALOUTAS. Thomas. (2007), Socio-Economic Classification Models and Contextual Difference: The ‘European Sócio-economic Classes’ (ESeC) from a South European Angle. South European Society & Politics, Vol. 12n, n. 4: 443-60.
MILLS, C. Wright. White Collar, New York: Oxford University Press. 1951
NERI, Marcelo. 2008. A Nova Classe Média. Rio de Janeiro/RJ. CPS.
O´DOUGHERTY, M. Middle Classes, ltd.: Consumption and class identity during Brazil`s inflation crisis. New York: City University of New York, 1997.
OLIVEIRA, F. Medusa ou as classes médias e a consolidação democrática. In: REIS, F; O`DONNELL, G. (org.) A democracia no Brasil: dilema e perspectivas. São Paulo: Vértice, 1988.
OLIVEIRA, Fabiana Luci. "Movilidad Social y Económica en Brasil: una nueva clase media?" In: FRANCO, R. HOPENHAYN, M. LEÓN, A. (orgs.) Las Clases Medias en América Latina: retrospectiva y nuevas tendencias. Siglo xxi editores, CEPAL, 2010.
17
OWENSBY, B. Intimate Ironies: modernity and the making of the new middle class lives in Brazil. Standford: Standford University Press. 1999
POCHMANN, M. AMORIM, R. SILVA, R. GUERRA, A. 2006. Classe Média: desenvolvimento e crise. São Paulo/SP. Cortez Editora
QUADROS, W. A evolução recente das classes sociais no Brasil. In: HENRIQUE, W. PRONI, M. (org.). Trabalho, Mercado e Sociedade. São Paulo: UNESP; Campinas: IE/UNICAMP, 2003.
QUADROS, W. A nova classe média brasileira. Campinas: IE/UNICAMP, 1985.
QUADROS, W. O "milagre brasileiro" e a expansão da nova classe média. campinas: IE/UNICAMP, 1991.
QUEIROZ, J. Os grupos bilionários nacionais. In: revista do instituto de Ciências Sociais. v. 2, n. 1. Rio de Janeiro: UFRJ, 1965.
ROEMER, J. A General Theory of Exploitation and Class. Cambrigge, MA, Harvard University Press. 1982.
ROMANELLI, G. Famílias de camadas médias. A trajetória da modernidade. tese de Doutorado, USP. 1996.
SANTOS, J. Estrutura e posições de classe no Brasil: mapeamento, mudanças e efeitos na renda. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: UFMG/Iuperj, 2002.
SAVAGE, Mike. BARLOW, James. DICKENS, Peter. FIELDING, Tony. Property, bureaucracy and culture: middle-class formation in contemporary britain. Reprinted. London, Rouledge. 1995 SALATA, André. SCALON, Celi. Classe Média no Brasil. (no prelo). 2011 SCALON, Maria Celi. Mobilidade Social no Brasil: padrões e tendências. Rio de Janeiro/RJ. Revan. 1999
SEN, Amartya. Desigualdade Reexaminada. São Paulo, Record. (2001)
SOUZA, Amaury. LAMOUNIER, Bolívar. A Classe Média Brasileira: ambições, valores e projetos de sociedade. Rio de Janeiro/RJ. Elsevier. 2001
SOUZA, Jessé. Os batalhadores brasileiros. Nova classe média ou nova classe trabalhadora? Belo Horizonte: UFMG, 2010.
TORRES, H. Quem é classe média no Brasil. Gazeta Mercantil - Opinião - 23/2/2004
WEBER, Max. Class, Status, Party. In: Gerth, H.H. and Mills, C.W. (eds.), From Max Weber: essays in sociology (1958). New York. Routledge and Kegan Paul, pp. 180-95. 1922
WRIGHT, Erik Olin. “What is Middle About the Middle Class?” In: Roemer, John (org) Analytical Marxism. Cambridge University Press, 1986.
WRIGHT, Erik Olin. Class, Crisis and the State, London: New Left Books, 1978.
18