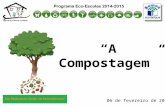Compostagem v1.0
-
Upload
michael4907 -
Category
Documents
-
view
73 -
download
2
Transcript of Compostagem v1.0

Alan Antonio Oliveira
Fabiano Parizotto dos Santos
Michael Kulczynskyj
COMPOSTAGEM
Trabalho de Pesquisa apresentado ao Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Tuiuti do Paraná como requisito avaliativo para o 2° bimestre da Disciplina Engenharia Ambiental. Professor: Chiquito
CURITIBA
2012

LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 – PROCESSO DE COMPOSTAGEM ........................................................ 6 FIGURA 2 – CONDIÇÕES ÓTIMAS NO PROCESSO DE COMPOSTAGEM ............ 7 FIGURA 3 – EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA NA COMPOSTAGEM ...................... 7 FIGURA 4 – PERFIL TÍPICO DE TEMPERATURA NUMA PILHA .............................. 8 FIGURA 5 – EXEMPLO DE LEIRA ........................................................................... 10 FIGURA 6 – REVOLVEDOR INDUSTRIAL DE LEIRAS ........................................... 10 FIGURA 7 – EXEMPLO DE SISTEMA DE LEIRAS REVOLVIDAS .......................... 11 FIGURA 8 – EXEMPLO DE SISTEMA DE LEIRAS ESTÁTICAS AERADAS ........... 11 FIGURA 9 – EXEMPLO DE SISTEMA REATOR EM COMPOSTAGEM .................. 12

LISTA DE TABELAS
TABELA 1 – TEMPERATURAS CONSIDERADAS PARA BACTÉRIAS EM °C ......... 8 TABELA 2 – RELAÇÕES CARBONO/NITROGÊNIO ................................................. 9 TABELA 3 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS SISTEMAS .......................... 13

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 5 2 COMPOSTAGEM .................................................................................................... 6 2.1 CONCEITO ........................................................................................................... 6 2.2 PROCESSO DE COMPOSTAGEM ...................................................................... 6 2.3 FATORES QUE AFETAM A DECOMPOSIÇÃO ................................................... 8 2.4 LEIRA .................................................................................................................... 9 2.5 SISTEMAS DE COMPOSTAGEM ....................................................................... 10 2.5.1 Sistema de leiras revolvidas ............................................................................. 10 2.5.2 Sistema de leiras estáticas aeradas ................................................................. 11 2.5.3 Sistemas fechados ou reatores biológicos ....................................................... 12 2.5.4 Vantagens e desvantagens dos sistemas ........................................................ 12 2.6 VANTAGENS DA COMPOSTAGEM ................................................................... 14 3 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 15 REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 16

5
1 INTRODUÇÃO
A geração de resíduos sólidos no Brasil vem aumentando a uma taxa de
crescimento maior do que a da população do país, sendo necessário gerenciamento
correto para estes resíduos. Este gerenciamento é um dos grandes desafios
ambientais atualmente.
Dados de estudos recentes indicam que a destinação da maior parte destes
resíduos tem se dado de forma inadequada sendo encaminhados para lixões e
aterros, mas devido a estes não possuírem mecanismos adequados para o manejo
dos resíduos, acabam acarretando na contaminação da água e solo.
Desta forma uma técnica denominada de compostagem pode ser utilizada
para dar uma destinação mais adequada e sustentável aos resíduos orgânicos
provenientes do lixo residencial e o lodo gerado pelas estações de tratamento de
efluentes, transformando estes resíduos em fonte de nutrientes para plantas e solo.

6
2 COMPOSTAGEM
2.1 CONCEITO
Segundo SANTOS (2012), compostagem é um conjunto de técnicas
empregadas no processo de decomposição de resíduos orgânicos, no intuito de se
obter em curto período um material estável e rico em nutrientes, ou seja, um
excelente fertilizante orgânico.
A disposição do lodo gerado pelas estações de tratamento no meio ambiente
pode colocar em risco a saúde da população por conter microrganismos
patogênicos. A compostagem neste caso é uma solução para a destinação do lodo,
pois devido ao processo atingir altas temperaturas ocorre à desinfecção do material
e o produto final acaba se transformando num insumo de alto valor agronômico, ou
seja, uma fonte de matéria orgânica, micro e macro-nutrientes para o solo
(FERNANDES; SILVA, 1999).
A decomposição de materiais orgânicos ocorre pela ação de microrganismos
decompositores, como fungos, vermes, bactérias, entre outros, disponibilizando os
nutrientes para outras formas de vida se alimentar, ou seja, iniciando um novo ciclo
(CARLI, 2010).
2.2 PROCESSO DE COMPOSTAGEM
O processo de compostagem pode ser representado pelas figuras 1 e 2.
FIGURA 1 – PROCESSO DE COMPOSTAGEM
FONTE: FERNANDES; SILVA, 1999.
Conforme o esquema representado na figura 1 a compostagem consiste na
oxidação dos resíduos orgânicos pela ação de microrganismos sob condições
aeróbias, originando um produto estabilizado. Este produto estabilizado apresenta
uma relação carbono/nitrogênio (C/N) em torno de 10 e uma composição de

7
elementos minerais conforme a origem do material compostado e da técnica
utilizada.
FIGURA 2 – CONDIÇÕES ÓTIMAS NO PROCESSO DE COMPOSTAGEM
FONTE: SANTOS, 2012.
Segundo a figura 3 durante a compostagem ocorrem duas fases distintas
denominadas de termófila e mesófila. A tabela 1 mostra as temperaturas mínimas,
ótimas e máximas para as bactérias termófilas e mesófilas. A fase termófila ocorre
no começo do processo e a temperatura sobe rapidamente podendo chegar até
70°C. A fase mesófila ou maturação ocorre aproximadamente após 40 dias do início
do processo de compostagem quando a temperatura volta a se equilibrar com a
temperatura ambiente e, nesta fase ocorrem reações que levam a humificação do
composto.
FIGURA 3 – EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA NA COMPOSTAGEM
FONTE: FERNANDES; SILVA, 1999.

8
TABELA 1 – TEMPERATURAS CONSIDERADAS PARA AS BACTÉRIAS EM °C
Bactéria Mínima Ótima Máxima
Mesófila 15 a 25 25 a 40 43 Termófila 25 a 45 50 a 55 85
FONTE: CARLI, 2010.
2.3 FATORES QUE AFETAM A DECOMPOSIÇÃO
Os fatores físico-químicos a seguir afetam diretamente a decomposição dos
resíduos orgânicos no processo de compostagem.
A. Aeração: o fato da compostagem ser um processo aeróbio a demanda
por oxigênio é muito grande. O oxigênio é fundamental para a atividade microbiana e
a falta deste pode ser um fator limitante, tornando o processo anaeróbio e
acarretando em problemas ambientais resultantes da liberação de produtos com
odor desagradável.
B. Temperatura: é um fator que indica o equilíbrio biológico do processo e
permite o monitoramento e controle da temperatura das fases termófila e mesófila da
decomposição dos resíduos. O aumento da temperatura na fase termófila além dos
65°C acarreta no decréscimo da atividade bilógica. A figura a seguir mostra o perfil
típico de temperatura numa pilha de resíduo no processo de compostagem.
FIGURA 4 – PERFIL TÍPICO DE TEMPERATURA NUMA PILHA
FONTE: CARLI, 2010.
C. Umidade: para vida microbiana a água é fundamental. No geral o teor
ótimo de umidade deve ficar entre 50 e 60%. Valores de umidade acima de 65% faz
com que a água impeça a livre passagem do oxigênio, podendo aparecer zonas de
anaerobiose. Valores de umidade inferiores a 40% inibem a atividade biológica.
D. Relação Carbono/Nitrogênio (C/N): para o processo de compostagem
se manter ativo os microrganismos necessitam, além do material orgânico, uma

9
quantidade mínima de outros elementos. Dentre estes outros elementos os
principais são o carbono e o nitrogênio, um como fonte de energia para as atividades
vitais e outro como fonte para sua reprodução protoplasmática respectivamente. No
início do processo uma ótima relação de C/N é na faixa de 30/1, gerando uma boa
atividade biológica e consequentemente numa relação no final do processo de 18/1.
Desta forma a relação deve ter um equilíbrio e cujo principal objetivo é gerar
condições para fixar os nutrientes. A tabela a seguir mostra a relação C/N de alguns
materiais.
TABELA 2 – RELAÇÕES CARBONO/NITROGÊNIO
Material Relação C/N
Abacaxi-fibras 44/1 Arroz-casca e palha 39/1
Banana-talos de cachos 61/1 Cama de aviário 14/1 Esterco bovino 18/1 Esterco de aves 10/1 Grama de jardim 36/1 Laranja-bagaço 18/1 Mandioca-folhas 12/1 Mandioca-hastes 40/1
Mandioca-cascas de raízes 96/1 Serragem de madeira 865/1
FONTE: CARLI, 2010.
E. Estrutura: quanto mais fina for à partícula maior será a atividade
microbiana devido ao aumento da área superficial em contato com o oxigênio. Para
que se tenha bons resultado o tamanho das partículas deverá ser de 25 a 75mm.
F. pH: Os níveis de pH não devem ser nem muito baixos e nem muito
altos, pois reduzem ou inibem a atividade microbiana. O ideal é que o valor do pH
fique entre 6,5 e 7,5 para as atividades de fungos e bactérias na decomposição dos
resíduos.
2.4 LEIRA
A sobreposição de materiais orgânicos no formato de pirâmide é chamado
de leira. A montagem da leira é feita em camadas de aproximadamente 20cm de
altura alternando-se os diferentes tipos de resíduos. A leira deve ter dimensões de 2

10
a 4m de comprimento, 1,5 a 2m de largura e 1,2 a 1,5m de altura, conforme o
espaço disponível e, o volume total não deve ficar abaixo de 1m3, pois dificulta a
manutenção da temperatura ideal (OLIVEIRA, et al., 2005).
A figura a seguir mostra um exemplo de leira.
FIGURA 5 – EXEMPLO DE LEIRA
FONTE: GODOI, 2009.
2.5 SISTEMAS DE COMPOSTAGEM
2.5.1 Sistema de leiras revolvidas
No sistema de leiras revolvidas, em inglês chamado de windrow, os resíduos
misturados são espalhados na forma de leiras, onde a aeração proveem do
revolvimento do material e pela difusão e convecção da massa do composto. Uma
variante para este sistema é a insuflação de ar sob pressão nas leiras enquanto se
realiza o revolvimento. As figuras 6 e 7 mostram exemplos deste sistema.
FIGURA 6 – REVOLVEDOR INDUSTRIAL DE LEIRAS
FONTE: SANTOS, 2012.

11
FIGURA 7 – EXEMPLO DE SISTEMA DE LEIRAS REVOLVIDAS
FONTE: FERNANDES; SILVA, 1999.
2.5.2 Sistema de leiras estáticas aeradas
No sistema de leiras estáticas aeradas, em inglês chamado de static pile, os
resíduos misturados a serem compostados são dispostos sobre uma tubulação
perfurada que aspira ou injeta ar no material do composto, não sendo necessário
revolvimento mecânico das leiras (figura 8).
FIGURA 8 – EXEMPLO DE SISTEMA DE LEIRAS ESTÁTICAS AERADAS
FONTE: FERNANDES; SILVA, 1999.

12
2.5.3 Sistemas fechados ou reatores biológicos
Nos sistemas fechados ou reatores biológicos, em inglês chamados de In-
vessel, os resíduos são inseridos em sistemas fechados, conhecidos como
composteiros, permitindo um o controle de todos os fatores no processo de
decomposição na compostagem.
FIGURA 9 – EXEMPLO DE SISTEMA REATOR EM COMPOSTAGEM
FONTE: CARLI, 2010.
2.5.4 Vantagens e desvantagens dos sistemas
A obtenção de um bom composto não requer diretamente a utilização do
sistema com tecnologia mais sofisticada. No processo de compostagem é necessário o
bom controle e monitoramento dos fatores físico-químicos que contribuem na
decomposição, bem como a definição de proporções das combinações de resíduos
para se ter um bom composto. Em relação ao sistema ser utilizado deve se considerar
critérios econômicos e técnicos na escolha. A tabela 3 a seguir mostra as principais

13
vantagens e desvantagens de cada sistema.
TABELA 3 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS SISTEMAS
Sistema de compostagem Vantagens Desvantagens
Leiras revolvidas
1) Baixo investimento inicial; 2) Flexibilidade de processar volumes variáveis de resíduos; 3) Simplicidade de operação; 4) Uso de equipamentos simples; 5) Produção de composto homogêneo e de boa qualidade; 6) Possibilidade de rápida diminuição do teor de umidade das misturas devido ao revolvimento.
1) Maior necessidade de área, pois as leiras tem que ter pequenas dimensões e há necessidade de espaço livre para elas; 2) Problema de odor mais difícil de ser controlado, principalmente no momento do revolvimento; 3) Muito dependente do clima. Em períodos de chuva o revolvimento não pode ser feito; 4) O monitoramento da aeração deve ser mais cuidadoso para garantir a elevação da temperatura.
Leiras estáticas aeradas
1) Baixo investimento inicial; 2) Melhor controle de odores; 3) Fase de bioestabilização mais rápida que o sistema anterior; 4) Possibilidade de controle da temperatura e da aeração; 5) Melhor uso da área disponível que no sistema anterior.
1) Necessidade de bom dimensionamento do sistema de aeração e controle dos aeradores durante a compostagem; 2) Operação também influenciada pelo clima.
Compostagem em reator
1) Menor demanda de área; 2) Melhor controle do processo de compostagem; 3) Independência de agentes climáticos; 4) Facilidade para controlar odores; 5) Potencial para recuperação de energia térmica (dependendo do tipo de sistema).
1) Maior investimento inicial; 2) Dependência de sistemas mecânicos especializados, o que torna mais delicada e cara a manutenção; 3) Menor flexibilidade operacional para tratar volumes variáveis de resíduos; 4) Risco de erro difícil de ser reparado se o sistema for mal dimensionado ou a tecnologia proposta for inadequada.
FONTE: FERNANDES; SILVA, 1999.

14
2.6 VANTAGENS DA COMPOSTAGEM
A compostagem contribui principalmente na redução de lixo descartado no
meio ambiente com o aproveitamento dos resíduos orgânicos transformando-os em
fonte rica de nutrientes, Além disso, a técnica contribui também para:
Proteção do solo contra a contaminação e degradação;
Redução no uso de fertilizantes químicos na agricultura;
Melhoria nas condições de saúde e ambientais para a população.

15
3 CONCLUSÃO
A técnica de compostagem apresentada mostra-se como uma solução
prática para uma vida mais sustentável dando a destinação correta para os resíduos
orgânicos e o lodo gerado pelas estações de tratamento de efluentes transformando-
os em nutrientes na forma de adubos e fertilizantes para a agricultura.
Em um mundo globalizado técnicas como esta são imprescindíveis para que
a população atual possa satisfazer as suas necessidades sem comprometer que as
gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades.

16
REFERÊNCIAS
CARLI, Salete T. Uso de Degradadores Biológicos na Aceleração do Processo de Compostagem dos Resíduos Orgânicos Vegetais e Palhas de Embalagem – Estudo de Caso na CEASA-Curitiba. Universidade Tuiuti do Paraná, 2010. FERNANDES, Fernando; SILVA, Sandra Márcia C. P. da. Manual Prático para a Compostagem de Biossólidos. Universidade Estadual de Londrina, 1999. GODOI, Ana F. L.Processos Biológicos em Engenharia Ambiental: Compostagem. Universidade Federal do Paraná, 2009. MELO, Gabriel M. P. de; MELO, Valéria P. de; MELO, Wanderley J. de. Compostagem. Jaboticabal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2007. OLIVEIRA, Alerne M. G.; AQUINO, Adriana M.; NETO, Manoel T. de Castro. Compostagem Caseira de Lixo Orgânico Doméstico. Embrapa, 2005. SANTOS, Tônia A. P. dos. Compostagem: Aproveitamento do Lixo Orgânico. Disponível em: http://maesso.wordpress.com/2011/09/22/compostagem-aproveitamento-do-lixo-organico-2/ . Acesso em 03 nov. 2012,


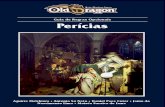





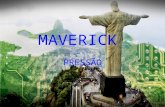
![[Zelda.com.Br] Hyrule Historia v1.0](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/55cf8d275503462b13927a9c/zeldacombr-hyrule-historia-v10.jpg)