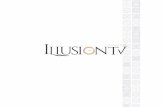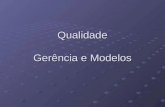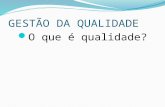Conceito de Qualidade TV
-
Upload
janderle-rabaiolli -
Category
Documents
-
view
234 -
download
10
description
Transcript of Conceito de Qualidade TV
-
85
Resumo Um dos maiores desaos tericos e polticos surgidos, a partir dos anos 1980,
como repensar as concepes tradicionais de qualidade na televiso. Com intuito de
enriquecer o debate, em nosso pas, este artigo revisita as crnicas acusaes lanadas
contra a televiso brasileira, desde os primrdios de seu uso comercial, na dcada de
1950. Minha anlise pretende salientar o contedo e os distintos campos de aplicao
dos discursos sobre TV de qualidade para muitos crticos, uma contradio em
termos.
Palavras-chave intelectuais, televiso, histria, linguagem, mercado, qualidade
Abstract One key theoretical and political challenge which has arisen in the 1980s is how
we can rethink traditional conceptions of quality in television. In order to reinvigorate
this debate in our country, I revisit in this article the chronic charges leveled against
Brazilian television since its commercial beginnings in the nineteen fties. My analysis
intends to bring into focus the content and the different elds of application of the
discourses on quality television for many critics, an oxymoron.
Key words intellectuals, television, history, language, market, quality
O surgimento de cada nova mdia visual marcado, tradicionalmente, pela ansiedade dos homens de letras quanto ao futuro de seu campo de atuao pros-sional. A lista de prognsticos agourentos e alvissareiros extensa: de um lado, a inquietao diante da desestabilizao do sistema cultural (com sua ordem hierr-quica de valores, competncias e status), o temor da fuga do pblico leitor, o receio do esvaziamento do papel legislativo e de conscincia geracional da intelligentsia
Notas histricas sobre o conceito de qualidade na crtica televisual brasileira
JOO FREIRE FILHO
-
86
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
87
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
literria; do outro, a expectativa da abertura de novos (e mais inuentes) horizontes de trabalho e de possibilidade de interveno criativa e poltica.
Todos esses sentimentos conitantes pontuam, por exemplo, a j centenria relao entre literatura e cinema (Heller 1985; Kaes 1978; Koebner 1977; Sssekind 1987). Instalado em feiras, quermesses, circos, freak shows, parques de diverses, teatros de ilusionismo, peep shows, museus e lojas de departamentos, o chamado primeiro cinema mereceu escassa ateno da intelligentsia literria. Todavia, com a expanso das salas de exibio e o incremento das tcnicas de lmagem e pro-jeo, o cinema passou a galvanizar, a partir do primeiro decnio do sculo XX, os candentes debates acerca dos perigos da modernizao ou do americanismo, conceito que compreendia praticamente todas as novidades da moderna civiliza-o de massa, desde os princpios fordistas-tayloristas de produo (mecanizao, estandardizao, racionalizao, linha de montagem) e os padres de consumo de massa da decorrentes, at as novas formas de organizao social, libertao em face da tradio, mobilidade social, democracia de massa e ascenso de um novo matriarcado (Hansen 2001).
Literatos, de distintas orientaes ideolgicas, lastimavam a criao de uma nova esfera pblica, guiada mais pelos imperativos do entretenimento do que pela lgica do esclarecimento, mutao que punha em risco a sobrevivncia dos escritores srios. Ao mesmo tempo, porm, vozes dissidentes registravam em crnicas, contos, ensaios e romances o fascnio pela paisagem tecno-industrial em gestao, com suas novas forma de percepo e sociabilidade, seus novos meios de transporte e comunicao notadamente, o cinema. A nova arte visual ingressou nos domnios literrios, de incio, como simples tema; em seguida, passou a inuir diretamente na tcnica literria, sob o signo do mimetismo, da analogia; com a prosa modernista, houve, anal, a tentativa de reelaborar criticamente a inuncia da linguagem cinematogrca, resultando na formulao de novas tcnicas literrias (narrativas paralelas, cortes, montagens descontnuas) (Cohen 1979; Lara 1983; Spiegel 1975; Sssekind 1987).
Fosse por adaptar clssicos romances do sculo XVIII e XIX, franqueando o acesso cultura literria, fosse por inuenciar expoentes da co moderna, o cinema logrou superar o estigma de sua origem plebia convenceu boa parte da elite letrada de seu potencial cultural, e arregimentou a colaborao de escritores prestigiosos, na confeco de argumentos e roteiros. Mais: enaltecido como stima arte, o cinema conseguiu, pouco a pouco, o reconhecimento da especicidade e do mrito de sua linguagem, cujos critrios de avaliao deixaram de ser pautados, obrigatoriamente, pela fortuna crtica da literatura e do teatro burgus. A partir da
Segunda Guerra Mundial, o carter especializado da teoria cinematogrca ganhou relevo, em nvel internacional, com a formulao e difuso de um vocabulrio pr-prio e de diversos paradigmas interpretativos (Casetti 1994: 9-29).
Sucessora do cinema como objeto de escrutnio intelectual, a televiso ainda est distante de tal credibilidade crtica e legitimao terica como disciplina de aprendizagem e investigao formal. Corriqueira quando da implantao do novo dispositivo audiovisual, nos idos de 1940 e 50, a expresso oitava arte raramente proferida, hoje em dia. Impera, entre a maioria dos observadores supostamente abalizados, a crena (tcita ou explcita) na incompatibilidade (de gnios) entre TV e cultura. A despeito de alguns insights esclarecedores, esses escritos cannicos a respeito da televiso incidem, em regra, numa falta grave: tendem a preferir a crtica impetuosa e a condenao moral pesquisa sistemtica e reexo terica.
Com este ensaio, almejo contribuir, de alguma forma, para alterar o quadro de desinformao histrica e indigncia conceitual que norteia as (cclicas) pol-micas acerca do nvel do meio de comunicao de maior penetrao popular no Brasil. Meu estudo procura compatibilizar uma sucinta biograa cultural de nossa televiso, com uma reexo terica acerca da elusiva noo de TV de qualidade expresso que, para alguns, tem inelutvel sabor de oximoro.
A MAIS NOVA FORMA DE EXPRESSO ARTSTICA
A chegada da televiso, em nossas terras, foi adornada por vatcinios auspi-ciosos a propsito da aliana entre o mgico invento da transmisso do som e da imagem conjugados e o universo da Cultura com C maisculo (comumente associado grande arte e ao produto nal de todo um processo de renamento esttico, intelectual e espiritual). Os eventos inaugurais se incumbiram de celebrar, comme il fault, o notvel encontro de almas entre a prodigiosa conquista tcnica e o mundo das artes: em 18 de setembro de 1950, ligando intimamente o novo e poderoso instrumento de cultura poesia, paraninfou a cerimnia de lanamento ocial da estao paulista PRF-3-TV a poeta Rosalina Coelho Lisboa Larragoiti A sua orao foi, em tudo, uma pea que o seu talento privilegiado e a sua altssima inspirao compuseram para signicar o acontecimento na cena cultural do Brasil (A madrinha da PRF-3-TV. Dirio de So Paulo, 19.09.1950: capa).
O show de abertura principiou com uma viso dos Dirios Associados, da Emis-soras Associadas e do Museu de Arte de So Paulo (fundado por Assis Chateaubriand, em 1947); passeando por telas de El Greco e Portinari, as cmeras tomaram verti-calmente a torre do edifcio-sede do Banco do Estado de So Paulo (instituio a
-
88
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
89
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
quem se atribui um apoio nanceiro velado iniciativa de Chateaubriand, e onde se erguera a antena de transmisso da primeira emissora da Amrica Latina). Coube locuo de Homero Silva explicar o simbolismo das imagens que se sucediam (En-tra denitivamente o Brasil na Era da Televiso. Dirio de So Paulo, 17.09.1950: 16). Ignoro as palavras usadas pelo amvel cicerone; no difcil, contudo, apreen-der a dimenso simblica daquelas cenas histricas: tratava-se de uma harmoniosa celebrao do capital cultural e do capital econmico, num contexto em que se intensicavam, de modo substancial, os investimentos de grande empresrios, no campo da cultura artstica e da cultura de mercado (Ortiz 1988: 66-72).
Durante os festejos das novas atividades das Emissoras Associadas, autorida-des civis e militares, personalidades de relevo dos nossos meios sociais e artsticos desfrutaram, ainda, da oportunidade de ouvir, pela primeira vez, a Cano da TV, escrita pelo Prncipe dos Poetas Guilherme de Almeida e pelo maestro Marcelo Tupinamb (Ser entregue ocialmente ao pblico paulista a estao televisora das Emissoras Associadas. Dirio de So Paulo, 16.09.1950: 13). Em seu aguardado discurso, aps os agradecimentos de praxe aos grupos e s empresas que auxiliaram na concretizao do sonho de uma TV brasileira, Assis Chateaubriand ponticou: Conheceis o nico motor que nos conduz: elevar cada vez mais os nveis de cul-tura e de civilizao da nossa terra e nossa gente (O sinal da televiso no cu de Piratininga. Dirio de So Paulo, 19.09.1950: 2).
Transcorrido pouco menos de um ano do aparecimento da TV, artistas de re-nome faziam-lhe declaraes pblicas de amor primeira vista: O campo novo e fascinante e tenho impresso de que sou uma espcie de bandeira de uma arte (Uma estrela no vdeo Fernanda Montenegro e sua presena na TV Tupi, a pioneira da oitava arte na Amrica do Sul. O Cruzeiro, 18.08.1951: 59-60). Nas pginas da imprensa, eram elucidados, de forma bastante didtica, os mistrios da arte televi-sionada, como a importncia da msica e das tcnicas especcas de maquilagem (ver, por exemplo, A televiso na Amrica do Sul. O Cruzeiro, 22.07.1950: 91-95; Televiso a transmisso maravilhosa do som e da imagem conjugada. Dirio da Noite, 13.09.1950: 3; Inaugurada ontem em So Paulo a principal estao de tele-viso da Amrica do Sul. Dirio da Noite, 19.09.1950: 3; A televiso para milhes. O Cruzeiro, 28.10.1950: 37-40)
Algum, decerto, pode objetar que as matrias laudatrias supracitadas so altamente suspeitas anal, foram difundidas pelo conglomerado jornalstico capitaneado por Chateaubriand. Todavia, possvel coletar, em fontes menos duvi-dosas, prognsticos igualmente alvissareiros acerca da possvel emergncia de uma alta cultura do vdeo (enraizada nos paradigmas historicamente legitimados da
grande arte ou fomentada por uma pesquisa laboriosa sobre a linguagem especca da televiso).
O otimismo das primeiras especulaes e teses acerca do mais poderoso ve-culo de divulgao do mundo moderno surpreende, por exemplo, quem percorre a coleo do Jornal de Letras1. A partir de 1956, o peridico passou a publicar, com assiduidade variada, notcias breves e consideraes mais abrangentes e sistemticas sobre a TV. Debatiam-se as qualidades intrnsecas e possibilidades de criao da mais nova expresso artstica seu papel na difuso do livro, sua consolidao como novo e estimulante mercado de trabalho para o literato. As tentativas de si-tuar a televiso no mundo das artes culminaram num poema de ndole modernista, escrito pelo jornalista e poeta Dermival Costa Lima, primeiro diretor-artstico da Tupi carioca (Elegia do camera-man. TV-Poema, julho de 1960: 12).
A maior esperana do jornal era que a oitava arte (com seus teleteatros, suas conferncias e seus debates literrios) pudesse exercer inuncia positiva sobre o rdio, o cinema e o teatro nacional; da rivalidade entre as formas de expresso cultural, decorreria, naturalmente, uma elevao generalizada do padro artstico. Alm de oferecer uma sada para os apertos nanceiros oriundos da falta de um mercado editorial consistente no pas, a nascente indstria televisiva gurava, no imaginrio da repblica das letras, como o campo menos cerrado ao exerccio de sua direo e liderana intelectual, j que o rdio abandonara, de vez, a proposta pedaggica e cultural dos primeiros tempos, e o cinema e o teatro (identicados, principalmente, com a chanchada e a revista) se moviam orientados unicamente pelos critrios mercadolgicos do gosto.
Tomado de grande entusiasmo, o Jornal de Letras divulgava as iniciativas para dar maior aproveitamento literrio s possibilidades da televiso. Um exemplo egrgio: A Histria da Semana, que levava ao pequeno cran contos, crni-cas e novelas que, pela sua natureza, se prestassem adaptao por meio da imagem (Televiso e literatura. Outubro de 1956: 2). Digno de aplausos era, tambm, o TV de Vanguarda. O programa quinzenal conduzido pelo mestre Cassiano Gabus Mendes, nas noites de domingo, se constitua numa das mais srias e honestas pesquisas de uma linguagem especicamente de TV (Jornal de Letras, Notcias do Pas, julho-agosto de 1960: 3). Lanado em 1952, pela Tupi, permaneceu no ar at 1967, apresentando, ao todo, 400 espetculos (Porto e Silva 1981).
1. Mensrio criado em 1949 no Rio de Janeiro por Elysio, Joo e Jos Cond. Integraram seu corpo de redatores e seu conselho scal expoentes da arte e da crtica literria: Brito Broca, Alvaro Lins, Carlos Drummond de Andrade, Jos Lins do Rego, Manuel Bandeira, entre outros.
-
90
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
91
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
Um dos triunfos mais marcante da histria do TV de Vanguarda foi a transpo-sio, para o vdeo, do romance Calunga, de Jorge de Lima. Guilherme de Almeida no escondeu sua empolgao com o espetculo oferecido pelo teleteatro:
Uma naturalidade (como difcil ser natural) interpretativa, de jogo cnico, dialogao e
dico, que o nosso teatro ainda no conseguiu. Uma sntese dramtica, uma continuidade e uma iluminao que o nosso cinema nunca alcanou. Uma tcnica de som (fundo musical, arte dos rudos, transmisso vocal etc.) de que o nosso rdio se pode plenamente orgulhar. (....) [E]sto a armar e provar que j existe, no Brasil, uma arte de vanguarda. Calunga o seu porta-estandarte. (Ontem, hoje, amanh. Dirio de So Paulo, 08.03.1956: 7)
Diante de tantos exemplos alvissareiros, como dar crdito aos sombrios prog-nsticos de que a popularidade da TV sepultaria o hbito da leitura? Tanto nos Estados Unidos como na Gr-Bretanha, o que se vericava era que a televiso, pelo contrrio, atuava como estimulante da leitura: A primeira coisa que um telespecta-dor quer fazer, depois de assistir adaptao videoteatral de um romance, ler esse romance, caso j no o tenha feito. (A televiso no matou o hbito da leitura. Jornal de Letras, agosto de 1961: 9).
Os elogios s aberturas da TV para a cultura literria como a encenao, em 16 captulos, da novela Helena, na TV-Rio no impediam que articulistas do Jornal de Letras apontassem as limitaes do veculo para converter em imagens a originalidade e o renamento da sintaxe de certos textos:
No Dom Casmurro, talhado para o cinema, situado muito alm dos recursos possveis na TV, no Memrias pstumas de Brs Cubas, cuja fragmentao (perfeita no romance) impede, salvo graves e fundas alteraes, a seqncia que o gnero exige. simplesmente Helena, uma histria singela, humana, tendo os indispensveis elementos melodramticos, dosados com segurana e perdoem o lugar-comum inconfudivelmente machadiana. (Machado de Assis, novelista de TV. Fevereiro-maro de 1959: 11.)
Decifrar e tornar proveitosa a linguagem especca da TV era, a propsito, uma idia xa da redao do Jornal de Letras. Com intuito de sistematizar a pesquisa e a discusso, Eliseo Cond solicitou ao dramaturgo, ator, autor e diretor de TV Pricles Leal que reproduzisse o curso de Esttica da Televiso, ministrado nas novas estaes das Emissoras Associadas, em 1959. O convite resultou numa srie de oito extensos e curiosos ensaios, que contemplavam todas as facetas da arte pela imagem, mobi-lizando referncias bibliogrcas clssicas sobre cinema e esttica.
A maioria dos estudiosos lastimou Pricles Leal preocupava-se apenas com o fator social do aparecimento da TV; outros, com o sentido puramente educacional.
Considerada como veculo, ela se constitua, em realidade, numa manifestao ar-tstica, com identidade prpria. Do mesmo modo que no se admitia que o cinema fosse teatro lmado, tambm no se podia aceitar o papel subalterno conferido televiso. Algo da gramtica da oitava arte devia, de fato, sua predecessora; a anidade, contudo era mais de ordem mecnica que esttica nem mesmo o vdeo-tape (implantado no incio dos anos 60) era capaz de roubar TV sua fora pura.
Transcorridos, no entanto, dez anos, desde o lanamento da televiso no Brasil, ainda predominava um certo medo de armar sua autonomia ante as artes corre-latas. Leal era particularmente enftico, ao renegar todo e qualquer parentesco da TV com o teatro e o cinema nacionais: Se alguma ligao necessitssemos (toda ligao, neste caso, inconveniente), salientou o autor, procuraramos com a literatura brasileira que, com honestidade e coragem social, compensa suas limitaes de tradio com sua identicao com os problemas e as paisagens do pas. (A televiso como forma de expresso artstica (III) Como escrever para televiso. Outubro de 1960: 7). Era misso do Realizador em que repousa toda a responsabilidade da mensagem da obra de arte na TV, em sua trplice mister de autor (ou adaptador), diretor e produtor fazer com que ela no fosse apenas til (informao, veculo de vendas etc.), mas fonte de prazer esttico, obra de criao artstica. Como isso era possvel? Tendo-se perfeito domnio das leis e dos valores estticos da linguagem visual, suas restries e suas possibilidades:
(...) [O] conhecimento da linguagem da TV dota o Realizador da capacidade de levar sua mensagem ao pblico e atingi-lo na medida exata do ideal Kantiano: produzindo em quem os contempla a impresso de que foram criados sem inteno, semelhana da natureza. Dessa perfeita unio entre criador e criatura, realizador e matria, ser feita a televiso como arte (Te-leviso: sua linguagem. Setembro de 1960: 11).
O fator social da recompensa, da posterioridade, nada disso deveria preocupar o Realizador, no momento mais puro da criao. O que importava era produzir beleza, uma narrao mais perfeita e bem acabada possvel (Iniciao televiso. Julho-agosto de 1960: 3).2
Era necessrio, obviamente, um ciclpico esforo de imaginao para invocar as categorias da esttica kantiana numa anlise da TV comercial, mesmo na fase tradicionalmente classicada de elitista pelos historiadores. Devido ao fato de, entre 1950 e 1964, o televisor ser um bem de consumo circunscrito parcela mais
2. Os artigos publicados por Leal, no Jornal de Letras, foram coligados, posteriormente, em Iniciao televiso (1964) salvo engano, a primeira obra do gnero lanada no Brasil.
-
92
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
93
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
abonada da populao, costuma-se idealizar o perl cultural da programao do perodo. Concorre, decerto, para esse juzo enganoso, alm da memria seletiva dos pioneiros, a teima de certos estudiosos em confundir capital econmico e capital cultural, na hora de inferir o gosto da audincia. Nem s de teleteatros, pera e bal era feita a televiso da era dourada (conceito to problemtico quanto mun-dialmente difundido). Pululavam no vdeo, tambm, atraes menos requintadas, afastadas do universo da "Cultura com C maisculo" (classicamente associado grande arte e ao produto nal de um processo de renamento esttico, intelectual e espiritual), e bem mais anadas com a tradio ldico-festiva dos entretenimen-tos populares: Al, Doura (o mais romntico programa da televiso); O Direito e a Mulher (um jri para a defesa dos problemas emocionais femininos); Kedley e Voc (verso do americano Esta a sua vida); Mesa Redonda do Vdeo (programa de debates sobre assuntos de interesse pblico que emocionou a cidade, na sua estria, em fevereiro de 1952, ao trazer para a tela crianas aleijadas e o seu arrimo, a muleta); Matutino Tupi (que atestou o poderio e o alcance das ondas da Tupi, ao promover, em fevereiro de 1953, o reencontro de um lho com o pai, vinte anos depois deste o ter enjeitado numa creche); um cardpio variado de telenovelas (meros apndices de originais radiofnicos, estendiam canteiros de ores na rotina de espinhos de cada dia); Tribunal do Corao (jri popular sui generis no qual, quatro vezes por semana, entravam em julgamento chamas que tecem o mundo dos conitos sentimentais); Martin Dole, Detetive (novela policial sensacionalista que, com violncia no duro, socos, tiros e metralhadoras despejando fogo, atraia grandes multides, todos os sbados, de maro at agosto de 1954). Futebol, Circo Bom-Brill e Amaral Neto Comentando eram, nesta ordem, as maiores audincias de setembro de 1955, consoante o IBOPE3.
A TV no poderia escapar fatalmente, nos termos de O Cruzeiro da regra dos shows de brindes e prmios, testada com sucesso no rdio. Surgiu, ento, na TV Tupi do Rio, em maio de 1954, Divertimentos Ducal, programa de perguntas e respostas que conseguiu pela primeiro vez, no Brasil arregimentar advogados, engenheiros, mdicos, ociais das classes armadas e outras prosses de nvel su-perior (Divertimentos Ducal. O Cruzeiro, 01.05.1954: 36). Depois de assistir, por mera casualidade, a uma edio do rival O Cu o Limite, dedicada vida e obra de Balzac, o crtico literrio e tradutor Paulo Rnai caoou do propalado efeito educativo dos quiz shows; uma sondagem efetuada entre seus alunos do curso
ginasial e clssico raticara a melanclica, embora esperada concluso: ningum, entre as centenas de jovens que haviam acompanhado a atrao com entusiasmo comovedor, tivera despertada a curiosidade de ler algum livro do tal escritor francs (Balzac na TV. Dirio de Notcias, Letras e Artes, 14.10.1956: 2).
A lgica gozosa do espetculo televisivo produzia ramicaes por toda grade de programao de cima a baixo. Programas de bal e pera se rendiam lingua-gem ldico-afetiva do novo meio em termos da escolha dos textos, da durao das apresentaes e da telegenia do casting. Na noite de 8 de junho de 1954, por exemplo, Madame Buttery, de Puccini, com adaptao cnica de Pricles Leal, deu incio aos Grandes Momentos Lricos, da TV Tupi, de So Paulo. A exemplo dos teles-pectadores norte-americanos e ingleses, os paulistas poderiam ouvir, em suas casas, rias imortais do bel-canto. A m de garantir o sucesso da empreitada, a narrao do programa suprimiu as partes longas e enfadonhas, e descartou prima-donas balofas e tenores baixotes (pera na televiso. O Cruzeiro, 07.08.1954: 24.). As liberdades tomadas pela TV, em seu contato com grandes artes, eram avaliadas, com naturalidade, nas pginas de O Cruzeiro; em outros rgos de imprensa, porm, a conversa era diferente: o crtico teatral Sbato Magaldi, por exemplo, foi implacvel com a irresponsabilidade dos adaptadores que, com inteira serenidade, ampu-tavam os clssicos da dramaturgia mundial, reduzindo sua montagem de trs para uma hora, sem contar os anncios. A soluo para conter tamanha trivializao da cultura? No permitir, em hiptese nenhuma, que peas escritas para o palco fos-sem mutiladas na TV (Estado de S. Paulo, Suplemento Literrio, 13.07.1957: 5).
Mesmo os programas mais prestigiosos no estavam livres de demandas e presses implacveis dos patrocinadores. Em janeiro de 1957, um anunciante de-terminou TV-Rio que cancelasse seu apoio publicitrio ao aclamado A Histria da Semana. A razo da birra, segundo o Correio da Manh, era deliciosa: o homem queria um breque no texto de Carlos Drummond de Andrade, para entre moa, or e telefone, cantar loas ao seu estabelecimento. E, convenhamos, era demais querer criar breque em texto do poeta Drummond, sem mais aquela... (Rdio e TV, 08.01.1957: 12). O jornal carioca repisou o tema, 15 dias depois, deplorando que uma das atraes mais elogiveis da TV no encontrasse novo patrocinador: Ser possvel que se gaste dinheiro com tanta baboseira e no se queira amparar um teleteatro to bem feito, base de originais to bem selecionados? (Rdio e TV, 23.01.1957: 12).
J no incio dos anos 60, o prprio Jornal de Letras dava os primeiros sinais de desconsolo com a programao efetivamente levada ao ar por nossas emissoras. A presena macia e criminosa de lmes norte-americanos, no horrio outrora
3. As informaes e os comentrios sobre a programao foram recolhidas nas pginas de O Cruzeiro, ao longo da dcada de 50.
-
94
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
95
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
reservados aos programas ao vivo, despontava como um obstculo caminhada da televiso rumo maioridade lingstica:
A TV, a, apenas um veculo, apenas a mquina, o invento, a maravilha da eletrnica do s-culo XX, ou outro qualquer lugar comum que se lhe queira chamar. Anula-se a sua fora intrnseca, tira-se-lhe seu carter autnomo, sua prpria vida. E condenam-na morte ou apenas a ocupar um lugar entre, as comunicaes (como, alis, a TV catalogada na burocracia ocial). (Denncia: Filmes Americanos para a TV. Jornal de Letras, setembro de 1960: 2)
Dermival Costa Lima o supracitado poeta e diretor da Tupi carioca indicou a sada para conter a avalanche de produes estrangeiras que ameaava sufocar sua musa inspiradora: Devemos nos voltar para os temas da terra. Escrever histrias prprias e especialmente para a TV, usando sua linguagem. Procurar bons romancis-tas brasileiros e adaptar suas obras para a televiso (Jornal de Letras, Notcias do Pas, setembro de 1960: 12). Outros descontentes com os descaminhos da televiso comercial ansiavam pelo desembarque, em nosso pas, do sistema norte-americano de Pay TV, uma organizao com a nalidade de produzir programas de melhor nvel artstico, espetculos que no sejam supervisionados pelas agncias de publi-cidade que insistem em s almejar atingir um pblico fcil e de resultado imediato (Pay TV: a televiso liberta dos anunciantes. Jornal de Letras, outubro de 1960: 7). Ren Clair se inclua entre os que festejavam a possibilidade de uma alternativa revolucionria TV estatal (fatalmente pobre) e TV comercial (abandonada a pessoas que s pensam em vender um produto qualquer): descartando as no-menclaturas mais usuais, como Toll TV ou Pay TV, o cineasta francs denominou TV livre a soluo que modicaria radicalmente a concepo, a qualidade e a rentabilidade da programao televisiva. Tratava-se, na concepo do autor, de uma cadeia adicional, especialmente incumbida de transmitir grandes espetculos custosos, diretamente adquiridos pelos telespectadores (Jornal do Brasil, Revista de Domingo, 26.10.1958: 8)
Em sua coluna Rdio e TV, no Jornal de Letras, Walter Alves tornava patente que o grco dos sentimentos provocados pelo novo dispositivo audiovisual decli-nava, ms a ms, do entusiasmo ao asco. Enquanto, em todos os pases do mundo, a TV arregimentara diretores, roteiristas e produtores de cinema, a nossa lastimou o crtico se conservava desgraadamente el ao rdio. Ambos eram veculos, no formas de arte; s tinham valor quando utilizavam uma das artes verdadeiras: a msica, o teatro, o cinema, o ballet e a pantomima. Uma aliana, de resto, pouco freqente a programao primava pela vacuidade, pelo mercenarismo, pela falta de decncia, pela inculcao premeditada de valores alienatrios e aliengenas
(Balburdia dirigida, dezembro de 1962: 7 e 10). Um matutino carioca noticiara o nmero de amputaes ocorridas, na Gr-Bretanha, em vtimas da televiso, imobilizadas no s intelectualmente como sicamente: A posio nica para se ver TV sentado provocou inmeros distrbios em pessoas, chegando-se ao ex-tremo da interveno cirrgica. Aqui, tais operaes no haviam sido necessrias ainda: Cuida-se, por enquanto, em amputar a lucidez, em extirpar o bom gosto. (Embrutecimento pela imagem, maio de 1962: 8). Para desfazer essa inverso de valores (herana do pervertido sistema comercial de radiodifuso norte-americano), a nica sada era a interveno estatal.
TELEVISO, SUBCULTURA A SERVIO DA ALIENAO
Com o golpe militar de 1964, o olhar governamental sobre as telecomunicaes se tornou, de fato, mais vigilante. Encarada como estratgica para a consecuo do projeto nacional exposto na Doutrina da Escola Superior de Guerra (Oliveira 2001), a indstria televisiva teve o seu crescimento incentivado por meio de subsdios diretos e da construo de uma estrutura nacional de telecomunicaes; paralelamente, eram criadas organizaes estatais que almejavam manter a produo televisiva sob controle. O resultado da interferncia estatal no foi, todavia, propriamente o almejado pela crtica ilustrada: com a reduo do preo e a ampliao do cre-dirio, o nmero de televisores em uso no pas saltou de menos de 2 milhes, em 1964, para 4 milhes, em 1969, e 5 milhes, em 1970 (Jambeiro 2001: 81); a m de sintonizar-se com as preferncias do novo pblico das classes C e D, as emissoras investiram numa linha de programao cada vez mais popular (ou popularesca, como preferia denominar a crtica).
Expressando uma posio que se tornava mais ou menos cannica, o jornalista e escritor Fausto Wolff armou, nos Cadernos Brasileiros (TV o riso universal, maro-abril de 1967: 15-24), que Ajude a bestializar o Brasil constitua o lema da televiso, e que o carro-chefe dessa campanha era, sem dvida, a novela detur-pao de um gnero literrio outrora praticado por nomes como Dickens, Victor Hugo e Dostoivski. Aliados a outras armas de embotamento coletivo (alguns enlatados e a maioria dos programas humorsticos), O Direito de Nascer e outros bestialgicos fabricavam abobalhados, com a preciso de um relgio suo. S mesmo necessidades nanceiras prementes podiam sujeitar a classe artstica a vul-garizar seu talento com textos to convencionais e alienantes.
Quem abrisse o Jornal do Brasil, na manh de 16 de junho de 1968, era atemorizado por mais uma extensa reportagem sobre os poderes luciferinos da
-
96
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
97
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
televiso: Fbrica de psicopatas, segundos os psiquiatras, e transmissora de sub-cultura, vendida como bem de consumo, segundo os socilogos, a TV carioca est ameaando de entorpecimento e alienao total cerca de 2 milhes de pessoas que a vem diariamente.... O aparato audiovisual preveniu o psiquiatra e psicanalista Leo Cabernite ( poca, presidente da Sociedade de Grupoterapia Analtica do Rio de Janeiro e chefe do Ambulatrio de Higiene Mental do Hospital Miguel Couto) estava tornando-se a nova bolinha; seu vcio comeava a criar o problema da dependncia fsica. Aps acentuar a pssima qualidade da programao (uma verdadeira regresso ao po e circo), Cabernite alertou que, a continuar daquela maneira, em bem pouco tempo a nossa televiso poderia transformar-se numa imensa e eciente fbrica de psicopatas. Para reverter esse processo, era preciso, primeiro, uma competente legislao; depois, uma competente polcia sanitria que garantisse o cumprimento da lei.
Por razes mercadolgicas, o TV de vanguarda e outras atraes que davam legitimidade cultural ao meio de comunicao de massa haviam sado da ribalta televisiva; em junho de 1968, a lista das dez maiores audincias do Ibope (o grande ditador de programao) era composta por novelas, por programas de auditrios e pelo Tele Catch. Dos cerca de 2 milhes de telespectadores colados diariamente aos 600 mil aparelhos ligados no Rio de Janeiro, 1 milho e 400 mil eram pobres ou muito pobres (favelados), informou o JB (Televiso, subcultura a servio da aliena-o, Caderno B: 3). O telespectador de nvel cultural mais elevado e maior poder aquisitivo sentia-se, nas palavras do autor da matria, relegado e agredido pela linha de programao vigente; em protesto, conservava o aparelho de TV geralmente desligado (40% do total). Uma rpida pesquisa revelava o que esse "esquadro dissidente" formado por jovens universitrios, intelectuais e em geral o setor instrudo da classe mdia esperava do veculo: shows bem feitos de msica popular, sem a imposio de dolos, documentrios e lmes de bom nvel, telejornais que exploram mais a imagem dos fatos, e debates polticos livres.
Mas a mar favorecia mesmo os comunicadores de massa e os programas alcunhados pela imprensa de mundo co: Mendigos, indigentes, loucos, vicia-dos, casais desajustados, ladres. O desle se repete h 4 anos no Rio e So Paulo para uma platia que o IBOPE revela ser el, deplorou Veja (Mundo co, no, 25.09.1968: 76). A revista ocializava, com a reportagem, seu apoio campanha contra o grotesco na TV organizada, no Rio de Janeiro, pela ltima Hora. Eli Hal-foun, colunista de TV do jornal, descera seguidamente a lenha nos programas que conseguiam audincia custa da explorao gratuita da misria, do analfabetismo, do subdesenvolvimento. A plataforma do crtico no era a defesa de uma tele-
viso cultural; contentava-se, apenas, com uma televiso sadia, desocupada de atraes que abusavam da boa-f do pblico, como Desao Bondade (TV Tupi), SOS Amor (TV Globo), Casamento na TV (TV Globo), Dercy de Verdade (TV Globo) e o infame entre os infames, O Homem do Sapato Branco (TV Globo). Para isso, esperava contar com a pronta e vigorosa colaborao do Juizado de Menores e do CONTEL (Conselho Nacional de Telecomunicaes, rgo hoje extinto). Finalizada a srie de cinco artigos, Halfoun recebeu a solidariedade de Danton Jobim (presidente da Associao Brasileira de Imprensa e diretor da UH), que pediu ao governo que cen-surasse a televiso-espetculo (O grotesco na TV, 05.09.1968: 3; 06.09.1968: 5; 09.09.1968: 7; 10.09.1968: 5; 11.09.1968: 5).
Em meio a este lgubre cenrio, o incio do funcionamento, em julho de 1969, da TV Cultura de So Paulo acendia velhas esperanas em alguns coraes:
Quarenta anos depois da inveno da televiso e dezenove desde sua chegada ao Brasil, surge algo de novo no vdeo: cultura. Quando, numa noite de 1950, o frade cantor Jos Mojica, ex-gal do cinema mexicano, sob o alto patrocnio da goiabada marca Peixe, preencheu com uma hora seguida de bolero o primeiro programa de TV no Brasil, havia em So Paulo, onde se deu a estria, menos de 500 residncias com aparelhos de TV. Esse pblico deslumbrado e dcil cresceu muito nos dezenove anos seguintes. E, do mexicano Mojica ao pernambucano Chacrinha, tornou-se el escravo e grande fonte de lucros de um nico senhor: a TV comercial. Mas a partir desta semana ele j pode escolher algo mais instrutivo (O show a cultura. Veja, 18.06.1968: 56).
De forma sintomtica, a reportagem faz questo de reprisar a lendria pr-estria da TV no Brasil, sempre evocada, por historiadores e crticos, quando se tenciona frisar os paradoxos estruturais da introduo do veculo, num pas sub-desenvolvido. Como contraponto fancaria e ao dramalho, a Cultura prometia, de sada, uma reportagem sobre como viviam e trabalhavam pintores da frica, do Canad e do Brasil, cenas da pea Yerma, de Garca Lorca, dirigida por Ziembinski, e meia hora de sonatas de Beethoven, apresentadas pelos melhores intrpretes do mestre alemo (a propsito, estava terminantemente proibido o uso de cascatas, crepsculos e praias enluaradas com casais romnticos, para ilustrar os programas de msica erudita). Embora um tero da programao fosse dedicado a aulas e cursos, Cludio Petraglia, responsvel pelo setor cultural do canal 2, lanou, nos primeiros dias da organizao, uma campanha que institua multa para qualquer um da equipe (desde os diretores at os serventes) que, por engano, trocasse o nome da emissora, chamando-a de TV Educativa nomenclatura cuja solenidade res-tringiria o interesse popular pela programao da TV pblica (O show a cultura. Veja, 18.06.1969: 56-58).
-
98
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
99
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
O acirramento da dominical guerra de audincia (a expresso data dessa po-ca) entre Chacrinha e Flvio Cavalcanti monopolizava, porm, a ateno do teles-pectadores, ocasionando sucessivas celeumas. Em setembro de 1971, a clebre per-formance, nos estdios da Globo e da Tupi, da me-de-santo Dona Cacilda de Assis (que dizia receber o esprito do Seu Sete da Lira, um exu da Umbanda) constrangeu o Estado, as entidades religiosas catlicas e as emissoras a uma clere tomada de posio. O ministro da Comunicao, Hygino Corsetti, chegou a ventilar a hiptese de cassar a concesso das emissoras que insistissem com o sensacionalismo e a baixaria; no nal, limitou-se a anunciar que o governo pretendia acabar com as transmisses ao vivo na televiso brasileira (com ou sem a presena de pblico no auditrio), e que seria nomeada uma comisso interministerial com responsabilidade de xar, no prazo de um ms, normas de condutas para as emissoras. Ficava claro, ento, que o conceito de qualidade televisiva, para o regime militar, estava atrela-do adequao do uso poltico do meio, no sentido do fortalecimentos dos laos culturais e sociais do pas e da fomentao da identidade nacional; a interveno direta, nas polticas de programao das emissoras, se congurava em corretor dos desvios da concorrncia mercadolgica (Jambeiro 2001: 75-107; Oliveira 2001).
Antecipando-se s medidas punitivas governamentais, Globo e Tupi assinaram um protocolo de autocensura cuja validade se estenderia at a entrada em vigor do Cdigo de tica da Televiso Brasileira, em estudos na rea federal. O discurso dos executivos das duas televises esteve anado: Jos Almeida Castro, da Tupi, armou que o objetivo das emissoras era competir arduamente pela salvao da televiso comercial; Walter Clark, da Globo, frisou que o acordo visava, sobretudo, a contribuir de forma decisiva para a cultura popular e salvar a livre iniciativa da televiso brasileira; nalmente, o diretor da Central Globo de Produes, Jos Bonifcio de Oliveira Sobrinho, o Boni, assegurou que o compromisso de eliminar os espetculos de mau gosto permitiria que se impusesse uma nova mentalidade aos programas de nvel popular (Censura ameaa, televiso muda. O Estado de S. Paulo, 03.09.1971: 4; TVs assinam acordo contra o mau gosto. Jornal do Brasil, 03.09.1971: 1; TVs rmam protocolo contra show de baixo nvel. Jornal do Bra-sil, 03.09.1971: 12; Diretor da Globo anuncia outra mentalidade na TV. Jornal do Brasil, 04.09.1971: 7).
Mas, o que queriam, anal, os iracundos opositores da televiso brasileira?, questionava Nelson Rodrigues, em sua clebre coluna em O Globo. Uma TV anti-pblico, igualzinha Rdio MEC, solitria, despovoada, abandonada prpria sorte? (Rodrigues [13.09.1971] 1996: 233). Numa linha de argumentao bas-tante familiar entre os empresrios das indstrias culturais, Nelson costumava
armar que nossa televiso era o espelho de nosso povo (Eu sou um ex-covarde. Veja, 04.06.1969: 5). Aos radicais que, seguindo o ministro Corsetti, repetiam a ladainha Precisamos mudar a televiso, Nelson replicava que mais correto e inteligente seria mudar o povo: Em vez de fazer severas restries TV, sua excelncia devia endere-las ao povo. E, ento, chegaramos a essa contingn-cia realmente constrangedora: substituir um povo por outro povo (Rodrigues [13.09.1971] 1996: 234).
Nelson j fazia parte da histria da televiso brasileira quando se manifestou, de forma enftica, em sua defesa (Freire Filho 2003: 113). Sua perspectiva crtica diferia das posies tradicionais a respeito do papel e da inuncia da mdia mo-derna. Ele concordava que a televiso brasileira era de um mau gosto profundo, reexo, por sua vez, do mau gosto da multido insensvel ou refratria Cultura; no via, porm, nenhum mal nisso seja do ponto de vista moral, poltico ou esttico. O cronista reagiu, com veemncia, por exemplo, contra a ditadura do Juizado de Menores que escorraara as novelas do horrio nobre para as onze horas da noite. Do ponto de vista psicolgico argumentou era uma asneira imaginar que os folhetins pudessem produzir uma gerao de perigosssimos gangsters juvenis. Pelo contrrio: o efeito catrtico lhes conferia o salutar papel de higienizador mental. Do ponto de vista esttico, ironizou que chegava a ser sublime a idia de impor o bom gosto a pauladas. Do ponto de vista poltico, Nelson atribua diculdade de respeitar e compreender o gosto popular (Chacrinha, escola de samba, Fla-Flu, sexo) uma das principais razes do fracasso das esquerdas no Brasil, mais solit-rias, mais insuladas do que um Robinson Cruso sem radinho de pilha (Rodrigues [27.01.1968] 1993: 120).
Nunca demais lembrar que, nos anos 1960, seduzidos pela possibilidade de falar s grandes massas, artistas de esquerda se dispuseram, sim, a deixar os pre-conceitos de lado, e tentar modicar a televiso, atuando estrategicamente dentro dela, sobretudo no campo da teledramaturgia (Ortiz 1988; Ortiz et al. 1989; Ridenti 2000). Dias Gomes desponta, nessa conjuntura, como o melhor exemplo de tentativa de ajuste de um esquema dramtico realista ao gosto popular (Freire Filho 2003: 115-118). Sem emprego e com as peas O Bero do Heri e A Invaso interditadas, aceitou o convite da Rede Globo, em 1969, para escrever telenovelas, ao lado de Janete Clair. A idia de levar sua temtica teatral a uma platia gigantesca a mais heterognea que j tivera, composta de elementos de todas as classes sociais, do intelectual ao marginal soara-lhe bastante sedutora. As corriqueiras acusaes de subarte ou subliteratura eram, nos termos do autor, preconceituosas e idiotas a qualidade de uma obra de arte no era inerente ao gnero, mas ao
-
100
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
101
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
artista e s condies em que ele desenvolve seu trabalho. Nem mesmo a censura, o carter industrial e as condies pouco convenientes de recepo retiravam da teledramaturgia todo seu potencial crtico. Baseado em tal premissa, o autor pro-curou levar adiante o projeto de renovao da telenovela, fundamentado numa srie de experincias temticas, formais. A proposta endossada por Daniel Filho, ento diretor de produo da Globo era descartar o formato cubano-mexicano convencional dos folhetins melodramticos e ambientados em paragens exticas da Espanha e do Caribe, e promover uma gradual aproximao entre a teledramaturgia e o universo real do telespectador brasileiro.
Leitor de Ponson du Terrail, Eugne Sue, Michel Zevaco, Xavier de Montepin, Alexandre Dumas pai; autor de Meu Destino Pecar, Escravas do Amor, entre outros folhetins assinados com o pseudnimo de Suzana Flag ou Myrna, Nelson Rodrigues no manifestava grande entusiasmo pela modernizao da telenovela, empreendida, a contragosto ou no, por Dias Gomes e outros autores com ambies revolucio-nrias no plano poltico e/ou esttico. No seu entender, a televiso era sinnimo de diverso, passatempo, fortes emoes e s. A misso da telenovela no era expor as chagas do pas, conscientizar politicamente as massas, mas entreter a santa e abne-gada audincia. Tampouco cabia TV mediar a alta cultura para o grande pblico: a inteno de importar o modelo cultural europeu (notabilizado pela televiso pblica britnica) no era apenas precipitada; representava uma traio a certo instinto de nacionalidade expresso pelas emissoras brasileiras com suas vulgaridades sublimes, com sua lealdade a formas narrativas e espetaculares de comprovado apelo popular, no correr dos sculos (sobretudo, na Amrica Latina).
No obstante, porm, as invectivas de Nelson e os protestos mais bem-compor-tados dos comunicadores de massas, a televiso brasileira incrementava, no incios dos anos 70, mudanas que visavam a atender, mais atenciosamente, nem tanto o bom gosto sem tosto dos intelectuais (Rodrigues [13.09.1971] 1996: 235), as plataformas polticas mais ambiciosas dos artistas de esquerda, mas o "bom gosto" da classe mdia consumidora em potencial e agente importantssima para a efetivao do projeto desenvolvimentista do governo militar. Em outras palavras: aps muito alvoroo, muita palpitao, prevaleceu, em detrimento dos discursos mais extremados a favor de uma TV cultural que, sob a interferncia direta do Es-tado, contribusse para homogeneizar a sociedade desde uma concepo ilustrada de cultura, a sada honrosa e conciliatria daqueles que propugnavam por uma TV comercial, voltada para a informao e para o entretenimento mais prudente e pu-dico sem baixarias, cafajestadas, histerias, mundo-canismos e outras concesses gente sem classe.
O BADALADO PADRO GLOBAL DE QUALIDADE
Com uma sade nanceira invejvel, j se consolidando como rede nacional, a TV Globo decidiu, na virada dos anos 70, optar por nova losoa de programao que, alm de evitar as constantes altercaes com os militares, atingisse um pblico mais qualicado, mantendo o que j se tornara cativo (os 60% das classes C/D). J no interessava Globo dar 90 por cento de audincia com programas como o Casamento na TV ", explicou Walter Clark (1991: 232). Era melhor dar 70 por cento com uma novela adaptada de um livro de Jorge Amado, por exemplo, que daria prestgio emissora. Prestgio, claro, devidamente convertido em espcie, com a chegada de anunciantes mais rendosos, como os cartes de crdito, as cadernetas de poupana e a indstria automobilstica. Ns tnhamos que acabar com isso [a baixaria] porque o nosso projeto era fazer um veculo de publicidade. Ns sabamos que tnhamos de disputar mercados qualicados de audincia e ter uma rede de TV, relembrou Boni, convidado por Walter Clark, em 1967, para chear a produo de programas da emissora (A Globo segundo Boni. Folha de S. Paulo, TV brasileira 50 anos, 16.09.2000: 10).
O padro global de qualidade consubstanciava o intento declarado da emissora do Jardim Botnico de ser popular sem ser popularesca. Evidenciava-se, ento, a formao de uma hierarquia dentro da indstria televisiva, numa diviso em trs nveis: no plano mais elevado, o popular-culto do Globo Shell Especial e do Globo Reprter, com grandes reportagens e documentrios dirigidos por cineastas pres-tigiosos, como Walter Lima Jr., Joo Batista de Andrade e Gustavo Dahl; na regio intermediria, o popular sem qualicativo, capaz de aliar o critrio da vastido do consumo a um critrio tico-esttico (valha o termo) de bom comportamento (pobre culturalmente, mas limpinho...); e, num patamar mais inferior, na vala-comum da infmia e da censura, o popularesco, irredimvel do ponto de vista esttico ou poltico, sobrevivendo na contramo da marcha da indstria cultural pela conquista da honorabilidade4.
4. Hoje, mais do que nunca, a anttese deixa-se conciliar, acolhendo a arte leve na sria e vice-versa. justamente isto que a indstria cultural procura fazer. A excentricidade do circo, do panopti-cum e do bordel face sociedade causa a esta tanto cansao quanto Schnberg e Karl Kraus. (...) [C]aracterstica no a crassa incultura, a rudeza ou a estupidez. Ao se aperfeioar e ao extinguir o diletantismo, a indstria cultural liquidou com os produtos mais grosseiros, embora, continuamen-te, cometa gaffes oriundas da sua prpria respeitabilidade (Adorno & Horkheimer [1947] 1990: 173-174); A cultura de massa tem, na sua procura da mediedade, uma espcie de mecnica da moralidade pela qual recusa tudo o que abnorme, preocupada, unicamente, em xar-se sobre uma normalidade que no incomode ningum (Eco [1964] 1987: 312).
-
102
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
103
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
Ao longo do anos 70, a TV Globo sedimentou, no imaginrio (e no orgulho) nacional, uma concepo mista de qualidade televisiva, capaz supostamente de harmonizar distintos critrios de excelncia: junto ao peso do discurso empresarial (xito comercial; infraestrutura; empregos; ndices de audincia; exportao de programas; umas das maiores emissoras do mundo), rmava-se, tambm, certa dimenso artstica e cultural (apuro tcnico; efeitos especiais; cenrios; progra-mao visual; modernizao dos gneros; divulgao da tradio, da cultura, dos artistas e dos autores nacionais). Prmios internacionais e a reverncia da imprensa a certos ncleos de excelncia, como as sries brasileiras, ajudavam a legitimar o novo padro.
Com a crescente escassez de espao, no correr dos anos 70, para os comunica-dores de massa e os programas mundo-co, o popularesco foi deixando de pautar as cclicas discusses sobre o nvel da televiso brasileira. O tema ressurgiu, de modo fugaz, entre 1981 e 1983, quando a recm-inaugurada TVS (atual SBT) promoveu um revival de tudo que havia sido rejeitado na dcada anterior, conseguindo co-mover, hipnotizar alguns milhes de brasileiros/as que desafortunadamente no so contemporneos dos anos 80 (Na TVS, sobra pblico mas falta dinheiro. Folha de S. Paulo, 15.10.1983: 1).
No Boletim Informativo Especial de comemorao dos dois anos da emissora, Silvio Santos realou um ingrediente bsico, na sua receita de sucesso: o respeito ao consumidor. Sem rebuos, o apresentador e empresrio levantava a bandeira da soberania do consumidor retrica neoliberal que, quando aplicada diretamente discusso da qualidade da TV, tende a engessar o debate e transformar qualquer proposta alternativa em expresso de iluminado ou paternalistas (Richeri 1995: 13). Vale a pena reparar no sugestivo lapso freudiano, contido no penltimo par-grafo do editorial Um profundo respeito pelas minhas colegas de trabalho:
essa nossa opo: entre uma dzia de crticos que teimam em acreditar na inteligncia do povo e no seu poder de deciso, sobre o que melhor para ele, e alguns milhares de telespectado-res que nos presenteiam, diariamente, com sua audincia, no temos a menor dvida. Para esses crticos democratas, o povo s tem condio de optar quando convocado a eleger os candidatos polticos de sua preferncia (Boletim Informativo Especial 2 anos da TVS).
A opo preferencial da TVS pelas classes populares teve de ser reavaliada, em funo da gravssima crise nanceira vivida pela emissora, entre 1983 e 1985 (Mira 1995: 159-170). Uma vez mais, o mercado publicitrio fazia valer o seu critrio de qualidade televisiva, que gravita em torno de conceitos como prestgio e respeita-bilidade, concebidos dentro do quadro de referncias dos chamados formadores
de opinio. De olho nos grandes anunciantes que, no m das contas, sustentam a redes privadas de TV, a emissora de Silvio Santos foi mudando paulatinamente sua imagem, num processo que redundou na sada do ar de mais de 20 atraes dentre elas, O povo na TV, O Homem do Sapato Branco e Almoo com as Estrelas.
Com o intento, porm, de no perder sua anidade com o povo, a emissora procurou vender as classes C e D, ao mercado publicitrio, como um target atraen-te um segmento de mercado bem denido, com potencialidades de consumo que no podiam ser negligenciadas. Concomitantemente, a nova estratgia mer-cadolgica pugnava pela conquista da audincia de maior nvel socioeconmico, modernizando a produo audiovisual, buscando livrar-se, mediante campanhas publicitrias, da pecha de brega e introduzindo, em sua grade, atraes de perl erudito e pop. Na noite de 21 de dezembro de 1988, o j ento rebatizado SBT trans-mitiu um programa especial, com uma hora de durao e sem intervalo comercial, em que o tenor italiano Luciano Pavarotti brindava o pblico com um picadinho de peras e canes populares italianas, sob o patrocnio da General Motors e da Sony. Naquele mesmo nal de ano, o SBT j exibira, entre outras atraes, shows de Tina Turner e Madonna e uma entrevista exclusiva com Fidel Castro. A audin-cia comeou a cair, depois das novas medidas empresariais, mas no houve recuo tratava-se de uma questo de sobrevivncia, segundo o ento diretor comercial da emissora, Rubens Carvalho (SBT investe na sosticao de sua imagem. Folha de S. Paulo, Ilustrada, 24.01.1988: 1).
OS CLAMORES ANNIMOS DA BARBRIE
A domesticao do SBT, no nal dos anos 1980, no selou, como se sabe, a paz eterna entre a crtica e a televiso. Na segunda metade dos anos 1990, as controvr-sias a respeito do baixo nvel da TV retornaram s manchetes, com estrondo similar ao dos anos 1960. De acordo com pareceristas convocados pela grande imprensa do Rio de Janeiro e de So Paulo, o grande culpado pela dbcle fora o Plano Real, implementado, em julho de 1994. Agora, quem ditava o ritmo, no baile da diverso eletrnica, eram as classes C e D, segmento da populao que se livrara do imposto inacionrio e entrara na ciranda das compras a crdito5. Prometido como rampa de acesso do pas ao Primeiro Mundo, o conjunto de medidas de estabilizao
5. Nos primeiros quatro anos do Plano Real, 6,3 milhes de domiclios brasileiros receberam seu primeiro aparelho de TV. A venda de televisores atingiu, nesse perodo, 28 milhes de unidades (Folha de S. Paulo, Mais!, 12.04.98: 4).
-
104
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
105
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
econmica teria, no m das contas, ajudado a derrubar padres e barreiras cultu-rais supostamente mais estveis, consolidando o (mau) gosto popular na mdia Carlos Ratinho Massa, Ana Maria Braga e demais animadores de auditrio que encenavam o grotesco, no outrora horrio nobre da TV.
Os efeitos da nova realidade mercadolgica foram sucientes para abalar at mesmo o respeitvel padro global de qualidade, sedimentado na dcada de se-tenta. A ascendncia com grande af ao mercado cultural da populao de baixa renda (prontamente cortejada pelas rivais menos escrupulosas) e a chegada da TV por assinatura (capaz, presumivelmente, de seduzir o pblico das classes A e B) compeliram a Globo a repensar sua doutrina de programao numa latitude inconcebvel, no antigo regime de quase monoplio do campo televisual (El Nio da audincia. Tela Viva, abril de 1999: 18-20; Borelli & Priolli 2001).
Sem o peso do autoritarismo verde-oliva sobre suas costas e com a concorrncia (um pouco mais bem estruturada empresarialmente) nos seus calcanhares, a emisso-ra do Jardim Botnico oscilava, em meados dos anos 1990, entre a delidade a seu perl caracterstico de programao, a certas veleidades civilizatrias, e a tentao de disputar, com o SBT e a Record, no terreno do inimigo. Mexicanizao foi a expresso favorita das editorias dos segundos cadernos para, renovando o lxico da crtica da cultura de massa, denir um dos efeitos mais incmodos da reorganizao de nossa indstria televisiva: o declnio da qualidade esttica da teledramaturgia e do telejornalismo via exacerbao do sentimentalide, do lacrimejante de tudo aquilo, enm, de espalhafatoso, de canastro, de kitsch, que caracteriza a alma deles, os latino-americanos, to tenazmente impermeveis ao desencan-tamento do mundo e modernizao do gosto e da sensibilidade.
O mal-estar da crtica com o processo de mexicanizao se agravou em fun-o da boa acolhida da audincia trilogia Maria Mercedes (1996; com reprise em 1997), Marimar (1996) e Maria do Bairro (1997), importada pelo SBT. Os folhetins eletrnicos despudoradamente melodramticos haviam criado uma sub-raa do ponto de vista intelectual, um pblico que se tornara incapaz de pensar, na opinio do ator, dramaturgo e apresentador de TV Miguel Falabella (Globalizao gera mexicanizao dos programas da TV brasileira. Folha de S. Paulo, TVfolha, 02.03.1997: 4). No rastro do xito das realizaes da Televisa, a Globo decidiu simpli-car a trama e aumentar a voltagem das emoes de algumas de suas novelas os casos mais vistosos foram Por amor (1997) e o remake de Anjo mau ([1976] 1997), exibidas no horrio das oito e das sete, respectivamente. Parecia cada vez mais di-fcil, naquela conjuntura, afetar um ar de superioridade diante de assertivas como a do escritor mexicano Carlos Fuentes: O melodrama o fato central da vida pessoal
na Amrica Latina: somente no Sumo Pontce e em Simplesmente Maria, todos nos reconhecemos ecumenicamente latino-americanos (apud Podalsky 1993: 57).
Mais perplexa do que indignada, Veja lastimou que as produes mexicanas tivessem vindo arrebanhar um pblico que, pelo menos na teoria, havia sido edu-cado para consumir artigos televisivos mais bem-acabados, num momento em que a programao das emissoras brasileiras parecia apontar para um nvel de qualidade superior com bons programas jornalsticos e novelas que tentavam discutir a reali-dade do pas. O mais inquietante que, mesmo abrandado o entusiasmo inicial com os dramalhes mexicanos, permaneciam, entre ns, as marcas da mexicanizao: As novelas brasileiras esto mais sentimentalides do que h sete anos, oito anos, e telejornais respeitveis passaram a explorar, com maior insistncia, dramas banais e imagens de violncia (O novo fenmeno da TV. 18.03.1998: 120-126).
Na medida em que a Globo emitia sinais de querer guerrear com as armas dos adversrios, em certos campos de batalha especcos, pipocavam referncias saudosistas poca em que Boni mandava e desmandava na casa. O ex-maioral era lembrado mais como um tutor do bom gosto, quase um mecenas, instalado no cen-tro da indstria televisiva, do que como um ex-publicitrio obcecado em puricar o visual da emissora, a m de incrementar a rentabilidade de suas produes, aqui e alhures. O depoimento mais revelador, neste sentido, foi dado pelo dramaturgo e diretor teatral Gerald Thomas:
Se Boni levava em considerao a crtica em geral e tinha preocupaes reais relativas ao nvel de sua TV, a atual direo parece ter estacionado seu medidor de qualidade no centro da sociedade mexicana. Mexicanizao, populismo, sexualizao e violncia excessiva, Ibope, classes D, E, F ou Z, todas essas justicativas para a besticao da programao de televiso s demonstram que o mesmo povo que j teve a TV como pio hoje parece ter se tornado o pio da TV (Do padro Globo ao padro mexicano de qualidade. Folha de S. Paulo, Ilustrada, 12.08.1999: 3).
Fazendo eco s palavras de Thomas, o crtico de televiso Eugnio Bucci expres-sou seu repdio contra a capitulao das emissoras diante da demanda da nova au-dincia: Antes, pelo menos, eram eles, os programadores, que tinham a prerrogativa de deseducar o pblico. Hoje, os clamores annimos da barbrie que deseducam os programadores. E isso ainda vai piorar (O pior do povo. Veja, 18.03.1998: 126). Eis-nos diante de um n digno da espada de Alexandre, ponderou o colunista poltico Carlos Chagas. O que fazer? Banir ou eliminar as massas como forma de acabar com a baixa programao? Cercear as massas em seu direito de assistir ao que quiserem pela televiso, elas que j so cerceadas num monte de inacessveis direitos? (Con-tradies globalizantes Como elevar o nvel da TV. Manchete, 05.09.1998: 31).
-
106
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
107
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
Dada inexeqibilidade das disposies acima, o secretrio nacional dos Direitos Humanos, Jos Gregori, principiou, nos ltimos meses de 1998, uma srie de nego-ciaes com as emissoras de TV, com o to de estabelecer uma auto-regulamentao no setor. A idia do secretrio era tecer, em conjunto, uma malha na que sgasse os peixes podres quer dizer, os programas que levavam as coisas para a apelao, para a baixaria, para a total falta de classe, a vulgaridade, a banalizao de assun-tos srios, como os direitos humanos (Governo quer manual de qualidade para emissoras. Folha de S. Paulo, Ilustrada, 09.11.1998: 3). Expirado, em janeiro de 1999, o prazo ocial para a entrega do cdigo de controle interno de qualidade, apenas a TV Bandeirantes havia feito o dever de casa, apresentando um declogo para l de genrico. O que se viu, a partir da, foi uma sucesso de ultimatos do governo serenamente desconsiderados pelas redes de TV (Novo ultimato a emissoras. Jornal do Brasil, Caderno B, 02.06.1999: 1).
Com a nalidade de dar uma apertadinha nas TVs relapsas, Jos Gregori (promovido a ministro da Justia) publicou, em setembro de 2000, uma portaria obrigando a exibio do horrio e da faixa etria para a qual cada programa estava indicado. Os programas foram divididos em quatro faixas etrias; os aconselhveis para maiores de 18 anos cavam liberados para depois das 23h; cenas de sexo, s entre meia-noite e 5h. Foi elaborada uma lista com 12 tpicos periclitantes a ser observados pelos classicadores (violncia; violncia moderada; extrema violncia; sexo explcito; sexo; insinuaes de sexo; situao ofensiva aos valores ticos; con-itos psicolgicos; temtica adulta; tenso; horror; consumo de drogas). Ao m e ao cabo, a classicao era supinamente idiossincrtica; para uma funcionria do ministrio, por exemplo, lme ou novela contendo personagem homossexual s poderia ser liberado para maiores de 12 anos Porque a homossexualidade no normal na sociedade, no a maioria (Programao de TV ganha classicao por faixa etria. Jornal do Brasil, Caderno B, 12.09.2000: 2; Para ministrio, medida apertadinha. Folha de S. Paulo, Ilustrada, 13.09.2000: 4).
TV DE QUALIDADE: TICA E ESTTICA
Em que pese o clima geral de reprise, a cruzada contra a baixa qualidade da TV brasileira trouxe, no nal do sculo, ao menos trs dados novos, em relao aos embates das dcadas anteriores. Em primeiro lugar, nem mesmo o crtico mais agas-tado cogitou defender a (improbabilssima) estatizao das TVs comerciais. Outro fato notvel o arrefecimento da tentativas de jornalistas e literatos de submeter a televiso a uma anlise no altiplano da esttica, de associar qualidade inovao e
experimentao com a linguagem televisiva, como ocorria, com assiduidade, nos anos 1950 e 1960, no s no Brasil (Machado 2000: 23; Grasso 2002). As raras ocasies em que se adensa, em nossa mdia cultural, a discusso esttica ou artstica raticam a percepo de que, para a crtica especializada, TV de qualidade aquela que de-sempenha, com humildade, a funo de mediar a alta cultura para as massas; que serve de mero trampolim para vos mais altos da imaginao. No campo da criao, prevalece, hoje, entre os escritores mais renomados, a postura, digamos, pragmtica de Jorge Amado e Raquel de Queiroz, que sempre declararam no assistir ao produ-to nal da verso de seus livros para TV, nem interferir no trabalho de roteiristas e diretores durante o processo de produo (Freire Filho 2002: 261-262).
No lugar das conjecturas essencialmente artsticas ou estticas, ganha fora a abordagem da qualidade da TV sob uma perspectiva tica, calcada no estabeleci-mento de uma relao de maior respeito e conana entre emissoras e telespectado-res. Infelizmente, possvel detectar, nessas discusses, uma hipertroa daquilo que Richeri (1995: 14) denominou conceito ecolgico de qualidade, que visa a proteger a sensibilidade do cidado comum da contaminao antisocial de programas violentos, imorais, sexistas ou racistas. Entre ns, o debate se apequenou de tal maneira que camos com a impresso, s vezes, de que TV de qualidade sinnimo de TV sem bunda e ponto nal. A estreiteza do horizonte de expectativas repercute mesmo entre as novas e, em tese, promissoras estratgias de aprimoramento e controle da qualidade da televiso, como os grupos de discusso e presso de-mocrtica inspirados nos TVer (criado, em junho de 1997, por iniciativa da ento deputada federal Marta Suplicy), e a campanha Quem nancia a baixaria contra a cidadania, iniciativa da Comisso de Direitos Humanos da Cmara Federal, em parceria com entidades da sociedade civil.
Considero salutares as tentativas de incremento da relao entre os concession-rios da TV e o pblico, de vinculao do consumo com a cidadania, na esteira do que prope teoricamente Canclini (1995, 2002) e do que mais efetivamente praticado nos Estados Unidos e na Europa. O problema, de novo, o tratamento epidrmico conferido questo da qualidade, que acaba gravitando, amide, em torno da elu-siva questo do bom gosto (com a padro global de qualidade servido tacitamente como paradigma do desejvel, ou pelo menos aceitvel, em termos de qualidade). O resultado? A abertura de uma temporada de caa a certos maus elementos, uma perseguio aos suspeitos de sempre, que obtm espao de anlise e debate pblico muitssimo superior ao dedicado a questes prementes, como a redenio de polticas governamentais de telecomunicao e a recongurao e o fortalecimento do papel cidado das TVs pblicas que obtm espao de anlise e de debate pblico muitssimo
-
108
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10
109
ga
lx
ia | n. 7 | abril 2
00
4N
OT
AS
S
OB
RE
O
C
ON
CE
ITO
D
E
QU
AL
IDA
DE
N
A
CR
TIC
A
TE
LE
VIS
UA
L
BR
AS
ILE
IRA
8
5-
11
0
superior ao dedicado a questes prementes ligadas propriedade, ao controle e regulamentao das telecomunicaes no pas e recongurao e ao fortalecimento do papel cidado das TVs pblicas (Orozco 1992; Blumer 1993; Bettetini et al 1997; Costa 1986; Fuenzalida 2000; Martn-Barbero 2002; Rincn 2002).
CONSIDERAES FINAIS
Conforme ressalta Frith (2000: 41), a qualidade no descreve o que boa ou m televiso, mas sim o contexto ideolgico em que fazemos juzos sobre o que e o que no boa televiso. Os critrios de interpretao e aferio da qualidade na TV so, de fato, bastante heterogneos, atendendo a anseios de diferentes atores e instituies sociais (Bianculli 1992; Brunsdon 1990; Duran 1993; Feuer et al 1984; Freire Filho 2001b; Frith 2000; Lasagni & Richeri 1996; Machado 2000; Martn-Bar-bero et al 2000; Mulgan 1990; Pujadas 2002; Richeri 2000; Schroder 1997; Thomp-son 1996). Trata-se, como vimos anteriormente, de um campo estratgico em que as partes interessadas polticos; rgos reguladores governamentais; organizaes no-governamentais; fs; associaes de telespectadores; jornalistas especializados; pesquisadores acadmicos; empresrios; produtores; realizadores pelejam, nem sempre em igualdade de condies, para impor e legitimar pressupostos e parme-tros valorativos, dentro de contextos histricos, culturais e polticos especcos.
De minha parte, no tive a pretenso de esmiuar, dentro das dimenses deste artigo, todas as posturas em disputa, nos mais de 50 anos de polmicas acerca do nvel ou da qualidade do meio de comunicao de maior penetra-o popular do pas. Interessou-me, mais modestamente, realar a complexidade do problema e frisar a necessidade de formulao de um quadro de referncia terico consistente que distancie o discurso e a ao daqueles interessados em mudar o rumo de nossa TV de dois plos igualmente desastrosos: de um lado, o quietismo mercadolgico e o populismo cultural; no outro extremo, o elitismo e o etnocentrismo de classe.
REFERNCIAS
ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max (1990 [1947]). A Indstria Cultural O Iluminismo como
Misticao de Massa. In: LIMA, Luiz Costa (org.). Teoria da cultura de massa. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, pp. 159-204.
BETTETINI, Gianfranco et al. (1997). Televisione culturale e servizio pubblico. Roma: RAI-ERI.
BIANCULLI, David (1992). Teleliteracy: taking television seriously. New York: Continuum.
BORELLI, Slvia Helena S.; PRIOLLI, Gabriel (2001). Deusa ferida: por que a Rede Globo no mais a
campe absoluta de audincia. So Paulo: Summus.
BRUNSDON, Charlotte (1990). Problems with quality. Screen, vol. 31, n 1, Spring, pp. 67-90.BLUMLER, Jay G. (ed.) (1993). Televisin e inters pblico. Barcelona: Bosch.
CANCLINI, Nstor Garca (1995). Consumidores e cidados: conitos multiculturais da globalizao.
Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
________ (2002). Dicionrio para consumidores descontentes. Folha de S. Paulo, Mais!, 27.01, pp. 5-6.
CLARK, Walter (1991). O campeo de audincia. So Paulo: Best Seller.
CASETTI, Francesco (1994). Teoras del cine. Madrid: Ctedra.
COHEN, Keith (1979). Film and ction: The dynamics of exchange. New Haven: Yale University Press.
COSTA, Pere Oriol (1986). La crisis de la televisin pblica. Barcelona: Paids.
ECO, Umberto (1987 [1964]). Apocalpticos e integrados. So Paulo: Perspectiva.
DURAN, Jacques (1993). Les jugements des telespectateurs. Note sur lvaluation des programmes de
tlvision. Herms, n 11-12, pp. 311-318.ELSAESSER, Thomas et al. (1994). Writing for the medium: Television in transition. Amsterdam:
Amsterdam University Press.
FEUER, Jane A. et al (1984). MTM: Quality Television. London: British Film Institute.
FREIRE FILHO, Joo (2003). A TV, os literatos e as massas no Brasil. Contracampo, vol. 8, n 1, pp. 105-124.
________ (2002). A esnge do sculo: expectativas e temores de nossos homens de letras diante do
surgimento e da expanso da TV (1950-1970). Alea: Estudos Neolatinos, vol. 4, n 2, julho-dezem-
bro, pp. 243-264.
________ (2001a). TV, Internet e as homilias tecnofbicas. Logos, ano 8, n 14, pp.13-18.
________ (2001b). TV de qualidade: uma contradio em termos?. Lbero, ano IV, vol. 4, n 7-8, pp. 86-95.
FRITH, Simon (2000). The black box: the value of television and the future of television research. Screen,
vol. 41, pp. 33-50.
FUENZALIDA, Valerio (2000). La televisin pblica en Amrica Latina: Reforma o privatizacin. Santiago
de Chile: FCE.
GRASSO, Aldo (org.) (2002). Schermi dAutore. Intellettuali e Televisione (1954-1974). Roma: RAI.
HANSEN, Miriam Bratu (2001). Estados Unidos, Paris, Alpes: Kracauer (e Benjamin) Sobre o Cinema e
a Modernidade. In: CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. (org.). O cinema e a inveno da vida
moderna. So Paulo: Cosac & Naify, pp. 497-557.
HELLER, Heinz-B. (1985). Literarische Intelligenz und Film: Zu Vernderungen der esthetischen Theorie
und Praxis unter dem Eindruck de Films 1910-1930 in Deutschland. Tbingen: Niemeyer Verlag.
ISHIKAWA, Sakae (ed.) (1996). Quality assessment of television. Luton: University of Luton Press.
JAMBEIRO, Othon (2001). A TV no Brasil do sculo XX. Salvador: EDUFBA.
KAES, Anton (1978). Kino-Debatte: Texte zum Verhltnis von Literatur und Film 190-1929. Tbingen:
Niemeyer Verlag.
KOEBNER, Thomas (1977). Der Film als Neue Kunst: Reaktionen der Literarischen Intelligenz: Zur
Theorie des Stummfilms (1911-1924). In: KREUZER, Helmut (ed.). Literaturwissenschaft-
Medienwissenschaft, pp. 1-31. Heidelberg: Winter.
LARA, Ceclia (1983). O viajante europeu (1925-1926): Path-Baby, panoramas internacionais. In:
MACHADO, Antnio de Alcntara. Path-Baby e prosa turstica: o viajante europeu e platino. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira; Braslia: INL, pp. 21-31.
-
110
ga
lx
ia
| n
. 7
| ab
ril
20
04
JO
O
F
RE
IRE
F
ILH
O
85
-1
10LASAGNI, Maria Cristina & RICHERI, Giuseppe (1996). Televisione e qualit: la ricerca internazionale, il
dibattito in Italia. Torino: Nuova Eri.
LEAL, Pricles (1964). Iniciao televiso. Rio de Janeiro: Falangola.
MACHADO, Arlindo (2000). A televiso levada a srio. So Paulo: Editora SENAC.
MARTN-BARBERO, Jess (2002). A qu se puede llamar hoy televisin pblica?. Comunicacin, cuarto
trimestre, n 120, pp. 34-39.
MARTN-BARBERO, Jess et al. (2000). Televisin pblica, cultural, de calidad. Gaceta, n 47, pp.50-61.
MIRA, Maria Celeste (1995). Circo eletrnico: Slvio Santos e o SBT. So Paulo: Loyla/Olho Dgua.
MULGAN, Geoff (ed.) (1990). The question of quality. London: BFI Publishing.
OLIVEIRA, Lcia Maciel Barbosa de (2001). Nossos comerciais, por favor!: A televiso brasileira e a
Escola Superior de Guerra: O caso Flvio Cavalcanti. So Paulo: Beca.
OROZCO GOMEZ, Guillermo (1992). Televisin pblica y participacin social: al rescate cultural de la
pantalla. Dilogos de la Comunicacin, n 33, Junio, pp. 4-10.
ORTIZ, Renato (1988). A moderna tradio brasileira: cultura brasileira e indstria cultural. So Paulo:
Brasiliense.
ORTIZ, Renato et al. (1989). Telenovela: histria e produo. So Paulo: Brasiliense.
PODALSKY, Laura (1993). Disjointed frames: melodrama, nationalism and representation in 1940s Mexico.
Studies in Latin America Popular Culture, vol.12, pp. 57-73.
PUJADAS, Eva (2002). Televisi de qualitat i pragmatisme. Quaderns del CAC, n 13, maio-agost, pp. 3-12.
RICHERI, Giuseppe (1995). La calidad de la televisin. Telos, n 42, Junio-Agosto, pp. 13-14.
RIDENTI, Marcelo (2000). Em busca do povo brasileiro: artistas da revoluo, do CPC era da TV. Rio
de Janeiro: Record.
RINCN, Omar (org.) (2002). Televiso pblica: do consumidor ao cidado. So Paulo: Friedrich-Ebert-
Stiftung.
RODRIGUES, Nelson (1993). A menina sem estrela: memrias. So Paulo: Companhia das Letras.
_______ (1996). O remador de Ben-Hur: consses culturais. So Paulo: Companhia das Letras.
SCHRODER, Kim Christian (1997). Calidad cultural: la persecucin de un fantasma? In: DAYAN, Daniel
(comp.), En Busca del Publico: Recepcin, Televisin, Medios. Barcelona: Gedisa, pp.107-125.
SPIEGEL, Alan (1975). Fiction and the Camera Eye: Visual Consciousness in Film and the Modern Novel.
Charlottesville, Va.: University of Virginia Press.
SSSEKIND, Flora (1988). Cinematgrafo de letras: literatura, tcnica e modernizao no Brasil. So
Paulo: Companhia das Letras.
THOMPSON, Robert J. (1996). Televisions Second Golden Age: From Hill Street Blues to ER. New York:
Continuum.
JOO FREIRE FILHO jornalista, Doutor em Literatura Brasi-
leira pela PUC-RJ e professor-adjunto da Escola de Comunicao
da UFRJ, onde integra o NEPCOM (Ncleo de Estudos e Projetos em
Comunicao) e edita a revista Eco-Ps, publicao semestral da
Ps-Graduao em Comunicao e Cultura.
Artigo agendado em novembro de 2003
e aprovado em fevereiro de 2004.