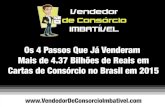Consorcio Realiza - As Possibilidades de Implementacao Do Consorcio Publico
description
Transcript of Consorcio Realiza - As Possibilidades de Implementacao Do Consorcio Publico
-
GUIA DECONSRCIOS PBLICOS
CADERNO
3AS POSSIBILIDADESDE IMPLEMENTAO
DO CONSRCIO PBLICO
-
Guia de
Consrcios Pblicos
Caderno 3
As possibilidades de implementao
do Consrcio Pblico.
Braslia - 2011
Realizao
Apoio
Secretaria deRelaes
Institucionais
Subchefia deAssuntos
Federativos
-
2011 CAIXA ECONMICA FEDERAL
Todos os direitos reservados.
permitida a reproduo de dados e de informaes contidas nesta publicao,
desde que citada a fonte.
Repblica Federativa do Brasil
Dilma Vana Rousseff
Presidenta
Ministrio da Fazenda
Guido Mantega
Ministro
Tiragem: 8.000 exemplares.
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
B333
Batista, Sinoel. As possibilidades de implementao do consrcio pblico/ Sinoel Batista ... [et al.]. 1.
ed. Braslia, DF : Caixa Econmica Federal, 2011. 244 p.
(Guia de Consrcios Pblicos. Caderno ; v. 3)
Inclui bibliografia.
ISBN 978-85-86836-30-5
1. Consrcios pblicos. 2. Legislao. 3. Administrao pblica. 4. Poltica pblica.
5. Planejamento estratgico. I. Ttulo.
CDU 352(81) CDD 328.810778
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Prefixo editorial: 86836
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Presidente da CAIXA
Jorge Fontes Hereda
Setor Bancrio Sul Quadra 4 Lote 3/4
19 andar
Edifcio Matriz da CAIXA
CEP 70.092-900 Braslia-DF
Endereo eletrnico: http://www.caixa.gov.br
SAC CAIXA 0800 726 0101 e Ouvidoria 0800 725 7474
CEP 70.092-900 Braslia-DF
Homepage: http://www.caixa.gov.br
Disque CAIXA 0800 726 0101 e Ouvidoria 0800 725 7474
-
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
Presidenta da Repblica Federativa do Brasil Dilma Vana Rousseff
Presidente da CAIXA Jorge Fontes Hereda
Vice Presidente de Governo da CAIXA Jos Urbano Duarte
Superintendente Nacional de Assistncia Tcnica e Desenvolvimento Sustentvel da CAIXA Marcia Kumer
Gerente Nacional de Assistncia Tcnica da CAIXA Maria Teresa Peres de Souza
Gerente de Clientes e Negcios Jair Fernando Nio Porto Alegre
Equipe Tcnica Coordenadora CAIXA:
Kleyferson Porto de Arajo
Gerente Executivo
Gerncia Nacional de Assistncia Tcnica
Fernanda Teodoro Pontes
Arquiteta
Gerncia Nacional de Assistncia Tcnica
Colaboradores da Equipe Tcnica CAIXA:
Marcus Vincius Fernandes Neves:
Gerente de Sustentao ao Negcio - Governo Natal/RN
Yuri Assis Freitas:
Coordenador de Sustentao ao Negcio - Governo Vitria/ES
Maria Tereza de Souza Leo Santos
Gerente Executiva
Gerncia Nacional de Assistncia Tcnica
-
Equipe de autores, coordenao tcnica e de contedo -
Quanta Consultoria e Projetos Ltda. (www.qcp.com.br): Sinoel Batista - Coordenao geral e de contedo; Rosangela Vecchia Coordenao de contedo; Marcelo Peron Pereira; Maria Teresa Augusti; Jos Luis Hernandes; Carlos Alberto Bachiega; Regina Clia dos Reis; Maria Mirtes Gisolf; Neusa Marinho de Espindola; Mauricio Maranho Sanches.
Crditos:
Projeto grfico e editorao: Jos Luis Hernandes - Arquiteto
Ilustraes: Carlos Alberto Bachiega - Arquiteto
Reviso ortogrfica: Edma Garcia Neiva - Bacharel e licenciada em Portugus/Latim
Ficha Catalogrfica: Sabrina Leal Arajo - Bibliotecria responsvel CRB 10/1507
Pesquisa sobre Consrcios:
Sinoel Batista, Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz e Anderson Rafael Barros
Apoio: Daniele Pelluchi S, Michelle Cirne Ilges e Natlia Guerra
Fotografias - contracapa:
Foto 1 - Crianas ; Fonte: Programa CAIXA Melhores Prticas em Gesto Local; Prtica finalista Plano Diretor (2007/2008); Municpio: Ariquemes/RO.
Foto 2 - Pavimentao; Fonte: Programa CAIXA Melhores Prticas em Gesto Local; Prtica finalista Plano Diretor (2007/2008); Municpio: Ariquemes/RO.
Foto 3 - Segurana Pblica; Fonte: Programa CAIXA Melhores Prticas em Gesto Local; Melhor Prtica Gloria a Casa (2007/2008); Municpio: Campina Grande/PB.
Foto 4 - Atendimento em Sade; Fonte: Programa CAIXA Melhores Prticas em Gesto Local; Prtica finalista Agrovila Pdua (2007/2008); Municpio: Santo Antonio de Pdua/RJ.
Foto 5 - Capacitao em Informtica; Fonte: Programa CAIXA Melhores Prticas em Gesto Local; Prtica finalista Terragu (2007/2008); Municpio: Camamu/BA.
Foto 6 - Coleta de Lixo; Fonte: Programa CAIXA Melhores Prticas em Gesto Local; Prtica finalista Cidade Limpa (2007/2008); Municpio: Osrio/RS.
Coronrio Editora Grfica Ltda.
CNPJ 00.119.123/0001-46
SIG Quadra 06 - Lotes 2340/70. Braslia - DF. CEP 70.610-460
Contatos: + 55 61 3028-1012 / 3038-1050. E-mail: [email protected]
www.graficacoronario.com.br
A Caixa Econmica Federal no se responsabiliza por quaisquer erros ou omisses contidas neste Guia de Consrcios Pblicos, bem como pelas conseqncias advindas do seu uso.
-
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
Jorge Fontes Hereda
Presidente - Caixa Econmica Federal
Como principal agente de polticas de desenvolvimento urbano do Governo Federal
a CAIXA tem forte relacionamento com os municpios brasileiros, principalmente por
meio da operacionalizao de recursos de financiamento e de repasses que promovem a
melhoria da qualidade de vida de nossa populao e geram milhares de empregos.
O Guia de Consrcios Pblicos reafirma o compromisso da Caixa enquanto banco
pblico no apoio ao desenvolvimento sustentvel e promoo da cidadania.
Este Guia tem como objetivo auxiliar as administraes municipais, na definio de
uma agenda de cooperao entre os entes federados, visando contribuir para a soluo
de problemas estruturantes que afetam a mais de um municpio, tais como a falta de
tratamento de esgotos, de disposio adequada dos resduos slidos e de transporte
pblico adequado.
Com a promulgao em 2005 da Lei 11.107, que dispe sobre normas gerais de
contratao de consrcios pblicos, regulamentada pelo Decreto 6.017/2007, a Unio, os
Estados, o Distrito Federal e os Municpios passaram a ter um instrumento com segurana
jurdica para realizarem suas cooperaes visando o enfrentamento de problemas comuns
que exigem articulao e unio dos atores para a sua soluo. As atuaes consorciadas
so prticas que necessitam de publicizao e apoio tcnico e operacional para a sua
realizao.
Esperamos que a disponibilizao do Guia contribua para a efetivao dos Consrcios
Pblicos como instrumentos para o fortalecimento e modernizao da administrao
pblica brasileira e possibilite a gerao de cidades mais inclusivas e democrticas.
CAIXA, o banco que acredita nas pessoas.
-
Jose Urbano Duarte
Vice-Presidente - Caixa Econmica Federal
Nos ltimos anos o Governo Federal ampliou consideravelmente os recursos para
o desenvolvimento urbano notadamente por meio do PMCMV (Programa Minha Casa,
Minha Vida) e do PAC (Programa de Acelerao do Crescimento), possibilitando que
Estados e Municpios acessem os recursos e promovam a melhoria da qualidade de vida
da populao.
A CAIXA est diante do desafio de auxiliar os gestores estaduais e municipais em
transformar o volume de recursos disponibilizado em desenvolvimento econmico e
social, possibilitando a gerao de cidades mais inclusivas e democrticas.
Visando o fortalecimento administrativo e institucional dos municpios, a CAIXA vem
promovendo aes de apoio na melhoria da gesto pblica, como a criao de 71 Salas
das Prefeituras nas Superintendncias Regionais e de 58 Coordenaes de Assistncia
Tcnica Municipal nas Regionais de Sustentao ao Negcio Governo, a disponibilizao
do Portal da Universidade Corporativa da CAIXA para Estados e Municpios, a implantao
do Programa de Capacitao do Gerente Municipal de Convnios e Contratos (GMC), a
disponibilizao de cursos presenciais por meio do Programa Nacional de Capacitao de
Cidades em parceria com o Ministrio das Cidades, a realizao de mais de 3.000 oficinas
ao ano de Assistncia Tcnica para os Municpios, entre outras aes.
A cooperao entre a Unio, os Estados e os Municpios, por meio dos Consrcios
Pblicos, tem importncia estratgica na consolidao do Estado brasileiro ao propiciar a
institucionalizao de um mecanismo de cooperao e de coordenao para encaminhar
questes, que no podem se resolver no mbito de atuao de um nico ente federativo.
Como contribuio da CAIXA no apoio a modernizao e o fortalecimento da
capacidade de gesto pblica municipal, foi elaborado o Guia de Consrcios Pblicos,
composto por trs cadernos com temticas complementares e direcionados aos gestores
e tcnicos municipais que efetivamente iro criar e operacionalizar o Consrcio Pblico.
Agradecemos a todos aqueles que contriburam para a realizao deste Guia.
-
APRESENTAO
GUIA DE CONSRCIOS PBLICOS
Este GUIA tem como objetivo apoiar as administraes municipais na
tarefa de potencializar a cooperao entre os entes federados, visando
equacionar problemas objetivos que se apresentam administrao
pblica, no acolhimento e ateno aos diferentes direitos das populaes
a que servem.
Esta oportunidade se apresenta a partir da arquitetura da Federao que
emergiu da Constituio Federal do Brasil de 1988, que concebeu um Estado
com mais democracia, mais desenvolvimento, menos desigualdade, menos
pobreza, mais justia e maior eficincia, estando este arranjo expresso em
princpios constitucionais, que passam a demandar e orientar reformas
profundas no Estado Brasileiro.
Trata-se de um processo em construo, expresso em leis
infraconstitucionais promulgadas nas ltimas duas dcadas, as quais vo,
paulatinamente, mudando padres de gesto pblica e criando novas
formas de organizao da ao do Estado.
Neste contexto, a cooperao entre os entes federados, por meio
dos Consrcios Pblicos, ganha importncia estratgica, propiciando
alternativas prticas e efetivas, para encaminhar questes que, em muitas
-
oportunidades, no podem se resolver no mbito de atuao de uma nica
esfera da federao.
Perseguindo os desafios e oportunidades geradas por esta condio, o
GUIA procura caracterizar a natureza e a dinmica dos Consrcios Pblicos,
apontando as inmeras possibilidades de execuo de polticas pblicas de
forma consorciada.
So pblicos do GUIA, portanto, Prefeitos, dirigentes municipais de
polticas pblicas de mbito local, dirigentes de Consrcios Pblicos,
dirigentes das associaes de municpios e demais interessados no assunto,
aos quais se destinam os seguintes Cadernos:
CADERNO I
GUIA de Consrcios Pblicos: O papel dos Prefeitos e das Prefeitas
na criao e gesto dos Consrcios Pblicos visa orientar os Prefeitos e
as Prefeitas Municipais sobre a natureza dos Consrcios Pblicos, sua
capacidade e flexibilidade para executar polticas pblicas, que demandam
parcerias e cooperao entre entes federados.
Contm, sob uma perspectiva executiva, em plano estratgico,
informaes bsicas sobre como constituir, manter e administrar um
CONSRCIO PBLICO, pontuando aspectos polticos relevantes para a
viabilidade de aes consorciadas entre entes da Federao, a partir da
tica do gestor local.
GUIA DECONSRCIOS PBLICOS
CADERNO
O PAPEL DOSPREFEITOS E DAS PREFEITAS
NA CRIAO E NA GESTO DECONSRCIOS PBLICOS
1
-
CADERNO II
GUIA de Consrcios Pblicos: O Papel dos Dirigentes Municipais e
Regionais na Criao e Gesto dos Consrcios Pblicos rene contedos
tcnicos relacionados constituio de um CONSRCIO PBLICO.
Ressalta a importncia dos Conselhos Tcnicos Regionais, como rgo de
planejamento, formulao e controle da poltica regional, canal permanente
de participao dos dirigentes municipais na gesto de polticas pblicas
compartilhadas. Indica formas da participao da sociedade na instncia
em constituio. Pondera sobre as questes jurdicas dos Consrcios
constitudos antes da Lei 11.107 de 6 de abril de 2005, analisando as
exigncias que o novo diploma legal trouxe a essas organizaes e o
impacto da transformao dos antigos Consrcios Administrativos em
Consrcios Pblicos. Para subsidiar essa anlise so apresentados quadros
comparativos com as vantagens e desvantagens de cada opo que esto
postas aos dirigentes de Consrcios. Traz, ainda, referncias bsicas sobre
estrutura organizacional, planejamento, gesto contbil e financeira,
recursos humanos, recursos materiais e outros temas especficos de gesto
colegiada e cooperativa nos Consrcios. Ressalta princpios da tica na
administrao da coisa pblica como elemento essencial de consolidao
da Federao. Tambm apresenta nos seus anexos Documentos de
Referncia, projetos de lei e resolues como indicativos para aqueles que
vo organizar as etapas formais de constituio de um Consrcio Pblico ou
vo realizar a transformao da sua natureza jurdica.
GUIA DECONSRCIOS PBLICOS
CADERNO
2O PAPEL DOS DIRIGENTESMUNICIPAIS E REGIONAISNA CRIAO E GESTO
DOS CONSRCIOS PBLICOS
-
CADERNO III
GUIA de Consrcios Pblicos: As possibilidades de implementao do
CONSRCIO PBLICO aborda as polticas pblicas de responsabilidade dos
municpios, apontando em cada rea de atuao as possibilidades de aes
consorciadas.
Compila experincias de Consrcios j constitudos para que Prefeitos,
Dirigentes Municipais, Dirigentes de Consrcios e Profissionais da rea
pblica possam conhecer e identificar possibilidades de atuar por meio
de Consrcios Pblicos. Nesse sentido, organiza as experincias que se
desenvolveram antes e depois da promulgao da Lei 11.107 de 6 de abril de
2005, marco legal regulatrio da gesto associada de entes federativos no
Brasil. Traz, complementarmente, informaes bibliogrficas e referncias
de instituies pblicas de ensino superior e pesquisa que tratam de temas
relacionados aos Consrcios.
Em cada caderno, ainda que com diferentes nveis de profundidade, dado os interesses especficos de cada pblico, o leitor encontrar informaes sobre aspectos polticos, jurdicos, contbeis, financeiros, administrativos e de gesto dos Consrcios Pblicos, sempre amparados por exemplos e textos de apoio para estudos mais aprofundados sobre o tema.
Quanto s referncias sobre as situaes em que o municpio pode se consorciar ou sobre os consrcios existentes, elas tm uma funo de exemplificao, uma vez que no esgotam as inmeras possibilidades que a criatividade dos gestores pblicos alcanar, na busca de soluo de problemas e do desenvolvimento dos diferentes potenciais de suas localidades.
GUIA DECONSRCIOS PBLICOS
CADERNO
3AS POSSIBILIDADESDE IMPLEMENTAO
DO CONSRCIO PBLICO
-
AUTORES:
Sinoel Batista bacharel em Matemtica, formado pela Faculdade Auxilium de Lins
SP, Mestre em Cincias pelo Programa de Integrao da Amrica Latina - PROLAM
da Universidade de So Paulo - USP, Prefeito de Penpolis e Presidente do Consrcio
Intermunicipal de Sade da Regio de Penpolis (CISA) no perodo de 1989 a 1992. Atua
como consultor na rea de formulao e gesto de polticas pblicas.
Rosangela Vecchia administradora pblica, formada pela FGV-SP e advogada pela
UNITOLEDO, Mestre em Direito pela Fundao Eurpides de Marlia. professora do
Centro Universitrio Toledo de Araatuba e consultora em administrao municipal.
Marcelo Peron Pereira bacharel em Cincias Econmicas, formado pela Faculdade
de Economia e Administrao (USP). Atua como consultor na rea de polticas pblicas e
implantao de programas socioeconmicos em projetos hidreltricos.
Maria Teresa Augusti pedagoga, consultora de gesto pblica, modernizao
administrativa, desenvolvimento social e equidade. Presidenta do Instituto Florestan
Fernandes (2000/10).
Jos Luis Hernandes arquiteto e urbanista, formado pela Faculdade de Belas Artes
de So Paulo; especialista em Gesto da Poltica de Assistncia Social pelo Ministrio do
Desenvolvimento Social (MDS) e Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC/SP).
Carlos Alberto Bachiega arquiteto e urbanista, consultor credenciado pelo Ministrio
das Cidades, especialista na elaborao de Planos Diretores Participativos, Legislaes
complementares e Planos Municipais de Saneamento Bsico.
-
Regina Clia dos Reis doutora em Cincia Poltica pela Pontifcia Universidade
Catlica de So Paulo (PUC/SP). Possui mestrado e graduao em Cincias Sociais pela
PUC/SP.
Maria Mirtes Gisolf advogada pela Faculdade de Direito de So Bernardo do
Campo. Ps-graduada em Direito e Relaes de Trabalho pela Faculdade de Direito de
So Bernardo do Campo. Diretora Jurdica do Consrcio Intermunicipal Grande ABC,
desde 2003.
Neusa Marinho de Espindola contadora formada pela Universidade Metropolitana
de Santos (UNIMES-SP). Ps-Graduada em Formao de Gestores em Polticas Pblicas
pela Universidade de Franca (UNIFRAN-SP). Contadora da Prefeitura Municipal de
Perube-SP, responsvel pela Gesto Oramentria.
Mauricio Maranho Sanches arquiteto e urbanista formado pela Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de So Paulo (FAU-USP), com ps-
graduao em Gesto Urbano-regional pela UNISANTOS, gesto de polticas pblicas
pela UNIFRAN e extenso voltada governana regional metropolitana pela UFABC
com nfase para a realizao de consrcios. arquiteto da Prefeitura de Perube desde
2002 e coordenou a elaborao do Plano Diretor local em 2006.
S
U
-
Agradecimentos
A equipe organizadora do Guia de Consrcios Pblicos agradece de forma
especial ao Dr. Vicente Carlos y Pl Trevas, Consultor da Presidncia da CAIXA, pelas
orientaes e debates realizados no incio do trabalho; e Dra. Paula Ravanelli
Losada, Assessora Especial da Secretaria de Relaes Institucionais da Presidncia
da Repblica pelo constante incentivo para a realizao do trabalho.
Agradece tambm pela contribuio na consulta organizao da base de dados
sobre os Consrcios Intermunicipais a Fundao Prefeito Faria Lima CEPAM
(Centro de Estudos e Pesquisas da Administrao Municipal) do Governo do
Estado de So Paulo.
-
SU
M
R
I
O
-
1. A LGICA DA AO CONSORCIADA 19
Descentralizao e polticas pblicas 19
O direito de acesso s polticas pblicas 21
As questes de escala 21
Os direitos de cidadania e o dever (poltico) de cooperar 22
Desenvolvimento econmico 26
Desenvolvimento local e polticas pblicas 28
Desenvolvimento e emancipao 29
2. POLTICAS PBLICAS 31
2.1. INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO 31
2.1.1. PLANEJAMENTO URBANO 31
Possibilidades de Consrcios 37
2.1.2. SANEAMENTO BSICO 38
Antecedentes 38
Caracterizao da poltica 39
Possibilidades de Consrcios 46
2.1.3. HABITAO 47
Antecedentes 47
O problema em mbito nacional 48
Princpios 52
Objetivos gerais 53
Possibilidades de Consrcios 55
-
2.1.4. TRANSPORTE E MOBILIDADE 56
Poltica Nacional de Trnsito 60
Princpios 60
Sisema Naional de Trnsito 61
Dificuldades de materializao 64
Recursos e financiamento da poltica 66
Possibilidades de Consrcios 66
2.1.5. ENERGIA 67
Possibilidades de Consrcios 68
2.1.6. VIAS PBLICAS - IMPLANTAO, MELHORIA E CONSERVAO 69
Possibilidades de Consrcios 74
2.1.7. MEIO AMBIENTE 75
Legislao e a poltica ambiental 77
Possibilidades de Consrcios 79
2.2. POLTICAS SOCIAIS 80
2.2.1. SADE 80
Princpios do modelo de ateno sade preconizado pelo SUS 81
Regionalizao e hierarquizao 83
Os nveis de ateno sade 85
Possibilidades de Consrcios 86
2.2.2. EDUCAO 87
Competncias dos entes federados 88
-
Nveis da educao previstos pela LDB 90
Modalidades educacionais 91
Possibilidades de Consrcios 93
2.2.3. ASSISTNCIA SOCIAL 95
A construo da poltica 95
Pobreza, excluso social e as vulnerabilidades 98
A organizao do modelo assistencial 99
A hierarquizao dos servios 101
Centro de Referncia da Assistncia Social (CRAS) 101
Centro de Referncia Especializado de Assistncia Social (CREAS) 102
Competncias dos entes federados 104
Possibilidades de Consrcios 106
2.2.4. SEGURANA PBLICA 108
Previso constitucional da poltica setorial 108
Conceitos 109
Compartilhamento de atribuies 109
A misso constitucional dos rgos da Segurana Pblica no Brasil 111
Polcia Federal 111
Polcia Rodoviria Federal 112
Polcia Civil 113
Polcia Militar 114
Corpos de Bombeiros Militares 115
-
Guardas Municipais 115
CONASP - Conselho Nacional de Segurana Pblica 116
Possibilidades de Consrcios 117
2.2.5. POLTICA PBLICA DE TURISMO 119
Possibilidades de Consrcios 125
2.3. O PROCESSO ORAMENTRIO E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
(LRF) 126
Possibilidades de Consrcios 132
3. PRODUTOS CAIXA PARA OS MUNICPIOS QUE QUEREM SE
CONSORCIAR 133
ANEXOS 139
ANEXO I: PARA SABER MAIS 140
Bibliografia 140
Stios na Internet 168
ANEXO II - RELAO DE CONSRCIOS NO BRASIL 174
-
19
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
1. A LGICA DA AO CONSORCIADA
Descentralizao e polticas pblicas
A Federao brasileira esteve historicamente marcada simultaneamente
pelo centralismo e pelo mandonismo local, cujas plataformas e prticas
polticas eram excludentes e centralizadoras de renda e de oportunidades.
No um acidente, portanto,
que a Constituio de 1988 venha
a ser caracterizada pelo preceito
da descentralizao poltica e por
previses que buscam assegurar a
garantia dos direitos sociais. Foi dessa
maneira, que o Pas se despediu do
autoritarismo, que sempre procurou
centralizar nas mos de poucos o
destino final do pas e a distribuio
dos benefcios de seu crescimento
econmico.
Entende-se, ainda dentro deste contexto, que muitas das lutas que se
travaram a partir de 1988 tenham se referido reforma tributria e, mais
precisamente, redistribuio da massa de impostos entre os diferentes
-
20
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
entes federados (Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios). A luta pela
autonomia municipal, que o texto constitucional consagrou, era poltica
em muitos sentidos, pois empoderava as comunidades locais, retirava das
mos de poucos a deciso burocrtica que envolvia a totalidade da nao e
trazia para o territrio local o embate do desenvolvimento econmico que
no pode ocorrer sem polticas pblicas ativas e garantidoras dos direitos
fundamentais da populao.
O pacto federativo brasileiro ao conferir, pela primeira vez em nossa
histria poltica, autonomia ao ente municipal, criou instrumentos de
interveno que esto prximos dos beneficirios efetivos das polticas
pblicas e, em especial, as que se convencionou chamar de sociais, ou
seja, educao, sade, assistncia social. Mas no se trata apenas disso.
O municpio tem autonomia para legislar sobre sua prpria organizao
territorial, com instrumentos como o Plano Diretor, cdigos de uso e
ocupao do solo, de posturas, de vigilncia sanitria etc.
Por outro lado, quando a competncia no estrita ao Municpio, h
um enorme campo para a atuao conjunta com Estados e Unio, o que
se observa nas polticas de educao, sade, assistncia social e meio
ambiente. Nessas polticas a participao popular assegurada por meio
de Conselhos, que existem nas trs esferas de governo, como por exemplo,
os Conselhos Municipal, Estadual e Nacional de Educao.
-
21
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
O direito de acesso s polticas pblicas
No possvel atingir o mago das pretenses da movimentao poltica
que conduziu Constituio de 1988 se no se compreende que, a partir
de ento, foi consagrada a ideia essencial do direito como elemento de
cidadania. A partir do marco constitucional de 1988 nascer cidado
brasileiro significa vir ao mundo dotado de direitos de vrias ordens, que
podem e devem ser exigidos do Estado, uma vez que este est obrigado a
prov-los.
No se trata, portanto, de uma faculdade, uma outorga ou uma deciso
benevolente de fazer. Ao cidado brasileiro est assegurado o acesso
educao, sade, a ser assistido quando se encontra em situao de
vulnerabilidade, direitos que devem ser observados pelos gestores das
diferentes polticas pblicas.
As questes de escala
Existem problemas que no podem ser resolvidos adequadamente em
nenhuma das escalas prprias s divises poltico administrativas de um
determinado pas ou territrio. No se solucionam exclusivamente em
mbito federal, no se esgotam nos Estados nem se encaminham no mbito
municipal. Exemplos de problemas de tal natureza podem ser encontrados
no transporte coletivo e na destinao de lixo de reas conurbadas, na
gesto de recursos hdricos e na proteo de reas de mananciais.
-
22
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
Para as polticas pblicas como as de sade, educao e assistncia social,
a Constituio Federal e respectivas leis orgnicas municipais preveem
um modus operandi que garante a articulao de gestores dos trs nveis
federativos. A articulao dos gestores se realiza tanto pela definio da
forma de atuao, quanto pelo compartilhamento de responsabilidades
entre as trs esferas da federao. Existem, portanto, critrios e regras
objetivas que fazem com que os gestores em mbito federal, estadual e
municipal sejam solidariamente responsveis por assegurar o acesso s
polticas pblicas
Os direitos de cidadania e o dever (poltico) de cooperar
H metas que s podem ser efetivamente atingidas se pessoas ou
entes se consorciam. Cada qual experimenta tais
necessidades no mbito privado: empurrar o carro
que quebrou justamente em um dia de chuva;
participar de eventos que s fazem sentido dentro
de uma comunidade (festejos de casamento,
batizados, colao de grau etc.); realizar uma
tarefa profissional, como a descrio de um
projeto complexo de engenharia, que envolve
vrias competncias. Neste mbito, privado, atua-
se segundo a prpria vontade e, o no fazer pode
ter diferentes consequncias, mas no sanes de
ordem legal ou perdas no mbito do embate poltico.
-
23
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
Vejamos a questo da cooperao no mbito pblico. O problema guarda
certa semelhana quanto sua natureza com a descrio anterior, ou seja,
preciso somar esforos para se atingir um fim. Tais esforos tm duas
direes diferentes, que no so excludentes. Uma ocorre no sentido
horizontal, ou seja, a cooperao ocorre entre instituies que esto no
mesmo plano. Neste caso, a cooperao envolve Municpios entre si,
Estados entre si, Secretarias entre si. No interessa se so os Municpios do
Rio de Janeiro e de So Paulo ou as Secretarias de Negcios Metropolitanos
e de Sade; o fato que so entes que esto dentro de um mesmo plano
organizacional no setor pblico.
A outra cooperao, no sentido vertical, ocorre entre entes de esferas
diferentes. o caso, por exemplo, do Municpio de Salvador que desenvolve
uma atividade em parceria com o Governo do Estado da Bahia, ou com a
Secretaria Municipal de Sade de uma cidade quando realiza um programa
com recursos materiais e financeiros oriundos do Ministrio da Sade.
Se pensarmos a cooperao do ponto de vista da organizao
administrativa de cada esfera de governo, veremos, contudo, que no se
trata de uma rea de especialidade como a sade ou a educao, que tm
competncias prprias, mas de um princpio que deve perpassar todas
as polticas pblicas. A cooperao , portanto, um tema transversal, que
atravessa todas as polticas pblicas, tanto no sentido horizontal (entes de
mesma esfera), como horizontal (entes de esferas distintas).
-
24
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
Deste modo, por no ter competncia prpria, ou caracterizar uma
rea de especialidade, mesmo que haja um responsvel pela cooperao
nos mbitos municipal, estadual ou federal, este gestor no subordina os
agentes que conduzem as polticas especficas, mesmo quando estes se
encontram em um ambiente em que se requer ao consorciada.
importante observar, complementarmente, que grande parte do que
chamamos de cooperao trata de matrias que representam atos de
vontade, os quais so desejveis e legtimos, mas no expressam um direito
essencial de cidadania. o caso da cooperao cultural e esportiva entre
municpios, ou mesmo a reunio de unidades territoriais de diferentes
pases (municpios e provncias, por exemplo), para fins desenvolvimento
cientfico, artstico, turstico etc.
Por outro lado, podemos afirmar que da cooperao, seja ela horizontal ou
vertical, dependem uma srie de aes no mbito pblico. Como ilustrao,
podemos citar a poltica de combate dengue, que se tem demonstrado
altamente deficiente em diferentes municpios brasileiros e que tem levado
a doena condio epidmica em muitas localidades. O problema seria
melhor combatido se houvesse um efetivo esforo articulado, tanto na ao
quanto no planejamento, entre os governos estadual, municipal e federal.
Quando isso no ocorre, nas situaes em que se instala um surto
epidmico, legtimo afirmar que a poltica de sade no foi eficiente, nem
eficaz. Os recursos pblicos, por sua vez, por no terem atingido seus fins,
foram mal utilizados e desperdiados. Setores como o de seguridade social
-
25
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
sero impactados pelo afastamento de doentes, uma vez que se impe pagar
os auxlios prprios Previdncia Social. As cidades acometidas por problemas
causados por doenas epidmicas tero seu potencial turstico diminudo,
trazendo consequncias negativas para seus moradores e para as atividades
econmicas que desenvolvem.
Nas regies fronteirias entre duas cidades do Sudeste, havia, at h alguns
anos, um problema crnico de enchentes. Para resolver o problema no seria
necessrio realizar uma obra com oramento muito grande, mas, ainda assim,
o problema persistia. Por qu? Porque, na leitura dos gestores pblicos dos
dois municpios, sendo um problema comum que ocorria nas proximidades da
divisa entre eles, o problema no era de ningum. Deste modo, a populao
pertencente aos bairros fronteirios enfrentou anos seguidos de alagamento
e de perdas patrimoniais e de algumas vidas.
O gestor pblico que necessariamente precisa realizar o esforo cooperado
para a soluo de problemas e no o faz, atenta contra os preceitos da
administrao pblica, particularmente no que se refere eficincia:
O Princpio da Eficincia veio com a Emenda Constitucional n 19/98. Pressupe que a atividade administrativa deve:
- orientar-se para alcanar resultado de interesse pblico;
- manter, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de comprovar a legalidade e avaliar resultados, quanto eficincia e eficcia da gesto oramentria, financeira e patrimonial;
- pretender garantir maior qualidade na atividade pblica e na prestao dos servios pblicos.
-
26
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
Importante ressaltar que o conceito de eficincia na gesto pblica vem
atrelado ao de eficcia. A ao eficiente, portanto, se produz o efeito
desejado, seguindo normas e padres de conduta mais adequados para
que o resultado possa ser obtido. eficaz se atinge o bom resultado, ou
seja, o resultado esperado de fato.
Se o administrador pblico se mantiver atento importncia da
cooperao compreender, a um s tempo, que no est formalmente
obrigado a cooperar, que encontra na cooperao uma faculdade, mas,
perceber com grande clareza que, em no o fazendo, em no buscando
ativamente a cooperao, poder comprometer a qualidade de sua gesto
e incorrer em um nus poltico, uma vez que a populao tem o direito
de exigir os direitos de cidadania de que est investida. Se observar,
complementarmente, que oramentos so sempre limitados e que aes
cooperadas os otimizam, encontrar ento uma motivao adicional para
somar esforos e, ao faz-lo, dignificar o mandato que recebeu de seus
concidados.
Desenvolvimento econmico
A percepo corrente sobre a natureza do desenvolvimento aquela
que o entende como exterior ao lugar, municpio ou regio. Parece,
portanto, que ele vem de fora, como produto de entidades e atores que
so maiores que o plano local e que, de certa forma, teriam o condo de
outorgar o desenvolvimento. Desse modo, a gerao de emprego e renda,
valorizao da pequena e mdia empresa, combate pobreza, reduo das
-
27
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
desigualdades, provimento de polticas pblicas de qualidade, tende a ser
visto como algo que se encontra para alm das possibilidades efetivas de
atuao de cada comunidade.
Esse modo de conceber a questo do desenvolvimento encerra dois
erros, um de natureza emprica, outro conceitual. Quanto experincia,
a prtica demonstra exausto que a capacidade de organizao, a
participao, o capital social acumulado so absolutamente fundamentais a
qualquer projeto de desenvolvimento local. De outro lado, do ponto de vista
da concepo, do conceito, quando se espera que o desenvolvimento venha
de fora, outorgado, se esquece completamente que ele uma dinmica
cultural e poltica. Desenvolvimento, portanto, em primeiro lugar uma
apropriao criativa, tanto da tradio, quanto daquilo que propriamente
novo. Sem que se compreenda essa natureza, no se consegue materializar
polticas locais que ensejem um ciclo virtuoso de desenvolvimento.
Essa compreenso fundamental, inclusive, para se definir as estratgias
que sero colocadas em prtica, os princpios que organizaro tais prticas
e a novidade que o desenvolvimento local deve ser. O desenvolvimento,
sob esse aspecto, requer a criao de um espao que lhe seja prprio, um
lcus democrtico, em que as dinmicas culturais e polticas participativas
possam ganhar substncia e, paulatinamente, enraizar o novo fazer, que
simultaneamente criado e apropriado coletivamente. Muitos municpios,
regies, comunidades, cidades as diferentes subdivises que compem os
territrios locais j se deram conta desta dimenso do desenvolvimento.
-
28
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
Desenvolvimento local e polticas pblicas
A adequada qualificao do que se compreende pelo termo
desenvolvimento nos obriga a pensar na relao que se estabelece ou
se deve estabelecer com as polticas pblicas. Tem sido feito no perodo
mais recente da histria do Pas, coincidindo com a redemocratizao,
um esforo coerente e relativamente amplo visando a incluso social.
No podemos esquecer de Programas como o Bolsa Famlia, que atinge
aproximadamente a quarta parte da populao brasileira, da melhoria,
de indicadores como o da capacidade de compra do salrio-mnimo e da
formalidade no mercado de trabalho, a expanso da cobertura de proteo
social e a estabilidade econmica. Temos ainda avanos significativos no
saneamento ambiental, aes afirmativas na rea de educao, dentre
outras conquistas significativas.
Para que essas conquistas sejam efetivamente aprofundadas e
apropriadas, ficando a salvo de descontinuidades, preciso que elas
tenham uma forte base local e que se construam a partir dessa esfera,
em um processo capilar, mas consistente. O desenvolvimento, visto sob o
ngulo do local, coloca a relao com os entes e instituies de cobertura
federal, nacional em outra perspectiva. No se trata mais de passivamente
aguardar que algum faa algo, mas de, definidos os projetos locais, solicitar
apoio e estabelecer articulaes para assegurar suas materializaes
-
29
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
Desenvolvimento e emancipao
Note-se que o modo como se conceituou o desenvolvimento carrega
em si uma perspectiva poltica, na medida em que recusa atribuir s
comunidades que habitam o espao local um papel coadjuvante em seu
processo de emancipao. Desenvolvimento local, nesse sentido, ope-se
s prticas assistencialistas, que se baseiam na lgica da caridade pblica, do
auxlio desprovido de obrigao, na ideia de que os excludos so um peso
que deve ser suportado pelas elites, um nus a ser tolerado e administrado.
Trata-se, ao contrrio, de edificar um projeto de desenvolvimento que tenha
por fundamento a participao ativa desses segmentos, que se mantm em
condio de pobreza e excluso no por falta de iniciativas prprias, mas
porque nosso pas tem uma histria de excluso dos segmentos populares,
que s muito recentemente comea a ser significativamente modificada.
Vale lembrar que no passado se preferia apostar no caminho do
apoio s grandes corporaes, aos produtores rurais de grande porte,
invariavelmente por meio de mecanismos de renncia fiscal e de
financiamento farto, deixando aos pequenos as iniciativas no mbito
da economia solidria. Essa perspectiva que quer induzir o progresso
apesar e independentemente das populaes carrega, no seu mago,
descompromisso e incompreenso dos requerimentos do desenvolvimento
local.
-
30
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. A lgica da ao consorciada.
No significa dizer que o Governo deva assumir o processo, mas que
ele apoie decisivamente esforos que se articulam em torno dos Arranjos
Produtivos Locais (APLs), das instituies que se dedicam a disponibilizar
o microcrdito, entre outras iniciativas do gnero. Pertence a esta mesma
dimenso a questo do fortalecimento dos Municpios, a capacitao
tcnica de seus quadros, seu reordenamento para atender populao e
entidades locais, em lugar de se aparelhar para responder principalmente
s demandas de outras instncias burocrticas de controle, que se
justificavam nos quadros de um arranjo federativo que no tinha como
instituto a autonomia municipal.
preciso lembrar que o desenvolvimento local remete a uma compreenso
da organizao do Pas que se baseia fortemente nas articulaes horizontais,
com a finalidade de gerar oportunidades de enfrentamento da pobreza, da
excluso e da estagnao. Seu repertrio inclui, portanto, prticas como
a das parcerias e das redes, envolvendo, ainda, outras esferas de atuao
como os governos estaduais e federais, sem ter com eles uma relao de
subordinao, em um esquema hierrquico e verticalizado.
Na apresentao das polticas pblicas, no prximo captulo, sero
indicadas vrias possibilidades de formao de Consrcios Pblicos para
fins de desenvolvimento local e regional, assim como melhoria da qualidade
de vida das populaes envolvidas.
-
31
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
2. POLTICAS PBLICAS
2.1. INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO
2.1.1. PLANEJAMENTO URBANO
Toda atividade desenvolvida no espao urbano necessita de uma
localizao fsica que a suporte. Esta necessidade instaura uma disputa
constante pelo local que melhor atenda aos interesses de cada atividade,
influenciando decisivamente o modo como as cidades crescem e se
organizam. A produo do espao urbano fruto tanto da iniciativa
privada, que o comercializa, quanto da atuao do poder pblico, que
desenvolve inmeras atividades de carter social, como educao, sade,
transporte, saneamento bsico etc. O Poder pblico e o setor privado so
corresponsveis, portanto, pela gesto do ambiente urbano existente ou
produzido.
O uso concorrente do espao urbano permite o aparecimento de situaes
de conflito, tais como: a supervalorizao de reas; a desvalorizao de
regies j ocupadas; o adensamento em certos pontos incompatvel com
a disponibilidade de infraestrutura; a supresso de reas pblicas e a
ocupao de locais inadequados s atividades humanas.
Tais situaes caracterizam cidades que no se demonstraram capazes
de implantar um efetivo planejamento territorial, que deve dispor sobre o
conjunto de objetivos e diretrizes explicitados em instrumentos legais
-
32
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
capazes de ordenar, disciplinar e orientar o uso, ocupao e a produo do
espao, assegurando o equilbrio entre os espaos de uso privado e de uso
pblico.
O planejamento territorial deve estar pautado em quatro pontos
principais:
1 - garantia de entendimento, pelo poder pblico, da necessidade de
aes de planejamento territorial;
2 - garantia da participao popular na elaborao e execuo dos
diferentes dispositivos legais criados;
3 - elaborao de instrumentos legais e urbansticos claros e condizentes
com a realidade do municpio; e
4 - reorganizao da estrutura administrativa municipal, dando condies
para a aplicao efetiva de tais instrumentos.
A participao da populao, de forma direta ou por meio de instituies,
no processo de planejamento territorial e de construo da poltica
de desenvolvimento urbano um pressuposto do Estatuto da Cidade,
assegurando compatibilidade entre as definies de planejamento e
os interesses coletivos. Esta participao pode acontecer desde a fase
de elaborao dos instrumentos legais como o Plano Diretor e Leis
complementares, at o acompanhamento de sua aplicao.
-
33
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
Por outro lado, a garantia de uma participao popular que realmente
contribua para o enriquecimento do debate, para os fins da construo
da poltica de desenvolvimento urbano, pressupe aes contnuas de
comunicao e utilizao dos canais disponveis localmente que tenham
alcance sobre a totalidade da populao.
imprescindvel que os cidados que participaro do processo tenham
compreenso do conceito de poltica de desenvolvimento urbano e sua
importncia no equacionamento dos problemas que afligem as populaes
e, tambm, de como utilizar os diferentes instrumentos criados para
alcanar tais objetivos.
Estratgias como reunies pblicas, grupos temticos, audincias
pblicas, fruns, conferncias, conselhos populares, entre outros, so
exemplos de como tentar uma participao popular efetiva.
Quanto aos instrumentos legais a serem desenvolvidos e incorporados
prtica do planejamento territorial, vale citar:
Plano Diretor Instrumento de planejamento obrigatrio para as cidades
brasileiras com mais de vinte mil habitantes; ou integrantes de regies
metropolitanas e aglomeraes urbanas; onde o Poder Pblico municipal
pretenda utilizar os instrumentos previstos no 4 do art. 182 da Constituio
Federal; ou que sejam integrantes de reas de especial interesse turstico
ou ainda, inserido na rea de influncia de empreendimentos ou atividades
com significativo impacto ambiental de mbito regional ou nacional.
-
34
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
A elaborao do Plano Diretor Municipal, que deve abranger todo
o territrio do Municpio e no somente a zona urbana, deve garantir a
ampla participao dos organismos governamentais, no governamentais,
sociedade civil e foras empreendedoras, assim como a ampla publicidade
por meio de audincias pblicas, debates e acesso de qualquer interessado
aos documentos e informaes produzidos.
O processo de elaborao do Plano Diretor um processo poltico,
democrtico e pblico na definio de pactos entre os diferentes segmentos
sociais com objetivo de definir qual a cidade que queremos, no presente
e no futuro. O eixo norteador deve ser a participao popular, garantida
mediante a constituio de rgos colegiados de poltica urbana, debates,
audincias, consultas pblicas, conferncias; planos e projetos de lei de
iniciativa popular, referendos e plebiscitos.
O Plano Diretor deve criar condies que propiciem a incluso social, criar
instrumentos que democratizem o acesso moradia digna, a regularizao
da situao fundiria de milhares de famlias, a garantia de mobilidade
urbana e ainda o acesso aos equipamentos pblicos.
Importante ressaltar que a reforma urbana no ocorrer somente pela
criao do Plano Diretor e aplicao de seus instrumentos. A questo
urbana no Brasil e seus graves problemas sociais gerados pela forma de
produo das cidades so profundos, com forte caracterizao econmica,
social e cultural. So necessrias aes mais abrangentes e reformas mais
-
35
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
profundas que propiciem maior distribuio de rendas, melhor qualidade
da educao e polticas de incluso social. Embora muitas dessas aes
no sejam de competncia do Municpio, ele tem papel fundamental na
deflagrao de processos de reformas de tais polticas.
Lei de Uso e Ocupao do Solo Lei onde esto indicados e definidos os
critrios de uso e ocupao do solo para as diferentes zonas e reas especiais
de urbanizao; as regras para novos parcelamentos de solo e, ainda, o
detalhamento dos procedimentos para implantao dos instrumentos
jurdicos e urbansticos criados no Plano Diretor.
Cdigo de Obras Estabelece regras e
normas tcnicas relativas s construes
a serem feitas na cidade, observando a
sua qualidade sanitria.
Cdigo de Posturas - Disciplina o
comportamento dos habitantes (pessoas
fsicas e jurdicas) em relao aos espaos
pblicos existentes na cidade, tais como
ruas, passeios, praas e prdios pblicos,
de forma a garantir a circulao e o
saneamento ambiental.
A estrutura administrativa, nas trs esferas de governo, est organizada
na maioria das vezes em funo das atividades e servios prestados
comunidade. Encontramos, ento, unidades administrativas ligadas s
-
36
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
polticas de sade, habitao, educao, cultura, saneamento, segurana,
esporte, transportes, assistncia social, entre outras. Cada unidade
administrativa est preocupada com suas misses especficas, o que no
raro prejudica as aes que visam as articulaes intersetoriais (sade
e saneamento, por exemplo). A especializao se for muito estrita
compromete, ainda, a compreenso de como se relacionam as diferentes
polticas com o territrio local e com o planejamento territorial. Este quadro
se agrava na instncia municipal, em relao poltica urbana, uma vez que
ela de competncia local.
A racionalidade da distribuio dos equipamentos sociais da cidade passa
pelo melhor entendimento de como ela funciona e de que forma atuar
para minimizar as desigualdades existentes, de tal modo que no ocorra
ociosidade de alguns equipamentos e sobrecarga sobre outros. essencial
dotar as administraes de uma lgica de planejamento (estratgico,
ttico e operacional) que agregue todas as informaes setoriais, que as
compreenda do ponto de vista da dinmica da cidade e que desencadeie
aes de forma integrada e planejada entre os diferentes setores da
administrao.
Alm da importncia para as polticas sociais, importante observar que
o planejamento territorial tambm crucial para a definio de uma poltica
tributria mais justa socialmente, por meio da definio de instrumentos
como impostos e taxas, em funo da forma e das caractersticas de
ocupao do territrio. Evita-se, assim, incorrer em isenes de impostos
-
37
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
e taxas, que na realidade visam beneficiar determinados grupos sociais em
detrimento do interesse coletivo, ou de iniciativas que possam propiciar
maior justia social.
Vrios programas do Governo Federal esto direcionados para apoiar
a modernizao da administrao municipal, por meio da eficcia da
arrecadao e da gesto dos gastos pblicos nos setores sociais bsicos
da educao, sade e assistncia social ou ainda pela modernizao e
fortalecimento da gesto fiscal do Municpio. O PMAT - Programa de
Modernizao da Administrao Tributria e Gesto dos Setores Sociais
Bsicos e o PNAFM - Programa Nacional de Apoio Modernizao
Administrativa e Fiscal so exemplos de iniciativas do gnero, sendo ambos
operacionalizados pela CAIXA.
Possibilidades de consrcios
Consrcio entre municpios que tenham certa identidade (pertenam mesma bacia hidrogrfica, regio metropolitana, sob influncia de grande polo industrial ou mesmo de um nico empreendimento industrial) com objetivo de prestar assistncia tcnica para elaborao de projetos regionais e para formularem diretrizes regionais quanto ao planejamento urbano, preservao de recursos hdricos, melhorias ambientais. Como objetivos secundrios, a capacitao de tcnicos na implantao de instrumentos de gesto da poltica de desenvolvimento urbano.
Consrcio com objetivo de capacitar e treinar tcnicos e mesmo executar programa de regularizao fundiria e urbanizao de favelas, recuperao de reas degradadas.
Consrcio com objetivo de realizar a gesto do patrimnio urbanstico, histrico, paisagstico e cultural.
Consrcio para realizao de assistncia tcnica em Desenvolvimento Urbano, elaborao de estudos e carteira de projetos em desenvolvimento urbano regional.
Consrcio para fortalecimento e melhoria da gesto pblica municipal.
-
38
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
2.1.2. SANEAMENTO BSICO
Antecedentes
No princpio da dcada de 1970, o governo central formulou o Plano
Nacional de Saneamento Planasa, que estabelecia as bases institucionais,
polticas e financeiras para a organizao das aes do setor. Como reflexo
das concepes autoritrias e centralizadoras que o inspiraram, o Planasa
retirou dos Municpios a prerrogativa de gesto dos servios de gua e
coleta de esgoto.
O mesmo Planasa imps aos Municpios a explorao dos servios de
gua e esgoto pelas CESBs - Companhias Estaduais de Saneamento Bsico,
que so empresas concessionrias de mbito estadual que realizavam (e na
grande maioria ainda realizam) o planejamento e a prestao dos servios,
sem nenhuma participao do Municpio concedente e nem da sociedade
civil, enfraquecendo assim a capacidade de planejamento do Municpio.
Apesar das distores do Planasa, avanos foram conseguidos
especialmente na ampliao da cobertura dos servios de gua e esgoto.
A Constituio de 1988, contudo, diferente das orientaes preconizadas
pelo regime militar, coloca o saneamento como servio pblico de carter
local, estabelecendo que a competncia e responsabilidade de geri-lo e
explor-lo esto no mbito dos Governos Municipais, ainda que a gesto
-
39
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
possa ser direta, ou por meio da concesso a outras empresas pblicas
ou privadas. O setor passou por perodos de avanos e recuos em funo
das caractersticas dos governos que se sucederam, at que recentemente,
em 5 de janeiro de 2007, promulgada a Lei Federal n. 11.445 aps dez
anos de debate no Congresso Nacional, que redefine a Poltica Nacional de
Saneamento Bsico.
Caracterizao da poltica
Compreende-se como saneamento
ambiental o grupo de aes que
objetivam garantir um territrio
salubre, ou seja, em condies de vida
saudvel para os seres humanos. Os
servios que compem uma poltica
de saneamento ambiental so o (a):
-
40
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
abastecimento de gua em quantidade e qualidade;
recolhimento, afastamento e tratamento dos efluentes domsticos
ou provenientes de outras atividades;
coleta, tratamento e disposio final adequada dos resduos slidos
(lixo), tanto os domsticos, quanto os decorrentes de outras atividades
observadas suas caractersticas e potencial de poluio ou contaminao;
limpeza urbana e controle ambiental de vetores de doenas
transmissveis e a drenagem das guas pluviais.
promoo da disciplina sanitria do uso e ocupao do solo
(normalmente constam de Lei de Uso e Ocupao do Solo);
preveno e o controle dos rudos e da poluio do ar.
Esta poltica, em funo da necessidade de grandes investimentos e de
aes de mdio e longo prazo, requer aes de planejamento de maior
intensidade e alcance, o que implica em uma melhor estruturao de
gesto.
A Lei Federal n 11.445 que define a nova Poltica Nacional para o
Saneamento, possui entre seus princpios fundamentais:
universalizao do acesso;
integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades
-
41
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
e componentes de cada um dos diversos servios de saneamento bsico,
propiciando populao o acesso na conformidade de suas necessidades e
maximizando a eficcia das aes e resultados;
abastecimento de gua, esgotamento sanitrio, limpeza urbana e
manejo dos resduos slidos realizados de formas adequadas sade
pblica e proteo do meio ambiente;
disponibilidade, em todas as reas urbanas, de servios de drenagem
e de manejo das guas pluviais adequados sade pblica e segurana da
vida e do patrimnio pblico e privado;
adoo de mtodos, tcnicas e processos que considerem as
peculiaridades locais e regionais;
articulao com as polticas de desenvolvimento urbano e regional,
de habitao, de combate pobreza e de sua erradicao, de proteo
ambiental, de promoo da sade e outras de relevante interesse social,
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento
bsico seja fator determinante;
eficincia e sustentabilidade econmica;
utilizao de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usurios e a adoo de solues graduais e progressivas;
transparncia das aes, baseada em sistemas de informaes e
processos decisrios institucionalizados;
-
42
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
controle social; a segurana, qualidade e regularidade; a integrao
das infraestruturas e servios com a gesto eficiente dos recursos hdricos.
O mesmo diploma legal define saneamento bsico como o conjunto de
servios, infraestruturas e instalaes operacionais de:
abastecimento de gua potvel (constitudo pelas atividades,
infraestruturas e instalaes necessrias ao abastecimento pblico de gua
potvel, desde a captao at as ligaes prediais e respectivos instrumentos
de medio);
esgotamento sanitrio (constitudo pelas atividades, infraestruturas
e instalaes operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposio
final adequados dos esgotos sanitrios, desde as ligaes prediais at o seu
lanamento final no meio ambiente);
limpeza urbana e manejo de resduos slidos (conjunto de atividades,
infraestruturas e instalaes operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo domstico e do lixo originrio da varrio
e limpeza de logradouros e vias pblicas);
drenagem e manejo das guas pluviais urbanas (conjunto de atividades,
infraestruturas e instalaes operacionais de drenagem urbana de guas
pluviais, de transporte, deteno ou reteno para o amortecimento de
vazes de cheias, tratamento e disposio final das guas pluviais drenadas
nas reas urbanas).
-
43
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
Quanto titularidade dos servios, a legislao apesar da demanda
de natureza municipalista optou por atribuir a qualquer ente federado
a competncia de prover servios pblicos de saneamento, facultando
delegar a organizao, regulao, fiscalizao e prestao desses servios,
nos termos do art. 241 da Constituio Federal e da Lei no 11.107, de 6 de
abril de 2005.
Prev, ainda, que o titular dos servios formular a respectiva poltica
pblica de saneamento bsico, devendo, para tanto:
elaborar os planos de saneamento bsico, nos termos da Lei;
prestar diretamente ou autorizar a delegao dos servios e definir
o ente responsvel pela sua regulao e fiscalizao, bem como os
procedimentos de sua atuao;
adotar parmetros para a garantia do atendimento essencial
sade pblica, inclusive quanto ao volume mnimo per capita de gua
para abastecimento pblico, observado as normas nacionais relativas
potabilidade da gua;
fixar os direitos e os deveres dos usurios;
estabelecer mecanismos de controle social;
estabelecer sistema de informaes sobre os servios, articulado com
o Sistema Nacional de Informaes em Saneamento;
-
44
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
intervir e retomar a operao dos servios delegados, por indicao
da entidade reguladora, nos casos e condies previstos em lei e nos
documentos contratuais.
As aes de planejamento da poltica de saneamento ambiental devem
ser compatveis com os planos das bacias hidrogrficas em que estiverem
inseridos, de forma a assegurarem a qualidade ambiental regional.
O novo marco legal define como objetivos da Poltica Federal de
Saneamento Bsico:
contribuir para o desenvolvimento nacional, promovendo reduo
das desigualdades regionais, a gerao de emprego e de renda e a incluso
social;
priorizar planos, programas e projetos que visem implantao e
ampliao dos servios e aes de saneamento bsico nas reas ocupadas
por populaes de baixa renda;
proporcionar condies adequadas de salubridade ambiental aos
povos indgenas e outras populaes tradicionais, com solues compatveis
com suas caractersticas socioculturais;
proporcionar condies adequadas de salubridade ambiental s
populaes rurais e de pequenos ncleos urbanos isolados;
-
45
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
assegurar que a aplicao dos recursos financeiros administrados
pelo poder pblico se d segundo critrios de promoo da salubridade
ambiental, de maximizao da relao benefcio-custo e de maior retorno
social;
incentivar a adoo de mecanismos de planejamento, regulao e
fiscalizao da prestao dos servios de saneamento bsico;
promover alternativas de gesto que viabilizem a sustentabilidade
econmica e financeira dos servios de saneamento bsico, com nfase na
cooperao federativa;
promover o desenvolvimento institucional do saneamento bsico,
estabelecendo meios para a unidade e articulao das aes dos diferentes
agentes, bem como do desenvolvimento de sua organizao, capacidade
tcnica, gerencial, financeira e de recursos humanos; contempladas as
especificidades locais;
fomentar o desenvolvimento cientfico e tecnolgico, a adoo
de tecnologias apropriadas e a difuso dos conhecimentos gerados de
interesse para o saneamento bsico;
minimizar os impactos ambientais relacionados implantao e
desenvolvimento das aes, obras e servios de saneamento bsico
e assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas
proteo do meio ambiente, ao uso e ocupao do solo e sade.
-
46
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
Possibilidades de consrcios
Consrcios amplos para a gesto e regulao de servios de saneamento bsico entre Municpios de uma regio, tais como: fornecimento de gua potvel, recolhimento, afastamento e tratamento de esgoto domstico, gesto dos resduos slidos. Para fins de avaliao da viabilidade econmica da implantao de equipamentos comuns, como aterros sanitrios, centrais de reciclagem, unidades de reaproveitamento de resduos de construo civil etc., importante observar a questo das distncia entre as cidades consorciadas.
Consrcios com objetivo de implantao de estruturas regionais do setor, como aterros sanitrios, centrais de resduos reciclveis, central de compostagem.
Consrcios com objetivo de modernizao e qualidade do setor, com servios de laboratrio regional, centro de formao e qualificao, fomentador de novas prticas de gesto buscando maior eficincia, poltica tarifria, regulao dos servios.
Consrcios para proteo e recuperao de mananciais de abastecimento de gua para as cidades.
Consrcios para desenvolvimento de Planos de Macrodrenagem e projetos tcnicos especficos da rea de forma a combater as enchentes.
-
47
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
2.1.3. HABITAO
Antecedentes
O processo de urbanizao acelerada pelo qual passou o Brasil a partir
da dcada de 1940 desencadeou um modelo de urbanizao pautado na
expanso da zona urbana, de forma horizontal e com baixa densidade,
impulsionado pelo planejamento, pelas polticas de financiamento e
produo habitacional e das infraestruturas de circulao e de saneamento.
Particularmente no perodo militar,
com a ao do BNH Banco Nacional de
Habitao, a disponibilidade de crdito a
juros subsidiados, voltada sempre para a
produo de imveis novos, permitiu classe
mdia das grandes cidades constituir novos
bairros e centralidades nas cidades gerando,
alm da expanso horizontal, o paulatino
esvaziamento dos centros tradicionais e
a criao de reas intermedirias (vazios
urbanos) que passaram a ser valorizadas
de forma especulativa. Os centros
tradicionais passam a ser reas possuidoras
de sofisticada infraestrutura de servios
e equipamentos urbanos com uso quase
-
48
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
exclusivo para o comrcio e prestao de servios e pouqussimo uso
residencial, sendo comum encontrarmos grandes construes e edifcios
com grande ociosidade de uso, que poderiam perfeitamente atender a
programas habitacionais.
Para os setores de menor renda, a alternativa do loteamento ou conjunto
habitacional perifrico (lotes, apartamentos ou casas prprias) consagrou-
se como sendo a opo, justificada pelo impacto do preo mais baixo dos
terrenos na franja externa das cidades. Como agravante aceleraram-se os
processos de invaso de terras e ocupao irregular de reas de risco.
A poltica habitacional como um todo, praticada por agentes pblicos,
privados e, inclusive, de forma irregular e/ou ilegal, seguiu a mesma lgica,
gerando um desenho de produo das infraestruturas na mesma direo. No
entanto, para os mais pobres, ao contrrio das novas centralidades de classe
mdia, a proviso da infraestrutura tem-se dado sempre posteriormente.
Esse modelo de urbanizao realiza fisicamente a materializao da
excluso social. No Brasil, temos mais de sete milhes de famlias que
precisam de moradias novas e dez milhes de moradias com falta de
infraestrutura bsica.
O problema em mbito nacional
A ordem de grandeza do problema habitacional no Brasil pode ser
indicada por um dficit de 5,8 milhes domiclios, sendo que a demanda
urbana corresponde a 82% (Fonte: Fundao Joo Pinheiro, 2008). A maior
-
49
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
parcela concentra-se nos Estados do Sudeste e do Nordeste, regies que
agregam a maioria da populao urbana do pas e est concentrada na faixa
de renda de at 3 salrios mnimos (89%).
O dficit habitacional urbano, pensado sob a tica da renda, concentra
a demanda sobre famlias cujo rendimento corresponde at cinco salrios-
mnimos, observando-se aumento constante da participao das unidades
familiares que esto nas faixas de renda de at dois salrios-mnimos. Este
fenmeno verificado em todas as regies do Pas, principalmente nas
metropolitanas.
A ausncia de infraestrutura urbana e saneamento ambiental
apresentam-se como problemas correlatos de grande envergadura, uma
vez que 10,2 milhes de moradias, ou seja, 32,1% do total de domiclios
urbanos durveis do Pas tm pelo menos uma carncia de infraestrutura
(gua, esgoto, coleta de lixo e energia eltrica), sendo 60,3% nas faixas de
renda de at trs salrios-mnimos. Na regio Nordeste existe mais de 4,4
milhes de moradias com esse tipo de deficincia, o que representa 36,6%
do total do Brasil.
Quase metade da populao brasileira, que corresponde a 83 milhes
de pessoas, no atendida por sistemas de coleta de esgoto e 45 milhes
carecem de servios de gua potvel. Na zona rural, a situao ainda mais
grave, posto que mais de 80% das moradias no so servidas por redes
gerais de abastecimento de gua potvel. Quase 60% dos esgotos de todo
o Pas so lanados, sem tratamento, diretamente nos mananciais de gua.
-
50
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
Este conjunto de deficincias se concentra nos bolses de pobreza das
regies metropolitanas, em especial nas regies Norte e Nordeste.
Observa-se, ainda, um adensamento excessivo (quando se calcula mais
de trs pessoas por cmodo da casa), que a realidade em mais de 2,8
milhes de domiclios urbanos, principalmente na Regio Sudeste1 , e a
depreciao dos domiclios, especialmente os edificados h mais de 50
anos.
A poltica habitacional
Se a poltica de saneamento refere-se especificamente aos objetivos de
garantir a salubridade do ambiente, ou do territrio, em consequncia das
diversas atividades humanas, a poltica habitacional ocupa-se de propiciar
as condies adequadas de moradia. Trata-se no apenas de garantir o
acesso terra urbana, mas ao direito de moradia digna e integrada aos
demais equipamentos urbanos, particularmente os de trabalho, educao,
sade, cultura, transporte e lazer.
Se considerarmos os nmeros revelados pelo Censo 2000, que informa
haver em quase 100% das cidades com mais de 500 mil habitantes,
assentamentos irregulares com moradias subnormais, no eximindo as
pequenas e mdias cidades do mesmo problema, pode-se ter uma ideia
dos desafios que enfrenta a poltica habitacional.
1 A Regio Sudeste agrega 52,9% dos domiclios com essa inadequao, sendo que o Estado de So Paulo responde por 31,7%.
-
51
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
Parte significativa deste cenrio deve ser atribuda ausncia de
uma poltica de financiamento adequada, cuja inexistncia deu causa
multiplicao de assentamentos irregulares, invariavelmente em reas
inadequadas e de risco e em situao fundiria tambm irregular.
No entanto, grande parte dos problemas esto sendo minimizados com
a implementao do PAC 1 e 2 (Programa de Acelerao do Crescimento) e
do Programa Minha Casa, Minha Vida.
O Programa Minha Casa, Minha Vida um programa habitacional do
Governo Federal que prev a construo de 1 milho de moradias num
total de R$ 34 bilhes, sendo 400 mil moradias para famlias com renda
familiar bruta at trs salrios-mnimos, mais 400 mil para a faixa de trs a
seis salrios-mnimios e 200 mil para seis a dez salrios-mnimos.
O PAC 1 tambm est viabilizando contratos de habitao, saneamento
e infraestrutura, envolvendo investimentos totais da ordem de R$ 174,8
bilhes, no perodo 2007-2010.
O PAC 2 foi lanado em maro de 2010 e prev recursos da ordem de
R$ 955 bilhes em algumas reas, tais como saneamento, transportes,
energia, cultura, meio ambiente, sade, rea social e habitao. Na rea
da habitao o Programa Minha Casa, Minha Vida ter uma nova meta:
construir 2 milhes de moradias at 2014, a maioria 60% para
famlias com renda de at R$ 1.395, que antes no tinham condies de
pagar a prestao da casa prpria.
-
52
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
Para enfrentar o desafio que a habitao representa, necessrio que
as trs esferas de governo se ocupem da construo de uma poltica que
contemple o (a):
acesso, por parte da populao de menor renda, terra urbanizada;
promoo de programas de regularizao (urbanizao e legalizao)
fundiria;
integrao e coordenao das aes nas reas urbanas centrais,
propiciando sua ocupao, em contraposio tendncia de expanso
perifrica das cidades; e
reconhecimento dos direitos sociais e constitucionais de moradia e
qualidade de vida humana.
Princpios
A Poltica Nacional de Habitao se organiza a partir dos seguintes
princpios:
direito moradia, enquanto um direito humano, individual e coletivo,
previsto na Declarao Universal dos Direitos Humanos e na Constituio
Brasileira de 1988. O direito moradia deve ter destaque na elaborao dos
planos, programas e aes, colocando os direitos humanos mais prximos
do centro das preocupaes de nossas cidades;
moradia digna como direito e vetor de incluso social, garantindo
-
53
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
padro mnimo de habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental,
mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, servios urbanos e sociais;
funo social da propriedade urbana, buscando implementar
instrumentos de reforma urbana a fim de possibilitar melhor ordenamento e
maior controle do uso do solo, de forma a combater a reteno especulativa
e garantir acesso terra urbanizada;
questo habitacional como uma poltica de Estado, uma vez que o
poder pblico agente indispensvel na regulao urbana e do mercado
imobilirio, na proviso da moradia e na regularizao de assentamentos
precrios, devendo ser, ainda, uma poltica pactuada com a sociedade;
gesto democrtica com participao dos diferentes segmentos da
sociedade, possibilitando controle social e transparncia nas decises e
procedimentos; e
articulao das aes de habitao poltica urbana de modo
integrado com as demais polticas sociais e ambientais.
Objetivos gerais
A Poltica Nacional de Habitao persegue os seguintes objetivos:
universalizar o acesso moradia digna em um prazo a ser definido
no Plano Nacional de Habitao, levando-se em conta a disponibilidade de
recursos existentes no sistema, a capacidade operacional do setor produtivo
e da construo, e dos agentes envolvidos na implementao da PNH;
-
54
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
promover a urbanizao, regularizao e insero dos assentamentos
precrios cidade;
fortalecer o papel do Estado na gesto da poltica e na regulao dos
agentes privados;
tornar a questo habitacional uma prioridade nacional, integrando,
articulando e mobilizando os diferentes nveis de governo e fontes,
objetivando potencializar a capacidade de investimentos com vistas a
viabilizar recursos para sustentabilidade da PNH;
democratizar o acesso terra urbanizada e ao mercado secundrio de
imveis;
ampliar a produtividade e melhorar a qualidade da produo
habitacional; e
incentivar a gerao de empregos e renda dinamizando a economia,
apoiando-se na capacidade que a indstria da construo apresenta em
mobilizar mo de obra, utilizar insumos nacionais sem a necessidade de
importao de materiais e equipamentos e contribuir para a gerao de
parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB).
-
55
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
Possibilidades de consrcios
Consrcios que objetivem a definio de uma poltica regional de habitao social, compatvel com as demandas e caractersticas sociais, culturais e tecnolgicas da regio;
Consrcios com objetivo de construo de unidades de produo de tijolos, blocos, telhas, aparelhamento de madeira, caixilharia etc.;
Consrcios de capacitao de mo de obra para desenvolvimento de projetos de autoconstruo ou mutires, desenvolvimento de programas complementares (gerao de renda, educao) etc.;
Consrcio Pblico para realizao de assistncia tcnica em Habitao de Interesse Social (HIS).
-
56
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
2.1.4. TRANSPORTE E MOBILIDADE
O conceito de mobilidade abrange,
de forma integrada, as polticas
setoriais de transporte e de circulao,
vinculadas poltica de desenvolvimento
urbano, objetivando proporcionar a
democratizao do acesso a todos os
espaos do territrio municipal, de uma
forma segura, socialmente inclusiva
e sustentvel apoiada na priorizao
dos meios de transportes coletivos em
detrimento dos individuais.
A qualidade do transporte urbano apresentou degradao em diversas
cidades brasileiras nas ltimas dcadas. A falta de uma rede, que, de forma
integrada, atenda aos diferentes fluxos de deslocamento de pessoas,
racionalizando e adequando os diferentes tipos de transporte, o principal
responsvel pelo atual estgio da poltica de transporte e mobilidade.
A razo tem origem no processo de urbanizao tpico das cidades
brasileiras crescimento perifrico com criao de novos centros
comerciais (multinucleados) e esvaziamento do centro original que
no teve a correspondncia dos sistemas de transportes. Este o retrato
-
57
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
resultante da desintegrao de diferentes polticas ligadas ao conceito de
desenvolvimento urbano (a urbana que cuida do uso e ocupao do solo e
o planejamento do transporte), ao qual se associa a especulao fundiria
no controlada.
Como agravante do sistema de transporte urbano, est a viso
patrimonialista das empresas operadoras em relao s linhas de nibus,
na qual o operador se sente o proprietrio da linha que opera e dos
itinerrios percorridos, defendendo de forma muitas vezes intransigente o
seu territrio.
O urbanismo brasileiro sempre se pautou no deslocamento
automobilstico, em especial o individual, que acaba levando necessidade
de grandes investimentos pblicos na soluo dos problemas gerados por
esse modelo, dificultando igualmente a implantao de sistemas integrados
de transporte.
Alm disso, o transporte coletivo urbano, da forma como hoje
planejado e produzido, funciona como indutor, nem sempre involuntrio,
da ocupao irracional das cidades. Ou seja, mesmo com baixo controle
pblico, o transporte permanece como determinante da possibilidade de
ocupao e consolidao de novos espaos, s que nesses casos servindo a
interesses particulares em detrimento do interesse pblico e coletivo.
Assim, a poltica de transporte urbano concebida de forma integrada
com o conceito de desenvolvimento urbano, incorporando os princpios
-
58
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
de sustentabilidade, com o seu planejamento e controle submetido aos
interesses coletivos, se torna importante instrumento de reestruturao
urbana e vetor de expanso controlada da cidade.
Alm disso, o modelo de mobilidade adotado nos grandes centros urbanos
brasileiros que vem, de forma quase natural, sendo reproduzido pelas
cidades de porte mdio, favorece o uso do veculo particular. Tal modelo
refora o crescimento horizontal das cidades e a fragmentao do espao,
devido flexibilidade dos deslocamentos automobilsticos (diferentemente
dos transportes pblicos, os carros podem cumprir todas as ordens de
deslocamentos, inclusive aqueles que levam a localidades de baixssima
densidade populacional). Assim, as cidades brasileiras se estruturam e se
desenvolvem para adotar o veculo particular e assegurar-lhe a melhor
condio possvel de deslocamento nas reas urbanas.
O conceito de mobilidade est relacionado durao do deslocamento,
ao lugar de permanncia que o deslocamento implica (origens e destinos)
e s tcnicas colocadas em uso para sua efetivao. A mobilidade um
atributo associado s pessoas e aos bens; corresponde s diferentes
respostas dadas por indivduos e agentes econmicos s suas necessidades
de deslocamento, consideradas as dimenses do espao urbano e a
complexidade das atividades nele desenvolvidas. Face mobilidade, os
indivduos podem ser pedestres, ciclistas, usurios de transportes coletivos
ou motoristas; podem utilizar-se do seu esforo direto (deslocamento a p)
ou recorrer a meios de transporte no motorizados (bicicletas, carroas,
cavalos) e motorizados (coletivos e individuais).
-
59
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
Necessrio considerar tanto a mobilidade, quanto o trnsito, como
processos histricos que participam das caractersticas culturais de uma
sociedade e que traduzem relaes dos indivduos com o espao, seu local
de vida, dos indivduos com os objetos e meios empregados para que o
deslocamento acontea e, dos indivduos entre si.
A mobilidade tambm pode ser afetada por outros fatores como a renda
do indivduo, a idade, o sexo, a capacidade de se orientar para realizar
deslocamento no espao urbano (compreender placas de trnsito, ler
referncias de trajeto de transporte coletivo etc.) e a possibilidade de
utilizar veculos e equipamentos do transporte. importante notar que
todas essas variveis podem implicar reduo de movimentao temporria
ou permanente.
Por todas as razes aqui expostas, necessrio tratar os deslocamentos
no apenas como a ao de ir e vir, mas a partir do conceito de mobilidade,
acrescido da preocupao com a sua sustentabilidade. Nesse sentido, a
Mobilidade Urbana Sustentvel pode ser definida como o resultado de um
conjunto de polticas de transporte e circulao, que visa proporcionar o
acesso amplo e democrtico ao espao urbano, por meio da priorizao
dos modos no motorizados e coletivos de transporte, que no gerem
segregaes espaciais, sendo socialmente inclusiva e ecologicamente
sustentvel, ou seja, decorre de iniciativas baseadas nas pessoas e no nos
veculos.
-
60
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
Poltica Nacional de Trnsito
Princpios
So os seguintes os princpios da poltica setorial:
direito ao acesso universal, seguro, equnime e democrtico ao
espao urbano;
participao e controle social sobre a poltica de mobilidade;
direito informao sobre a mobilidade, de forma a instrumentalizar
a participao popular e o exerccio do controle social;
desenvolvimento das cidades, por meio da mobilidade urbana
sustentvel;
universalizao do acesso ao transporte pblico coletivo;
acessibilidade das pessoas com deficincia ou com restrio de
mobilidade;
polticas pblicas de transporte e trnsito, poltica nacional de
mobilidade urbana sustentvel, articuladas entre si e com a poltica de
desenvolvimento urbano e a do meio ambiente;
-
61
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
a mobilidade urbana centrada no deslocamento das pessoas;
o transporte coletivo urbano como um servio pblico essencial
regulado pelo Estado;
paz e educao para cidadania no trnsito como direito de todos.
Sistema Nacional de Trnsito
No Brasil, o trnsito tem sido tratado principalmente como uma questo
atinente atuao das foras policiais e ao comportamento individual dos
usurios, no recebendo um tratamento suficientemente intenso no campo
do urbanismo, da engenharia e do planejamento2.
O Cdigo de Trnsito Brasileiro de 1998 consolidou a competncia de
gesto do trnsito urbano nos aspectos referentes ao uso das vias pblicas
nos municpios, possibilitando que todo o ciclo de gesto da mobilidade
ficasse sob a responsabilidade das Prefeituras, ou seja: planejamento,
projeto, implantao e fiscalizao. Porm, dos 5.561 Municpios brasileiros,
pouco mais de 10% implementaram seus rgos de trnsito.
A efetiva aplicao do Cdigo de Trnsito Brasileiro como norma
reguladora deste segmento to importante da vida em sociedade e o
cumprimento da Poltica Nacional de Trnsito requerem a ao articulada
de uma srie de rgos e entes, como se indica abaixo.
2 Esta seo foi elaborada a partir de resenha da publicao Cadernos Mcidades 6 - Mobilidade Urbana, Poltica nacional de mobilidade urbana sustentvel.
-
62
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
Ministrio das Cidades: coordenador mximo do SNT Sistema Nacional
de Trnsito, e a ele est vinculado o Contran Conselho Nacional de
Trnsito, e subordinado o Denatran Departamento Nacional de Trnsito.
Cabe ao Ministrio presidir o Conselho das Cidades e participar da Cmara
Interministerial de Trnsito.
Cmara Interministerial de Trnsito: constituda por dez Ministrios, tem
o objetivo de compatibilizar os respectivos oramentos.
Conselho Nacional de Trnsito: constitudo por representantes de sete
Ministrios, tem por competncia, dentre outras, estabelecer as normas
regulamentares referidas no Cdigo de Trnsito Brasileiro e estabelecer as
diretrizes da Poltica Nacional de Trnsito.
Conferncia Nacional das Cidades: prevista no Estatuto das Cidades, tem
por objetivo propor princpios e diretrizes para as polticas setoriais e para
a poltica nacional das cidades.
Conselho das Cidades: colegiado constitudo por representantes do
Estado, em seus trs nveis de governo e da sociedade civil, possui 71
membros titulares e igual nmero de suplentes, e mais 27 observadores.
Tem por objetivo estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento
urbano.
Departamento Nacional de Trnsito: rgo executivo mximo da Unio
no mbito da poltica de trnsito, cujo dirigente preside o Contran e que
tem por finalidade, dentre outras, a coordenao e a superviso dos rgos
delegados e a execuo da Poltica Nacional de Trnsito.
-
63
Guia de Consrcios Pblicos - As possibilidddes de implementao do Consrcio Pblico. Polticas Pblicas.
Cmaras Temticas: rgos tcnicos compostos por representantes
de rgos e entidades de trnsito da Unio, dos Estados ou do Distrito
Federal e dos Municpios, alm de especialistas, representantes de diversos
segmentos da sociedade relacionados com o trnsito. As Cmaras tm a
finalidade de estudar e oferecer sugestes e embasamento tcnico para
decises do Contran. So seis Cmaras Temticas, cada qual com treze
membros titulares e respectivos suplentes.
Frum Consultivo de Trnsito: colegiado constitudo por 54 representantes
e suplentes dos rgos e entidades do Sistema Nacional de Trnsito, e que
tem por finalidade assessorar o Contran em suas decises.
Sistema Nacional de Trnsito - SNT: conjunto de rgos e entidades da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, que tem por
finalidade o exerccio das atividades de planejamento, administrao,
normalizao, pesquisa, registro e licenciamento de veculos, fo