Cor Turbidez Ph t Alcalinidade e Dureza
Click here to load reader
-
Upload
anna-jessica -
Category
Documents
-
view
292 -
download
1
Transcript of Cor Turbidez Ph t Alcalinidade e Dureza

LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
COR, TURBIDEZ, PH, TEMPERATURA, ALCALINIDADE E DUREZA
MIEB – 2007/08

2
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
1. COR
1.1. Introdução
A existência na água de partículas coloidais ou em suspensão determina o aparecimento de cor. Essas partículas provêm do contacto da água com substâncias orgânicas como folhas, madeira, etc., em estado de decomposição, da existência de compostos de ferro ou de outras matérias coradas em suspensão ou dissolvidas. Pode-se distinguir:
– Cor real – devida à presença de matérias orgânicas dissolvidas ou coloidais.
– Cor aparente – devida à existência de matérias em suspensão.
A natureza das partículas que dão cor real ou aparente à água determina o tipo de processo de remoção a adoptar. Assim, a cor real, devida a partículas coloidais normalmente negativas, pode remover-se por processos de coagulação-floculação, em que a adição dum coagulante (cal, sal de ferro ou sal de alumínio), capaz de fornecer partículas positivamente carregadas, proporciona a aglutinação dos colóides, permitindo a sua separação posterior na forma de flocos, através de sedimentação. A cor aparente é susceptível de ser removida pelos processos clássicos de separação de matéria em suspensão (filtração, clarificação).
Uma água corada levanta sérias objecções da parte dos consumidores, pelas dúvidas que provoca sobre a sua potabalidade, podendo isso levar à utilização de outras fontes de água não controladas, mas esteticamente mais aceitáveis. Para além dos problemas que a cor provoca nas águas de abastecimento público, também em certas indústrias pode causar perturbação na qualidade dos produtos fabricados. Exemplos: indústrias de celulose, algodão, amido, etc.
A OMS recomenda como limite aceitável e máximo admissível de cor em águas de abastecimento público, respectivamente, 5 UC e 50 UC.
Dada a variedade de substâncias capazes de provocar cor, foi necessário arbitrar um padrão de comparação. Para esse padrão adoptaram-se soluções de cloroplatinato de potássio, que têm cor amarelo acastanhado, semelhante às águas naturais coradas. A cor duma solução com 1 mg/L de cloroplatinato de potássio (K2PtCl6) corresponde a uma unidade de cor, UC, conforme a definição de Hazen.
Os métodos de determinação de cor baseiam-se na comparação da amostra com:
– Discos de vidro corados (método de Lovibond); – Soluções-padrão a diferentes unidades de cor (comparação visual directa – tubos de Nessler);
– Soluções-padrão a diferentes unidades de cor, através de métodos fotoeléctricos.
1.2. Método fotoeléctrico
Reagentes Solução-padrão a 500 UC: dissolver 1.245 g de Cloroplatinato de Potássio e 1.000 g de CoCl2.6H2O em 1000 mL de Ácido Clorídrico a 100 mL/L (10 %).
Procedimento Preparar padrões a partir da solução-padrão, em balões de 50 mL, conforme indica a Tabela 1.
Ler a absorvância dos padrões a λ = 455 nm (entre 385 nm e 470 nm) e traçar a curva de calibração do espectrofotómetro – absorvância vs cor. Usar branco de água destilada.

3
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
Obtida a curva de calibração, ler a absorvância da amostra e obter a cor aparente. Filtrar ou centrifugar a amostra (se estiverem presentes matérias em suspensão), ler a absorvância do filtrado e determinar a cor real.
Tabela 1. Volumes de solução-padrão e água para preparação dos padrões
Padrão Solução-padrão Água destilada UC V/mL Va /mL 5 0.5 49.5 10 1.0 49.0 15 1.5 48.5 20 2.0 48.0 25 2.5 47.5 30 3.0 47.0 40 4.0 46.0 50 5.0 45.0
2. TURBIDEZ
2.1. Introdução
A turbidez ou turvação duma água é causada por diversos materiais em suspensão, de tamanho e natureza variados, tais como, lamas, areias, matéria orgânica e inorgânica finamente dividida, compostos corados solúveis, plâncton e outros organismos microscópicos.
A presença destes materiais em suspensão numa amostra de água causa a dispersão e a absorção da luz que atravessa a amostra, em lugar da sua transmissão em linha recta. A turbidez é a expressão desta propriedade óptica e é indicada em termos de unidades de turbidez (NTU – Nephelometric Turbity Unit).
Existem vários métodos de determinação da turbidez:
– Visuais: comparação directa da amostra com soluções-padrão de diferente turvação previamente preparadas.
– Instrumentais: método nefelométrico – utilização de um dispositivo óptico (turbidí-metro) que mede a razão entre as intensidades de luz dispersa numa determinada direcção (normalmente perpendicular à incidência), e de luz transmitida.
– Método espectrofotométrico: medição da razão entre as intensidades de luz transmitida e de luz emitida, através de um espectrofotómetro.
Do ponto de vista sanitário, a importância da turbidez deve-se fundamentalmente a razões:
– Estéticas: é comum considerar-se uma água turva como poluída.
– De filtrabilidade: em tratamento de águas, a filtração torna-se mais difícil, ou mesmo mais onerosa, com o aumento da turvação.
– De desinfecção: a desinfecção duma água é tanto mais díficil quanto maior é a sua turvação, uma vez que esta diminui o contacto do desinfectante com os microrganismos.
2.2. Reagentes
Água isenta de turbidez: filtrar água destilada com uma membrana de 0.2 µm de porosidade.

4
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
Solução-padrão de formazina (400 NTU): num balão de 100 mL, misturar 5 mL da solução I e 5 mL da Solução II. Deixar repousar durante 24 h a 25 oC ± 3 oC e diluir até à marca do balão.
Solução I: dissolver 1.000 g de sulfato de hidrazina, (NH2)2.H2SO4, (ATENÇÃO: reagente cancerígeno) em água destilada e diluir até 100 mL.
Solução II: dissolver 10.00 g de hexametilenotetramina, (CH2)6N4, em água destilada e diluir até perfazer 100 mL.
2.3. Procedimento
A turbidez duma amostra deve ser determinada no próprio dia da recolha, caso contrário, deve armazenar a amostra no escuro, num período máximo de 24 h.
Método espectrofotométrico Preparar a curva de calibração do espectrofotómetro a 580 nm (absorvância vs turbidez).
Preparar padrões como indica a Tabela 2 em balões de 50 mL. Branco de água destilada.
Tabela 2. Volumes de solução-padrão e água para preparação dos padrões
Padrão Solução-padrão a 400 NTU Água destilada NTU V/mL Va /mL 4 0.5 49.5 20 2.5 47.5 50 4.0 46.0 80 10.0 40.0 120 15.0 35.0 160 20.0 30.0 200 25.0 25.0
Agitar a amostra e verter para a cuvete do espectrofotómetro. Ler a absorvância, contra o branco de água destilada, a 580 nm, e comparar com a curva de calibração.
Método nefelométrico (não disponível) Calibração do turbidímetro: seguir as instruções do manual do aparelho. Se não existir uma escala pré-calibrada, preparar curvas de calibração para as várias gamas do turbidímetro. Verifique a calibração, utilizando um padrão em cada gama do instrumento.
Leitura da turbidez: para amostras com turbidez menor que 40 NTU, agitar vigorosamente a amostra e libertar as bolhas de ar. Colocar a amostra no tubo do turbidímetro e ler a turbidez directamente da escala do aparelho ou através da calibração apropriada. Para amostras com turbidez maior, proceder a diluições de modo que a turbidez se situe entre 30 NTU e 40 NTU.
3. pH
Por definição: ⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−=
+
mol/LpH Hc
log
O pH mede a actividade do ião-hidrogénio, ou seja, a acidez do meio. Pode-se, genericamente, definir pH como a relação numérica que expressa o equilíbrio entre os iões H+ e os OH–. A escala de pH vai de 0 a 14. pH = 7.0 indica neutralidade. pH > 7.0 denota aumento da alcalinidade, águas básicas. pH

5
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
< 7.0 indica aumento da acidez, águas ácidas. Quando o pH baixa, a corrosividade da água geralmente aumenta, trazendo para a solução ferro e manganésio, por exemplo, que lhe dão um gosto desagradável. Valores de pH altos também podem atacar os metais.
Para a vida aquática, o pH deve situar-se entre 6.0 e 9.0. O pH altera a solubilidade e, por isso, a disponibilidade de muitas substâncias, mas também afecta a toxicidade de substâncias como o ferro, chumbo, crómio, amoníaco, mercúrio e outros elementos.
Medir no momento da amostragem, sendo possível, e na hora da análise. Usar eléctrodo de pH ou fitas de pH.
4. TEMPERATURA
A temperatura duma água potável deverá ser, no Inverno, superior à temperatura do ar, e inferior no Verão. O valores a fixar dependem, por isso, da região considerada. No caso de Portugal, adoptaram-se os valores de 12 oC e de 25 oC.
Além de ter um efeito tóxico directo, a temperatura afecta a solubilidade e a toxicidade de muitos outros parâmetros. Geralmente, os sólidos dissolvem-se melhor a quente, enquanto os gases preferem águas mais frias para se dissolverem. O sol é a principal fonte de aquecimento das águas naturais.
Águas industriais provocam muitas vezes poluição térmica, nomeadamente das centrais nucleares, indústrias metalúrgicas, química e petrolífera. Numa habitação, o volume de água utilizado é cerca de 0.5 m3/d. Numa central nuclear, só para arrefecimento, usam-se 45 m3/s, equivalentes a 8 milhões de habitações.
Temperaturas demasiado altas limitam a disponibilidade de oxigénio podendo levar à morte da fauna.
Medir, usando um termómetro, no momento da amostragem, se possível, e na hora da análise.

6
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
5 ALCALINIDADE
5.1. INTRODUÇÃO
A alcalinidade da água é principalmente devida à presença de sais de ácidos fracos e/ou a bases fortes ou fracas. Estas substâncias são capazes de neutralizar ácidos pelo que se considera a alcalinidade duma água como a medida da sua capacidade para neutralizar ácidos, ou como reflectindo a sua capacidade protónica.
A alcalinidade das águas naturais é fundamentalmente devida a hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos, correspondendo às três principais formas de alcalinidade. Outros materiais podem também contribuir para a alcalinidade das águas naturais. No entanto, o seu contributo é de tal modo insignificante que pode ser ignorado. Habitualmente, em águas naturais, a alcalinidade, como CaCO3, varia entre 10 mg/L e 350 mg/L.
A proveniência e natureza dos iões que contribuem para a alcalinidade deixam antever uma relação directa entre as formas de alcalinidade presentes e o valor de pH da água (hidróxido – dissociação duma base forte; carbonatos e bicarbonatos – dissociação dum ácido fraco, ácido carbónico).
Tal como já se referiu, a natureza básica das substâncias causadoras de alcalinidade proporciona a sua avaliação através de neutralização por adição dum ácido forte.
Do ponto de vista sanitário a alcalinidade não tem significado relevante, mesmo para valores elevados (e. g., 400 mg/L de CaCO3). No entanto as águas de alta alcalinidade são desagradáveis ao paladar e a associação com pH elevado, excesso de dureza e de sólidos dissolvidos, no conjunto, é que podem ser prejudiciais.
Nos processos de tratamento de água, ou de águas residuais, a alcalinidade tem grande importância sempre que estão envolvidas operações como a coagulação ou o amaciamento. A alcalinidade é também um parâmetro fundamental no controlo da corrosão. Por outro lado, a alcalinidade é um dos parâmetros a ter em conta em esgotos industriais susceptíveis ou não de tratamento biológico.
Para protecção da vida aquática, a capacidade de tamponamento deve ser pelo menos igual a 20 mg/L. Sendo a alcalinidade muito baixa (abaixo de 20 mg/L), pode haver descidas rápidas do pH, devidas a chuvas e/ou descargas de efluentes ácidos.
5.2 Métodos de determinação
A determinação da alcalinidade pode ser feita volumétrica ou potenciometricamente, por titulação com uma solução aferida dum ácido forte.
O método potenciométrico dá determinações mais precisas visto que não é afectado pelo cloro residual, pela cor e turvação das soluções e pelos erros visuais do operador. Deve ser usado quando a alcalinidade total (em CaCO3) é inferior a 10 mg/L.
5.3 Interferências
Gases dissolvidos que contribuem para a acidez ou alcalinidade, como o CO2, o H2S e o amoníaco, podem ser perdidos ou adquiridos durante a amostragem, conservação da amostra ou titulação. Por isso, deve proceder-se cuidadosamente durante estas operações tendo ainda o cuidado de executar a titulação imediatamente após a abertura do recipiente que contém a amostra.
A amostra deve ser protegida do contacto com a atmosfera durante a análise.
5.4 Titulação com um ácido forte

7
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
Considere-se as curvas de titulação de diferentes bases com um ácido forte (Figura 1). Recorde-se que uma base forte está em solução completamente dissociada fornecendo iões OH– (curva superior, Kb infinito). Da observação da curva verifica-se que, a pH = 10, todos os iões OH– foram neutralizados. Nota-se também que o ponto de equivalência se desloca cada vez mais para baixo na escala de pH, à medida que a força da base diminui, verificando-se simultaneamente um estreitamento da variação de pH no ponto de equivalência. Para a titulação do carbonato (Kb ≈ 10–4), e pela análise da curva
correspondente, verifica-se que os iões CO32– estão neutralizados a pH = 8.3, passando a iões
bicarbonato, HCO3–. Por sua vez, o bicarbonato (Kb ≈ 10–8) é totalmente neutralizado a pH = 4.5,
convertendo-se em ácido carbónico.
Genericamente, a titulação duma solução aquosa de alto valor de pH, conduziria à curva da Figura 2. O primeiro ponto de inflexão, pH = 8.3, corresponde à 1.a fase de titulação, e termina quando a fenolftaleína muda de vermelho para incolor. O volume de titulante gasto inclui a alcalinidade devida aos hidróxidos e aos carbonatos e denomina-se alcalinidade à fenolftaleína ou Título Alcalimétrico (TA). O segundo ponto de inflexão, pH = 4.5, corresponde à conversão do ião bicarbonato em ácido carbónico, e o volume de titulante gasto corresponde a um valor de alcalinidade dito alcalinidade total, ou Título Alcalimétrico Completo (TAC).
Figura 1. Titulação de bases com HCl. Figura 2 Titulação de 25.0 mL de Na2CO3 a 0.100 mol/L.
Dos valores determinados para a alcalinidade à fenolftaleína e total podem concluir-se das três formas de alcalinidade – hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos – assumindo, embora incorrectamente, que não coexistirá, em solução, alcalinidade devida a hidróxidos e bicarbo-natos.
Ter-se-á para a alcalinidade:
14
12
10
8
6
4
2
0 0 15 30 45 60 75 90
VHCl, 0.100 mol/L/mL
pH
14
12
10
8
6
4
2
0 0 15 30 45 60 75 90
VHCl, 0.100 mol/L/mL
pH
Kb ∞
10–2
10–4
10–6
10–8
10–10

8
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
Apenas hidróxido: amostras com alcalinidade devida unicamente a OH– têm um pH > 10. A titulação completa-se a pH = 8.3 (fenolftaleína), e então a alcalinidade à fenolftaleína é igual à alcalinidade devida a hidróxidos.
TA = [OH–] = TAC
Apenas carbonatos: amostras com a alcalinidade apenas devida aos carbonatos têm pH ≥ 8.3. No ponto de viragem da fenolftaleína todo o carbonato foi convertido em bicarbonato, mas apenas isso. A conversão do bicarbonato em ácido carbónico só se verifica no ponto de viragem do alaranjado de metilo.
[ ]−= 23CO
21TA e [ ] TATAC 2CO2
3 == −
Hidróxidos e carbonatos: as amostras que contenham alcalinidade devida a OH– e a CO32– têm,
normalmente, pH > 10. O volume de titulante gasto entre a viragem da fenolftaleína e do alaranjado de metilo compreende a metade da alcalinidade devida aos carbonatos, isto é, apenas a conversão dos bicarbonatos em ácido.
[ ] ( )TATAC −=− 2CO23 [ ] [ ]−− += 2
3CO2OHTA
[ ] TACTA−=− 2OH [ ] [ ]−− += 23COOHTAC
Carbonatos e bicarbonatos: amostras que contenham CO32– e HCO3
– terão pH > 8.3 e, normalmente, inferior a 11. A viragem da fenolftaleína corresponde à titulação de metade dos carbonatos e a viragem do alaranjado de metilo à totalidade dos carbonatos e bicarbonatos.
[ ] TA2CO23 =− [ ]−= 2
3CO21TA
[ ] TATAC 2HCO3 −=− [ ] [ ]−− += 323 HCOCOTAC
5.5 - MÉTODO DA TITULAÇÃO VISUAL
5.5.1 - Reagentes
Solução-padrão de carbonato de sódio, 0.025 mol/L: secar 3 g a 5 g de Na2CO3 a 250 oC durante 4 h. Arrefecer num exsicador. Pesar 2.5 g ± 0.2 g, transferir para um balão de 1 L e dissolver. A validade desta solução é de uma semana.
Solução de ácido sulfúrico (0.05 mol/L) ou ácido clorídrico (0.1 mol/L): diluir 2.7 mL de H2SO4 concentrado (d = 1.84) ou 8.3 mL de HCl concentrado (d = 1.19) em água destilada e perfazer o volume até 1000 mL. Titular com solução-padrão de carbonato de sódio (usar 10 mL) até pH = 4.5.
Solução de hidróxido de sódio, 10 g/L: dissolver 1 g de NaOH em água destilada e perfazer o volume até 100 mL.
Solução alcoólica de fenolftaleína: dissolver 0.5 g de fenolftaleína em 50 mL de álcool etílico e 50 mL de água destilada. Adicionar lentamente, a solução de NaOH agitando sempre até se obter uma solução rósea persistente.
Solução de alaranjado de metilo, 0.5 g/L: dissolver 0.5 g de alaranjado de metilo em água destilada e perfazer o volume a 1000 mL.
Solução de ácido sulfúrico, 0.005 mol/L: medir 100 mL da solução de ácido 0.05 mol/L para um balão de 1000 mL aferido e completar com água destilada.

9
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
Solução de tiossulfato de sódio, 0.1 mol/L: dissolver 25 g de Na2S2O3.H2O em água destilada e perfazer 1000 mL.
5.5.2. - Equipamento e material de laboratório
– Balões de 100 mL e 1000 mL aferidos
– Conta-gotas
– Matrazes de 250 mL
– Bureta aferida e graduada em 0.02 mL
– Pipeta de 100 mL aferida
5.5.3. - Procedimento
Preparação da amostra A presença de cloro livre pode afectar a indicação da cor durante a determinação, podendo ser
removido pela adição de uma gota de tiossulfato de sódio, 0.1 mol/L. Normalmente utiliza-se um volume de amostra de 100 mL mas, para águas com um teor de alcalinidade muito baixo, deve-se usar 200 mL.
5.5.4. - Determinação
Alcalinidade pela fenolftaleína
Medir 100 mL de água para um matraz. Se a água foi refrigerada deve deixar-se atingir a temperatura ambiente. Adicionar 10 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína; titular até ao desaparecimento da coloração rósea.
Se o volume de ácido gasto for inferior a 5 mL, faz-se nova titulação agora com solução de ácido sulfúrico 0.005 mol/L. Se as águas não apresentam coloração rósea pela adição de solução de fenolftaleína diz-se terem “um valor nulo de alcalinidade pela fenolftaleína”.
Alcalinidade pelo alaranjado de metilo
Pipetar 100 mL de água a analisar para um matraz. Se a água foi refrigerada deve-se deixar atingir a temperatura ambiente. Adicionar 4 gotas de solução de alaranjado de metilo. Titular com a solução de ácido sulfúrico 0.05 mol/L, até se observar a viragem do indicador de amarelo para alaranjado.
Se o volume de ácido gasto for inferior a 0.5 mL, repete-se a determinação utilizando como titulante uma solução de ácido sulfúrico 0.005 mol/L.
Se as águas apresentam coloração alaranjada logo que se adiciona a solução de alaranjado de metilo indicam “um valor nulo de alcalinidade pelo alaranjado de metilo”.
5.5.5. - Cálculos
A viragem utilizando como indicador a fenolftaleína verifica-se a pH = 8.3, e a pH = 4.5 com o alaranjado de metilo. A alcalinidade pelo alaranjado de metilo designa-se também por alcalinidade total da água. A alcalinidade, Alc, é calculada pela expressão:
mol/L1000
mmol/LH
a
ác +
××=c
VVAlc
Vác é o volume de ácido gasto na titulação, Va é o volume de amostra e cH+ é a concentração molar de

10
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
hidrogeniões na solução ácida. Esta deve ser padronizada, em triplicado, por titulação com a solução-
padrão de carbonato de sódio até pH = 4.5. Sendo Vp o volume de padrão, fica: ác
pH 05.0mol/L V
Vc×=
+
,
para ambas as soluções ácidas, nas concentrações referidas.
5.5.6. - Apresentação dos resultados Os resultados podem ser apresentados em mg/L de CaCO3, AlcCaCO3, fazendo, para tal,
corresponder 50 mg/L de CaCO3 a 1 mmol/L de Alc. O resultado apresenta-se arredondado às décimas.
Deve indicar-se o valor de pH no ponto de viragem ou o indicador utilizado:
“AlcCaCO3 a pH ______” = ______ mg/L ou
“AlcCaCO3 pela fenolftaleína” = ______ mg/L
5.6. MÉTODO DA TITULAÇÃO ELECTROMAGNÉTICA (não fazer)
O método consiste na titulação de uma água em análise, por meio de um ácido forte, até um valor de pH previamente seleccionado. É um método particularmente indicado para águas de baixa alcalinidade ou quando a cor, turvação e sólidos suspensos interferem na titulação visual, e se pretende um valor mais rigoroso.
5.6.1. - Reagentes
Solução de ácido sulfúrico (0.05 mol/L) ou ácido clorídrico (0.1 mol/L): diluir 2.7 mL de H2SO4 concentrado (d = 1.84) ou 8.3 mL de HCl concentrado (d = 1.19) em água destilada e perfazer o volume até 1000 mL. Titular com solução-padrão alcalina.
Solução de ácido sulfúrico (0.01 mol/L) ou ácido clorídrico (0.02 mol/L): medir 200 mL da solução anterior para um balão de 1000 mL aferido e completar com água destilada.
5.6.2. - Equipamento e material de laboratório
– Medidor de pH, em que se possam fazer leituras de 0.05 unidades
– Eléctrodos de vidro e de referência ou eléctrodo combinado
– Agitador magnético
– Copos de 250 mL
– Bureta aferida e graduada em 0.02 mL e pipeta de 100 mL aferida
5.6.3 - Procedimento
Preparação da amostra Pipetar 100 mL da amostra para um copo e deixar estabilizar à temperatura ambiente, se
necessário.
Determinação Calibrar o medidor de pH seguindo as instruções do aparelho. Introduzir os eléctrodos e uma
barra magnética no copo que contém a amostra. Adicionar lentamente ácido titulante até atingir o(s) ponto(s) de viragem seleccionado(s). Indicam-se (Tabela 3) os seguintes valores de pH, como pontos de equivalência de acordo com o teor de alcalinidade, expressa em CaCO3.

11
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
Tabela 3. Pontos de equivalência
AlcCaCO3 Alcalinidade total Alcalinidade à fenolftaleína mg/L pH pH
30 4.9 8.3 150 4.6 8.3 500 4.3 8.3
Para valores de AlcCaCO3 inferiores a 20 mg/L, titular até pH = 4.5 e registar o volume gasto. Continuar a adicionar o titulante até pH = 4.2 e registar novamente o volume gasto.
Normalmente utiliza-se o volume da amostra de 100 mL. No entanto, para águas com um teor de alcalinidade muito baixo, deve usar-se 200 mL.
5.6.4. - Cálculos
De novo, a alcalinidade é calculada pela expressão:
mol/L1000
mmol/LH
a
ác +
××=c
VVAlc
Vác é o volume de ácido gasto na titulação, Va é o volume de amostra e cH+ é a concentração molar de
hidrogeniões na solução ácida.
Com uma amostra de 100 mL e uma solução ácida com cH+ = 0.1 mol/L o valor da alcalinidade,
expressa em mmol/L, tem o valor numérico do volume de titulante consumido, expresso em mL.
Se AlcCaCO3 < 20 mg/L, o seu valor é calculado pela expressão:
( )mol/L
200050
mg/LH
a
2.45.4CaCO3 +
×−
×=c
VVVAlc
em que V4.5 e V4.2 são os volumes de ácido gasto até ao primeiro ponto de viragem (pH = 4.5) e o volume gasto para ir de pH = 4.5 até um valor de pH inferior em 0.3 unidades (pH = 4.2).
5.6.5 - Apresentação dos resultados Os resultados são normalmente apresentados em mg/L, referidos ao CaCO3.
Deve sempre ser indicado o valor de pH utilizado na determinação. O resultado deve ser apresentado arredondado às décimas, quando se refere a CaCO3, e às centésimas, quando referido a mmol/L.

12
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
6. DUREZA
6.1. INTRODUÇÃO
A dureza duma água é causada pela presença de sais minerais dissolvidos, primariamente catiões bivalentes incluindo cálcio, magnésio, ferro, estrôncio, zinco e manganésio. Os iões de cálcio e magnésio são normalmente os únicos presentes em quantidades significativas; portanto, a dureza é geralmente considerada como uma medida do teor em cálcio e magnésio na água.
A dureza pode ser determinada rapidamente por titulação. O teste tradicional para a sua determinação envolve o ajuste do pH a 10.0 ± 0.1, com um tampão amónio, e a adição de indicador negro de eriocromo T (EBT), para titulação com uma solução 0.01 mol/L de Na2EDTA (sal bi-sódico de ácido etilenodiaminotetracético). O EDTA forma um complexo quelato solúvel quando adicionado à solução de certos catiões metálicos. Estando presente uma pequena quantidade do indicador numa solução que contenha Ca2+ e Mg2+, a pH = 10.0 ± 0.1, a solução adquire a coloração vermelho tinto. Com a adição de EDTA, o cálcio e o magnésio serão complexados, e quando todo o cálcio e magnésio forem complexados, a solução vira de vermelho tinto para azul, marcando o fim da titulação.
O ião magnésio deverá estar presente para originar um ponto final satisfatório. Para assegurar esta condição, é adicionada ao tampão uma pequena quantidade de sal de MgEDTA. A duração da titulação deverá ter um limite de 5 min, para minimizar a tendência de precipitação de CaCO3.
A alcalinidade relaciona-se com a dureza porque a fonte mais habitual de alcalinidade são as rochas de carbonatos (calcário), que são sobretudo CaCO3. Se uma grande percentagem da alcalinidade for CaCO3, então a dureza é praticamente igual à alcalinidade, se ambas forem expressas como CaCO3.
Uma água dura (pesada) contém carbonatos metálicos, sobretudo CaCO3, e por isso tem alcalinidade elevada. Inversamente (a menos que os carbonatos sejam de sódio e/ou potássio, que não contribuem para a dureza), uma água leve (macia) também tem alcalinidade baixa e baixa capacidade de tamponamento, ficando mais susceptível a contaminações ácidas, naturais ou antropogénicas.
Habitualmente, uma água doce natural tem uma dureza total, expressa como CaCO3, à volta de 35 mg/L, podendo apresentar valores muito mais elevados, sem qualquer risco para a saúde. Os sais de cálcio e os seus iões são habituais na água e abundam em zonas de solos calcários ou dolomíticos (Sul de Portugal). O ataque das rochas calcárias por CO2 dissolvido ou a dissolução de sulfatos é a origem natural de dureza. As zonas graníticas caracterizam-se por produzirem águas mais doces (Norte de Portugal). A Tabela 4 apresenta uma classificação das águas de consumo quanto à dureza e as suas implicações na qualidade. Autores diferentes apresentam valores-limite e classificações diferentes.
Tabela 4. Classificação das águas de consumo quanto à dureza (CaCO3) e qualidade
Quanto à dureza Quanto à dureza e qualidade Dureza Dureza Tipo de água mg/L
Tipo de água mg/L
Muito macias 0 a 60 Boa qualidade < 150 Macias 60 a 150 Qualidade média 150 a 300
Medianamente duras 150 a 300 Qualidade aceitável 300 a 600 Duras > 300 Difícil amaciamento > 600
O corpo humano requer diariamente de 0.7 g a 2.0 g de cálcio. No entanto, excessos de cálcio podem criar tendência para a formação de cálculos renais.

13
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
O impacto mais importante da dureza na vida aquática parece ser o efeito benéfico dos iões Ca2+ e Mg2+, baixando a toxicidade de outros iões metálicos, nomeadamente chumbo, cádmio, crómio e zinco. Geralmente, quanto mais dura for a água, menos tóxica ela é para a vida aquática. Nas águas duras, alguns iões metálicos formam precipitados insolúveis e precipitam, ficando indisponíveis para os organismos.
A dureza pode ter origem industrial. As próprias indústrias têm exigências diversas quanto à dureza das águas que utilizam (Tabela 5). A dureza não-carbonatada, denominada dureza permanente (por oposição aos carbonatos e bicarbonatos de cálcio e magnésio, que se denominam dureza temporária), resulta da combinação de iões Ca2+ e Mg2+ com iões Cl– e SO4
2–. Nos processos de amaciamento, há geralmente troca de iões Na+ pelos iões Ca2+ e Mg2+.
As águas duras aumentam o consumo de sabões e detergentes e tendem a formar incrustações nas tubagens e máquinas.
Tabela 5. Valores de dureza (CaCO3) aconselhados em utilizações industriais
Dureza Tipo de água mg/L
Lacticínios < 180 Conservas em geral 50 a 85
Conservas de frutos e legumes 100 a 200 Branqueamento de pastas 0 a 50
Têxteis 0 a 50 Bebidas gasosas não-alcoólicas 250
6.2. REAGENTES
Solução-Tampão: 1) Dissolver 16.9 g de NH4Cl em 143 mL de NH4OH concentrado. Adicionar 1.25 g de sal magnésio de EDTA e diluir até 250 mL com água destilada.
2) Caso não exista o sal magnésio de EDTA, dissolver 1.179 g de sal bi-sódico de EDTA bi- -hidratado (grau de reagente analítico) e 780 mg de MgSO4.7H2O, ou 644 mg de MgCl2.7H2O, em 50 mL de água destilada. Adicione esta solução a 16.9 g de NH4Cl e 143 mL de NH4OH concentrado com mistura, e dilua até 250 mL com água destilada.
Armazene a solução 1) ou 2) num recipiente de plástico, ou borossilicato, no máximo até 1 mês. Manter bem rolhado para evitar perdas de amoníaco, NH3, ou dissolução de CO2. Um dispensa-dor automático é recomendável.
Indicador: Negro de Eriocromo T (EBT): sal de sódio de ácido 1-(1-hidroxi-2-naftilazo)-6- -nitro-2-naftol-4 sulfónico. Dissolver 0.5 g em 100 g de 2,2´,2´´-nitrilotrietanol (trietanolamina) ou 2-metoximetanol (etileno-glicol-monometil-éter). Adicionar 2 gotas por 50 mL de solução a ser titulada. Ajustar o volume se necessário.
Titulante EDTA Padrão, 0.01 mol/L: pesar 3.723 g de EDTA bi-sódico (grau reagente analítico); dissolva em água destilada e dilua até 1000 mL. Titular esta solução com uma solução-padrão de carbonato de cálcio (usar 15 mL desta) e guardá-la em garrafas de polietileno ou borossilicato.
Solução-padrão de carbonato de cálcio: pesar 1.000 g de CaCO3 anidro (de boa qualidade analítica) num matraz de 500 mL; colocar um funil e adicionar, lentamente, pequenas porções de HCl (1:2), até que o carbonato esteja todo dissolvido. Adicionar 200 mL de água destilada e levar à ebulição alguns

14
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
minutos, para remover o CO2. Arrefecer, adicionar 2 a 3 gotas de vermelho de metilo e ajustar a cor da solução até obter uma cor alaranjada, usando NH4OH, a 3 mol/L, ou HCl (1:2), conforme seja necessário. Transferir quantitativamente para um balão de 1000 mL, e diluir até ao traço com água destilada. Esta solução tem [CaCO3] = 1.00 mg/mL ou 10.0 mmol/L = 10.0 µmol/mL.
6.3. PROCEDIMENTO
6.3.1. - Tratamento da amostra por digestão ácida (não fazer)
Tratando-se duma amostra altamente concentrada em matéria orgânica, tal como no caso dum esgoto ou água muito poluída, deve fazer-se um pré-tratamento da amostra, por digestão ácida. No caso duma amostra pouco concentrada em matéria orgânica (água límpida ou pouco turva), não é necessário.
6.3.2. - Material Placa de aquecimento, matrazes (150 mL), lavados com ácido e passados por água destilada.
6.3.3. . Reagentes Indicador de alaranjado de metilo, HNO3 concentrado e H2SO4 concentrado.
6.3.4. - Procedimento Agitar a amostra e pipetar 50 mL da amostra para um matraz. Se a amostra não está acidificada,
adicionar H2SO4 concentrado até ao ponto final de viragem do indicador, e 5 mL de HNO3; adicionar ainda alguns cacos de porcelana ou equivalente. Aquecer lentamente até à ebulição e deixar evaporar até restarem entre 15 mL e 20 mL. Adicionar 5 mL de HNO3 concentrado e 10 mL de H2SO4 concentrado. Evaporar até que se forme fumo denso e branco de SO3. Se a solução não está límpida, adicionar 10 mL de HNO3 e repetir a evaporação. Aquecer para remover todo o HNO3. Todo o ácido nítrico foi removido, quando deixa de se formar fumo e quando a solução se torna límpida. Não deixar nunca secar a amostra durante a digestão. Arrefecer e diluir até 50 mL com água destilada.
6.3.5. - Titulação da amostra
A amostra deve estar à temperatura ambiente. Seleccione um volume de amostra que necessite menos de 15 mL de EDTA, e complete a titulação no espaço de 5 min, medidos a partir da adição do tampão. Não sabendo quanto vai gastar de EDTA, dilua 25.0 mL de amostra até cerca de 50 mL, com água destilada, num recipiente de porcelana (ou outro apropriado). Adicione entre 1 mL e 2 mL de solução-tampão. Normalmente, 1 mL será suficiente para dar um pH de 10.0 a 10.1. Deve substituir a solução-tampão se o pH, no fim da titulação, não for igual a 10.0 ± 0.1.
Adicione 1 ou 2 gotas de solução de indicador. Se a amostra não virar para vermelho, tente quantidades diferentes de amostra e/ou tampão. Depois da cor mudar, adicione lentamente o titulante EDTA padrão, com agitação contínua, até que desapareça a cor avermelhada. Adicione as últimas gotas com intervalos de pelo menos 3 s. No ponto final, a solução apresenta uma cor azul.
Para valores de dureza abaixo de 5 mg/L, pode ser necessário usar volumes mais elevados de amostra (de 100 mL a 1000 mL), sendo o tampão e o indicador aumentados proporcionalmente.
6.4. CÁLCULOS
A dureza exprime-se em termos de massa de CaCO3 por unidade de volume, usualmente mg/L. Faz-se a correspondência entre o volume de EDTA gasto na titulação da amostra, VEDTA, e o volume (ou

15
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
massa) de CaCO3, titulando a solução-padrão de EDTA com a solução-padrão de CaCO3, para obter o título da solução de EDTA, TEDTA, que é o volume (ou a massa) de CaCO3 por volume de EDTA, habitualmente mL/mL (ou mg/mL). Fazer a padronização em triplicado, com 5 mL de solução-padrão de cada vez.
Va é o volume de amostra.
mL
mL/mLmL1000mg/L a
EDTAEDTA
EDTA,CaCO3
V
TVDureza ×
×=

16
Documento adaptado das aulas de Elementos de Engenharia do Ambiente – João Peixoto
7. SEGURANÇA NO LABORATÓRIO
Nunca esquecer que o laboratório é um local eventualmente perigoso, e que as nossas acções menos reflectidas podem trazer perigo acrescido para nós mesmos e para os colegas.
No laboratório, usar sempre bata de protecção, não comer, não fumar, não pousar objectos pessoais nas bancadas e não ter comportamentos desleixados. Não esquecer que podem ser contaminados por infecções e/ou parasitoses veiculadas pela água, se menosprezarem os cuidados básicos de higiene na manipulação das amostras.
Com compostos voláteis corrosivos e/ou tóxicos, usar luvas, máscara e óculos de protecção. Usar a hotte sempre que indicado. Não aproximar chamas de material ou reagentes inflamáveis.
Ler as especificações sobre a perigosidade dos reagentes.

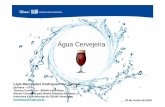


![Aula 3 - Dureza [Modo de Compatibilidade]engbrasil.eng.br/pp/em/aula3.pdf · Tópicos Abordados Nesta Aula Ensaio de Dureza. Dureza Brinell. Dureza Rockwell. Aula 3 Prof. MSc. Luiz](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5b5cd2c07f8b9aa1428ceed6/aula-3-dureza-modo-de-compatibilidade-topicos-abordados-nesta-aula-ensaio.jpg)














