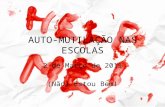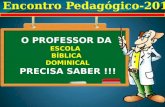Da Mutilação Do Saber
-
Upload
celinhog12 -
Category
Documents
-
view
11 -
download
4
Transcript of Da Mutilação Do Saber
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
DA MUTILAO DO SABER SUBJETIVIDADE MUTILADA:Verdade, Governamentalidade e Participao
PAULO DE TARSO DE CASTRO PEIXOTO1
RESUMO
O campo problemtico deste artigo vem tratar sobre a mutilao dos saberes e suas relaes com a produo dos modos de sentir, pensar e agir a vida, por sua vez, mutilados. Apresenta-se, inicialmente, a construo epistmica fundada nos princpios da ordem, reduo e fragmentao e suas relaes com a lgica disciplinar. Contexto sustentado por discursos e saberes ordenados e naturalizados como verdadeiros. Problematiza-se acerca da cotidianidade escolar, suas normatizaes ligadas gesto e governo do tempo, do espao e suas ntimas relaes com a gesto dos contedos disciplinares. O artigo faz um percurso histrico descontnuo para tratar da construo das prticas, discursos e saberes disciplinares, suas relaes e implicaes no campo da educao. Ao final, analisam-se vrias condies institudas na cotidianidade das relaes escolares que no so levadas, de direito e de fato, discusso entre educadores, direo, alunos, pais e comunidade. Conclui-se que nunca se dever concluir acerca de temas que se referem aos interesses coletivos, afirmando a necessidade de anlise sobre o estatuto da educao, da escola no contemporneo, para a no produo de uma pedagogia individualizante e mutiladora. Palavras-chave: saber, subjetividade, mutilao.
ABSTRACT
The field problem is the article on treating the mutilation of knowledge and their relationship to the production of modes of feeling, thinking and acting life, in turn, mutilated. It is, initially, the epistemic construction founded on the principles of order, and reduce fragmentation and its relationship with the disciplinary logic. Background knowledge and supported by speeches and ordered naturalized as true. Questions are about school routine, its regulations related to the management and government of the time, space and its intimate relations with the management of disciplinary content. The article is a history to deal with the discontinuous construction practices, discourses and disciplinary knowledge, relationships and their implications in education. The final study, a number of conditions imposed in the routine of school relationships are not taken, in law and fact, the discussion between educators, management, students, parents and community. It is never to conclude on issues that relate to collective interests, saying the need for analysis on the status of education, the school for not in the contemporary production of a individualization pedagogy' and mutilated.
Keywords: knowledge, subjectivity, mutilation.
1 Professor da Ps-graduao em Prticas Transdisciplinares, Educao, Sade e Violncia FUNEMAC - Maca (RJ)Professor Convidado do Curso de Especializao em Sade Mental ENSP/FIOCRUZ Rio de Janeiro (RJ).
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
INTRODUO
Olhares perdidos. Olhares cansados. A paisagem a de um oceano de desejos que visam outros lugares. Talvez lugares que faam mais sentido para suas vidas! Olhar todos os dias para tantas palavras, tantos conceitos, tantos aforismos que, na sua maior parte, no se conectam com a experincia da vida em ato! Ocupar este lugar o de estar desatado, uma grande parte do tempo, do curso da vida, do desenrolar das coisas que explodem do lado de fora!
Sentar-se todos os dias no mesmo lugar. Olhar para a nuca da mesma pessoa, quase todos os dias. Olhar, por sua vez, para uma prtica que tem seu parentesco com as prticas monsticas. Horrios de orao, horrios disso e daquilo, marcados com preciso (FOUCAULT, 1998).
Sem contar com os horrios das disciplinas que so divididas cartesianamente. Tudo to dividido e to separado, assim como o paralelismo psicofsico que Descartes tanto preconizara, valorizando o atributo pensamento em detrimento das experincias das paixes, do corpo, das emoes. Nesta instncia, o estado das coisas o de aprender a v-las separadas uma das outras, ou como Morin afirmou:
[...] Mas radicalmente, os prprios desenvolvimentos do sculo XX e da nossa era planetria fizeram com que nos defrontssemos cada vez mais amide e, de modo inelutvel, com os desafios da complexidade. Nossa formao escolar e, mais ainda, a universitria nos ensina a separar os objetos de seu contexto, as disciplinas umas das outras para no ter que relacion-las. Essa separao e fragmentao das disciplinas incapaz de captar o que est tecido em conjunto, isto , o complexo, segundo o sentido original do termo (MORIN, 2005a, p. 18).
Decorre da que toda uma tradio desde Plato - passando pelas prticas monsticas crists, atravessando o sculo XVII com Descartes vem preconizar um mundo ideal, uma viso de mundo que detesta as experincias efervescentes de vida. Ser preciso separar, fragmentar, esquizofrenizar a produo de conhecimento, valorizando-se o mundo ideal e assptico das ideias.
Nesta esfera, vemos que a escola e a universidade valorizam em demasia a razo, o mundo iluminado das ideias. Viso de mundo na qual a racionalizao das coisas e da vida produz objetos a serem estudados para, com efeito, serem compreendidos. Aquilo que inteligvel pela razo ter a bela forma, sendo esta a razo de ser da razo.
No entanto, a educao pouco verte a sua ateno para a resoluo de problemas. Est mais interessada em transmitir aquilo que j est culturalmente e, paradigmaticamente, pronto. A educao movimenta, em geral, suas prticas com um estoque de prontos, de conhecimentos e saberes. O negcio ser o de transmitir atravs de uma viso mutilada dos saberes, uma viso de mundo mutilada.
A educao encurrala-se nas suas prprias promessas. Promessas, produzindo a esperana de uma garantia de conhecimentos e competncias para, por sua vez, poder garantir um lugar ao sol no mercado de trabalho.
O negcio da educao ser o de reeditar a lgica platnica e cartesiana de transmisso de contedos, valorizando, por sua vez, uma racionalidade que se liga diretamente a uma razo de Estado. Razo que deseja ocupar todos em seus dispositivos, esquadrinhando a vida social e individual, regulando-a, normatizando-a e
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
otimizando-a. Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Projeto platnico de uma cidade que funciona em nome da razo, tendo como governante, por conseguinte, um filsofo.
Vemos a reedio da regulao da vida coletiva e individual, colocando sobre suas mentalidades a rgua que medir aquilo que necessrio ou no para cada um e, com efeito, para cada comunidade. Normatizar o individual e os coletivos, colocando-os nas normas cientficas, polticas, jurdicas e religiosas.
A palavra norma etimologicamente significa esquadro (CANGUILHEM, 1978). Normatizar a vida individual e coletiva ser colocar cada um no esquadro. Logo, ser preciso regular e normatizar para otimizar o tempo e os espaos sociais. Ser preciso criar rguas e quadrados que sirvam para preencher a vida individual e coletiva em tempos bem regulados e normatizados.
Otimiza-se o tempo da escola: a cada ano contedos especficos que sero transmitidos em massa para uma massa de heterogneos indivduos singulares. Uma massa de conceitos congestiona a subjetividade de crianas e adolescentes.
A educao sofre de congesto. Assistimos obesidade das prticas educacionais, atravs do transbordamento de conhecimentos que produzem o fastio, a inapetncia em ter que estudar.
Este artigo tem como campo problemtico trs eixos, a saber: 1o - O eixo formativo de saberes e verdades: a maneira como a mutilao dos
saberes produz a mutilao do olhar, mutilando-se, consequentemente, a viso sobre a vida, sobre as relaes e sobre o mundo. Nesta esfera, os modos de subjetividade e os modos sentir, pensar e agir so, geometricamente, governados pelos discursos disciplinares, naturalizados como verdades.
2o O eixo de prticas normativas e disciplinares: a subjetividade dos alunos governada por prticas que disciplinam maneiras de se conduzir no interior da cotidianidade escolar. Decorre da a ao da governamentalidade que normatiza como cada um dever se comportar no interior de uma dada prtica (FOUCAULT, 2008). Nesta instncia, poderemos nos perguntar: at que ponto as prticas disciplinares vm contribuindo para a passividade e desinteresse dos alunos na relao com os processos de ensino/aprendizagem? Quais as relaes entre a organizao curricular em disciplinas segmentadas e o processo de seleo para o ingresso universidade e outros espaos?
3o O eixo dos modos de constituio dos modos de ser dos professores e alunos na relao com o primeiro e segundo eixos. Terceiro momento que versar sobre as expresses manifestadas nos modos de sentir, pensar e agir dos alunos e professores na relao com as formaes discursivas e as prticas de governamentalidade, esta sendo compreendida como o processo de normatizao das subjetividades para funcionar adequadamente num determinado tempo e espao.
1 - DA MUTILAO DOS SABERES ORDEM DOS DISCURSOS
Pela introduo problematizamos as condies da educao na sua relao com as prticas de normatizao, regulao e otimizao da vida individual e social. Por
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
sua vez, esta seo tem como inspirao o trabalho de Edgar Morin (2005b), trabalho que vem interrogar sobre a mutilao do saber e, com efeito, a produo de uma perspectiva complexa do pensamento, da educao. Morin nos provoca olhar para alm da fumaa que, nela mesma, habituamo-nos a confundir a direo das nossas vidas, da nossa autonomia, da nossa participao nos processo sociais.
Escrever sobre a mutilao dos saberes ser poder problematizar sobre a construo de um modo de organizar o conhecimento, produzindo, por sua vez, um modo especfico de compreender a vida.
Esta viso de mundo que corresponder a uma viso de vida est ligada diretamente organizao do conhecimento. Segundo Morin:
Qualquer conhecimento opera por seleo de dados significativos e rejeio de dados no significativos; separa (distingue ou disjunta) e une (associa, identifica); hierarquiza (o principal, o secundrio) e centraliza (em funo de um ncleo de noes-chave); estas operaes, que se utilizam da lgica, so de fato comandadas por princpios supralgicos de organizao do pensamento ou paradigmas, princpios ocultos que governam nossa viso das coisas e do mundo sem que tenhamos conscincia disso (MORIN, 2005b, p.10).
Apoiados pela perspectiva desse autor, poderemos, numa primeira anlise, apresentar a perspectiva epistmica que, por definio, movimenta nossos olhares, nossa vida, nossas relaes e, com efeito, a cotidianidade das prticas em educao. Reeditamos, mesmo sem perceber, princpios que foram formulados em nome da racionalizao da vida e, com efeito, tinham como objetivo encontrar a verdade, movimentando-se atravs de ideias claras e distintas. Encontraremos na aventura cartesiana do pensamento o paradigma, diramos, essencial para que a produo das disciplinas se produzisse, doravante.
Depararemo-nos com o princpio da disjuno, separando o sujeito pensante (ego cogitans) e a coisa a ser entendida (res extensa). A formulao deste princpio separa o sujeito que compreende daquele ou daquilo que ser o seu objeto de observao. Ainda, segundo Morin (2005b) o paradigma disjuntivo produziu progressos ao conhecimento cientfico. No entanto, as consequncias deste princpio revelaram-se no interior do sculo XX.
Tal disjuno, rareando as comunicaes entre o conhecimento cientfico e a reflexo filosfica, devia finalmente privar a cincia de qualquer possibilidade de ela conhecer a si prpria, de refletir sobre si prpria, e mesmo de se conhecer cientificamente. Mais ainda, o princpio de disjuno isolou radicalmente uns dos outros os trs grandes campos do conhecimento cientfico: a fsica, a biologia e a cincia do homem (MORAN, 2005b, p.12).
O efeito do princpio disjuntivo foi o de produzir outra artificializao no processo do conhecimento: reduzir a complexidade s partculas mais simples. O processo de produo de conhecimento veio ter como projeto a hiperespecializao tcnica ordenado em disciplinas e alm disso, despedaar e fragmentar o tecido complexo das realidades, e fazer crer que o corte arbitrrio operado no real era o prprio real (MORIN, 2005b, p.12).
Vemos da nascer o incio das marcaes territoriais disciplinares. Estas se organizando em conjuntos delimitados de saberes, princpios, produzindo, por sua vez, seus objetos de pesquisa e de interveno. No entanto, a episteme racionalista e idealista precisar de outro princpio para trabalhar com os princpios disjuntivos e reducionistas: o princpio da Ordem.
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
Ao mesmo tempo, o ideal do conhecimento cientfico clssico era descobrir, atrs da complexidade aparente dos fenmenos, uma ordem perfeita legiferando uma mquina perptua (o cosmos), ela prpria feita de microelementos (os tomos) reunidos de diferentes modos em objetos e sistemas (MORIN, 2005b p. 12).
Temos, com estes trs princpios, os fundamentos de uma episteme que no apenas prometeu a verdade, o conhecimento claro e distinto. Produziu esperana na subjetividade coletiva de uma vida em nome do progresso, da liberdade, da iluminao para se encontrar o verdadeiro caminho, caminhando pela luz da razo. Caminho do projeto que se desenvolveu de acordo com a exaltao progressiva de uma sociedade de indivduos, de sujeitos da razo (GAUCHET, 2008).
A racionalidade produzida por esta episteme vem otimizar o olhar, valorizando a medida, o clculo, a matematizao e formalizao dos fenmenos viventes, da vida social.
Tal conhecimento, necessariamente, baseava seu rigor e sua operacionalidade na medida e no clculo; mas, cada vez mais, a matematizao e a formalizao desintegraram os seres e os entes para s considerar como nicas realidades as frmulas e equaes que governam as entidades quantificadas. Enfim, o pensamento simplificador incapaz de conceber a conjuno do uno e do mltiplo (unitat multiplex). Ou ele unifica abstratamente ao anular a diversidade, ou, ao contrrio, justape a diversidade sem conceber a unidade (MORIN, 2005b, p. 12).
O projeto cartesiano ganhar a sua potncia com a gesto do conhecimento, atravs da sua individualizao em disciplinas. Assim como cada conhecimento um artifcio humano para a compreenso e ao sobre um determinado acontecimento, as disciplinas so artifcios humanos para o governo de um dado territrio de saber. As disciplinas produziram a sua superespecializao, mas, com efeito, produzindo uma inteligncia cega (MORIN, 2005b). Esta inteligncia cega est de acordo com a produo da mutilao do conhecimento.
A antiga patologia do pensamento dava uma vida independente aos mitos e aos deuses que criava. A patologia moderna da mente est na hipersimplificao que no deixa ver a complexidade do real. A patologia da ideia est no idealismo, onde a ideia oculta a realidade que ela tem por misso traduzir e assumir como a nica real. A doena da teoria est no doutrinarismo e no dogmatismo, que fecham a teoria nela mesma e a enrijecem. A patologia da razo a racionalizao que encerra o real num sistema de ideias coerente, mas parcial e unilateral, e que no sabe que uma parte do real irracionalizvel, nem que a racionalidade tem por misso dialogar com o irracionalizvel (MORIN, 2005b, p. 15).
Pelo que precede, compreende-se que a superespecializao disciplinar vem enrijecer as fronteiras entre as disciplinas, produzindo, por sua vez, dogmatismos e doutrinarismos. Decorre desta experincia que os saberes vo sendo tomados como verdadeiros, como verdades a serem seguidas incontestavelmente. Toda uma produo discursiva vai produzindo-se em nome de uma racionalizao, ela prpria, prometendo garantias, certezas, para balizar nossos olhares, enquanto docentes, nas nossas prticas, mutilando o olhar dos discentes: uma vez que recebem informaes fragmentadas, sem conexo entre elas e, com efeito, sem conexo com a vida! Nesta esfera, toda uma ordem do discurso vem se apoiar num suporte institucional que no se reduz escola. Este suporte institucional se distribui pelo arquiplago de disciplinas,
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
com seus conceitos, axiomas e discursos; se distribui no interior dos estabelecimentos que se ligam produo do conhecimento, eles mesmos, contribuindo para a reinscrio de uma vontade de verdade que se dissemina pelo tecido social. Foucault a este respeito, afirmar:
Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de excluso, apoia-se sobre um suporte institucional: ao mesmo tempo reforada e reconduzida por todo um compacto conjunto de prticas como a pedagogia, claro, como o sistema dos livros, da edio, das bibliotecas, como as sociedades desde os sbios de outrora, aos laboratrios de hoje (FOUCAULT, 2006, p. 17).
2 DA DISCIPLINA DOS CORPOS AO CORPO CONTEUDSTICO DISCIPLINAR: GOVERNAMENTALIDADE, ECONOMIA DO TEMPO, ESPAO E SABERES
Quais so as relaes do modelo curricular disciplinar com a gesto dos indivduos e coletividade produzida pelas prticas disciplinares? A cotidianidade das salas de aula segue, ainda, o modelo disciplinar, com a distribuio do tempo, um espao distribudo, homogeneizando as diferenas e, por sua vez, uniformizando os contedos para distribu-los massivamente?
Aclimataremos, para o fio da nossa anlise, a inveno do dispositivo disciplinar, ele mesmo, produzindo ressonncias na organizao do currculo em disciplinas, no presente da nossa histria, como veremos.
O sculo XIX se desenvolveu pela gide da Revoluo Francesa de 1789, na tentativa de cumprir a sua trplice determinao: de uma sociedade construda em nome da liberdade, da fraternidade e igualdade.
Para cumprir esta promessa, o Estado inventar dispositivos de distribuio dos indivduos e coletividades, na tentativa de governar uma sociedade em profundo estado de mutao, quer seja no plano das relaes e trocas sociais, quer seja, no limite das suas instituies.
Uma das suas prticas foi a de disciplinar, no tempo e no espao, indivduos e coletividades pela arte das distribuies (FOUCAULT, 1987). Nesta condio histrica, colocar cada indivduo no seu lugar e, em cada lugar um tipo de indivduo, torna-se uma premissa peremptria para as promessas de uma sociedade que se organizou em torno da produo econmica e, com efeito, da explorao do homem sobre o homem. O tempo e o espao precisam se mover em nome da produtividade.
No entanto, ser preciso quadricular os espaos: os hospitais tornando-se espaos de cuidados, mas, por sua vez, um filtro:
A vigilncia mdica das doenas e dos contgios a solidria de toda uma srie de outros controles: militar sobre os desertores, fiscal sobre as mercadorias, administrativas sobre os remdios, as raes, os desaparecimentos, as curas, as mortes, as simulaes. Donde a necessidade de distribuir e dividir o espao com rigor (FOUCAULT, 1987, p. 124).
A arte das distribuies comparecer nas fbricas do incio do sculo XVIII, assim como na cotidianidade militar e, com efeito, na escola1. Em 1762 poderemos j encontrar o modelo atual de seriao e homogeneizao, ultrapassando o sistema anterior que consistia no trabalho do aluno por alguns minutos com o mestre, enquanto os outros dezenas e dezenas ficavam ociosos. Turmas seriadas, individualizando as
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
relaes, com alunos colocados uns ao lado dos outros, em filas ordenadas, sob o olhar do mestre. A ordenao por fileiras, no sculo XVIII, comea a definir a grande forma de repartio dos indivduos na ordem escolar:
[...]filas de alunos na sala, nos corredores, nos ptios; colocao atribuda a cada um em relao a cada tarefa e cada prova; colocao que ele obtm de semana em semana, de ms em ms, de ano em ano; alinhamento das classes de idade umas depois das outras; sucesso dos assuntos ensinados, das questes tratadas segundo uma ordem de dificuldade crescente. E nesse conjunto de alinhamentos obrigatrios, cada aluno segundo sua idade, seus desempenhos, seu comportamento, ocupa ora uma fila, ora outra; ele se desloca o tempo todo numa srie de casas; umas ideais, que marcam uma hierarquia do saber ou das capacidades, outras devendo traduzir materialmente no espao da classe ou do colgio essa repartio de valores ou dos mritos. Movimento perptuo onde os indivduos substituem uns aos outros, num espao escondido por intervalos alinhados (FOUCAULT, 1987, p. 126).
Verificamos ressonncias entre o modelo disciplinar de gesto do tempo e do espao com a episteme que movimenta as disciplinas curriculares. Docilizar os corpos, tornando-os disciplinados para que se dediquem aos interesses institucionais, dispondo cada um num lugar especfico para uma ao determinada2. Experincia que homogeneza e coloca em ordem a multido de alunos. Multido perigosa para a nova ordem escolar.
Por sua vez, ser preciso colocar em ordem a multiplicidade de uma sala de aula. O princpio epistmico de ordem ser encontrado na articulao com a arte disciplinar de dispor em celas a multiplicidade de indivduos que tendero desordem. A ttica de colocar em ordem, homogeneizando os alunos por faixa etria, homogeneizou, de certa maneira, as suas experincias e, com efeito, pde-se enquadr-los em conhecimentos que poderiam ser passados em massa.
Vale ressaltar que a experincia de especializao demogrfica separando as idades para cada classe e a especializao social dedicando para cada segmento social um determinado tipo de discurso e saber vem tomar sua forma consistente a partir do sculo XVII:
(...) primeiro, no sculo XVII, a especializao demogrfica das idades de 5-7 a 10-11 anos, tanto nas pequenas escolas como nas classes inferiores dos colgios; em seguida, no sculo XVIII, a especializao social de dois tipos de ensino, um para o povo; e o outro para as camadas burguesas e aristocrticas. De um lado, as crianas foram separadas das mais velhas, e de outro, os ricos foram separados dos pobres. Em minha opinio, existe uma relao entre esses dois fenmenos. Eles foram as manifestaes de uma tendncia geral ao enclausuramento, que levava a distinguir o que estava confundido, e a separar o que estava apenas dintinguido, uma tendncia que no era estranha revoluo cartesiana das ideias claras, e que resultou nas sociedades igualitrias modernas, em que uma compartimentao geogrfica rigorosa substituiu as promiscuidades das antigas hierarquias (ARIS, 2006, p. 120).
A experincia do enquadramento tem a sua familiaridade com a Botnica do sculo XVIII. Esta esquadrinhou, colocando em quadros de gneros, classes e espcies as plantas e animais. Colocar no quadrado institucional a multiplicidade social, reduzindo sua perigosa e contagiante fora, docilizando-a ao processo de individualizar em massa, este foi o projeto da sociedade nascente do sculo XIX. Individualiza-se, disciplinarmente, o corpo social, colocando-o em ordem. Assim como
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
um astrnomo coloca em ordem as constelaes, planetas e estrelas conforme o seu ponto de vista e interesses.
Disciplinar o corpo coletivo, individualizando-o, para retirar a sua fora: microfsica do poder que ser definida como celular (FOUCAULT, 1987). Desta maneira, colocar em ordem os alunos ser fragmentar suas experincias para que no se contagiem uns com os outros. Separar serialmente, colocar em fileiras, ordenando o tempo dedicado a cada disciplina: estratgias que colocam, lado a lado, as prticas disciplinares com os contedos disciplinares.
Por sua vez, fragmentar a relao entre aquele que detm o saber daqueles que o consumiro ser necessrio para que a ordem seja mantida. O tempo ser marcado para que cada disciplina seja aplicada com destreza. As disciplinas sero divididas dentro de um tempo determinado. Disciplinas curriculares, diviso do tempo, ordenao do espao, fragmentao das relaes sero, doravante, a frmula que docilizar a cotidianidade dos espaos escolares. Governamentalidade (FOUCAULT, 2008) que conduz o desejo, as maneiras de sentir, pensar e agir de cada um a acreditar naturalmente em todo este conjunto de prticas, discursos e saberes, produzindo, por sua vez, indivduos dceis e disciplinados nos comportamentos, gestos e na assimilao dos conhecimentos. A disciplina um princpio de controle da produo do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualizao permanente das regras (FOUCAULT, 2006, p. 36).
Toda uma economia do tempo, dos espaos, dos saberes e comportamentos coexistiro, quer seja no limite das instituies, quer seja na subjetividade de cada aluno. Daqui para frente sentar em filas, esperar o tempo para outra disciplina, esperar o tempo para o recreio, s falar quando o professor interrogar, introjetar cada vez mais um nmero maior de contedos sem contestar -, vem se tornar natural: para alunos, professores e sociedade.
Naturalizam-se os processos de disciplinarizao: ser preciso um aluno bem disciplinado para que possa assimilar e fixar uma quantidade imensa de conhecimentos disciplinares. O conhecimento precisar ser enciclopdico, para que cada um possa ser algum na vida.
Decorre desta coexistncia entre as prticas disciplinares e contedos disciplinares uma economia do tempo que regular o tempo destinado para cada atividade e, com efeito, para a docilizao dos comportamentos ajustados para uma boa aprendizagem.
3 DAS SUBJETIVIDADES MUTILADASApoiados nas sees anteriores, interrogamos como as subjetividades de
docentes e discentes entram em relao e, com efeito, quais so as possveis manifestaes nos seus modos de sentir, pensar e agir, uma vez que vivem a mesma experincia fragmentada da mutilao dos saberes.
Professores que se filiam a uma doutrina. Horrios de trabalhos mutilados: correria de um lado para o outro. Falta de tempo para sua formao permanente. Desinteresse em outras reas, fragmentando o olhar, reduzindo-se disciplina a que
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
est doutrinado. Olhar fragmentado, desejo mutilado. Escolas pblicas sem condies de trabalho, violncia. Escolas privadas que lutam para manter seus alunos matriculados, professores cobrados: qualidade total, eficincia. A escola precisa ser eficiente para que os alunos sejam aprovados em concursos. O objeto no a produo do conhecimento, a descoberta, a criatividade, a resoluo de problemas, a autonomia, a construo de valores sensveis que se ligam experincia da alteridade, da empatia e compartilhamento de experincias.
Em meio s experincias escolares, vemos alunos sonolentos e desestimulados. Uns tomados pela sensao de perigo, representada pelo conhecimento novo que vir pela frente. A esta experincia Pichon-Rivire (1982) designou de ansiedade paranide. A sensao de nunca saber, o sentimento de impotncia e de nunca acabar o que se tem a aprender, vem ganhar corpo no corpo docilizado pelas prticas disciplinares e contedos disciplinares.
Decorre da que outra experincia advm desta primeira: aquela que diz respeito ansiedade depressiva (PICHON-RIVIRE, 1982). O sentimento de estar sendo testado o tempo todo, a sensao de precisar dar conta o tempo todo de todos os contedos, invadem a subjetividade dos alunos. Weiss a este respeito nos dir:
A aprendizagem se d acompanhada de ansiedade paranide, em vista do perigo representado pelo conhecimento novo, e de ansiedade depressiva, pela perda simultnea de um esquema referencial e de certos vnculos que estariam envolvidos na aprendizagem (WEISS, 2002, p. 20).
Neste domnio de experincias fragmentadas, professores e alunos, a um s tempo, constroem uma viso de mundo, por sua vez, fragmentada. O esforo de inmeros professores em manter-se atualizados no garante a produo de uma perspectiva complexa em educao e, por sua vez, em suas relaes. No entanto, ser preciso exercitar uma recusa acerca de inmeras situaes e prticas que se mantm institudas ao longo do tempo. Instituies de prticas que se naturalizaram na cotidianidade escolar3. Vejamos, a seguir, algumas dessas instituies.
3.1. Do ensino enciclopdico
Crianas e adolescentes tomam como naturais assimilar os conhecimentos disciplinares. A escola vem reproduzindo o modelo de acumulao de saberes e conhecimentos dos quais uma grande parte ser esquecida. Esquecimento derivado do desuso destes mesmos conhecimentos. Uma vez que eles so fixados ou memorizados para responder s exigncias institucionais provas, trabalhos etc. quando no mais utilizados ou, ainda, conectados a outros conhecimentos, sero, naturalmente, esquecidos. Esquecimento produzido pelo desuso do conhecimento introjetado.
Pelo que precede, poderemos afirmar que a quantidade de contedos que precisam ser assimilados, acomodados e fixados na subjetividade dos alunos torna-se uma tarefa humanamente impossvel. Este projeto do conhecimento enciclopdico distancia-se do projeto de uma educao para a vida, para a resoluo de problemas, utilizando-se os conhecimentos disciplinares numa perspectiva complexa e no fragmentar, como historicamente se reproduz.
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
O projeto do ensino enciclopdico vem se ligar instituio da seleo desnaturada, como veremos a seguir.
3.2. Da seleo desnaturadaO conhecido livro de Darwin (2009), lanado em 1859, A Origem das Espcies,
abalou o mundo com a sua teoria da evoluo pela seleo natural. Essa teoria verte o seu olhar ao desenvolvimento de todas as formas de vida por meio de um processo lento de seleo. Processo no qual apenas os mais fortes e, com efeito, mais adaptados sobrevivem.
Inspirados na perspectiva Darwiniana, compreendemos que o projeto enciclopdico dos processos de ensino/aprendizagem vem atender ao projeto da seleo desnaturada. Esta ser a seleo que se naturalizou historicamente: o vestibular. Esta prtica se institucionalizou como a porta de entrada para a vida acadmica. Os alunos iro competir por uma vaga numa universidade, provando, num exame, suas competncias disciplinares.
No entanto, vemos que a proposta do ENEM (Exame Nacional do Ensino Mdio) pode abrir condies de acesso universidade atravs de outro modelo avaliativo. Este dispositivo, com seu enfoque matriz de competncias, verte seu alcance avaliao do domnio da norma culta da Lngua Portuguesa, bem como [...] compreender fenmenos naturais, enfrentar situaes-problema, construir argumentaes consistentes e elaborar propostas que atentem para as questes sociais (MINISTRIO DA EDUCAO, 2009). No entanto, as Universidades Federais e Estaduais, cada uma, utiliza os resultados do ENEM de forma singular. Existem propostas, atualmente, para que os resultados do ENEM sejam integralmente utilizados pelas Universidades Pblicas. Em geral, os resultados so utilizados parcialmente para a aprovao em seus cursos. Nesta esfera, uma grande parcela das vagas oferecidas nestas universidades preenchida por pessoas que tiveram acesso a uma boa formao no ensino mdio. Por outro lado, teremos a discusso sobre as vagas destinadas para os casos especiais. Acreditamos que se a educao direito de todos, no precisaramos de condies especiais para o acesso universidade. Respeitando este pressuposto constitucional, afirmaramos que todos deveriam ter acesso aos conhecimentos necessrios para o ingresso a uma dada especialidade universitria.
Dando sequncia questo do acesso universidade, consideramos que os alunos bem adaptados, que conseguiro memorizar os contedos exigidos, tero sucesso. Estes foram mais fortes que aqueles que no se apeteceram pela adaptao a este meio de avaliaes fragmentadas. Os alunos bem adaptados colocam suas foras, suas energias para obedecer quilo que imposto e pouco muda: alunos que competem entre si para conquistar uma vaga na universidade.
Vemos mais um paradoxo que se reinscreve na histria do presente, acompanhada pelo silncio de todos. Naturalizam-se exames para avaliar as competncias conteudsticas e no compreendendo as competncias existenciais de cada um. Esta compreenso ser aquela que valoriza os conhecimentos que cada um adquiriu na vida, nas suas experincias, nas suas relaes, nos contedos disciplinares, nos seus interesses etc. ao longo da sua existncia.
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
Desta forma, o termo vestibular se ligar a uma das suas possveis acepes: rea do vestbulo da orelha. Orelha = rgo desenvolvido pela espcie humana para escutar, para se ligar nos processos relacionais atravs de comunicao sonora. Pelo que precede, o vestibular ser uma experincia sensvel escuta! Que outras formas de avaliao podero ser produzidas para o ingresso na vida acadmica? Todos precisaro estudar tudo para ingressar em reas que, de direito e de fato, so disciplinares?! O aluno que vai fazer vestibular para msica precisar dar conta dos conhecimentos de fsica e matemtica, assim como aquele que deseja fazer vestibular para engenharia?
Trazemos estes problemas acreditando que, no instante de uma escolha sobre uma determinada rea, num primeiro momento, a avaliao conteudstica dever se dirigir s reas disciplinares que se ligam de fato quela desejada. Muitos podero indagar: mas os alunos iro ter um olhar reduzido, aprendendo apenas aquilo que lhes satisfaz!. Afirmaremos: aquilo que faz sentido para cada um de ns s faz sentido pelo motivo de estar de acordo com os nossos interesses e apetites. O sentido s faz sentido quando sentido (PEIXOTO, 2009). Quantas pessoas desistem de uma determinada graduao pelo fato de descobrirem, durante o curso, que aquele curso no tinha nada a ver com elas? Qual ser o problema de tentar buscar pelo resto das nossas vidas aquilo que nos apetece, que nos alimenta? At que ponto insistiremos na massificao de conhecimentos, como se todos tivessem que aprender tudo e da mesma maneira, num mesmo tempo? Compreendemos que esta necessidade de introjetar tantos conhecimentos goela abaixo dos alunos a expresso de um projeto que produz subjetividades obesas e infelizes! Obesidade que se liga s prticas institucionalizadas fast-food, como veremos a seguir.
3.3. Da aprendizagem fast-food
Consumir muitos conhecimentos e rapidinho. Assim como promovem as empresas de alimentao fast-food, vemos alunos que consomem conhecimentos que precisam ser digeridos rapidinho. Mal se aprende um contedo, precisar-se- abrir sua subjetividade para consumir inmeros outros. Vemos alunos com indigesto conteudstica. So tantos e tantos conceitos, pressupostos, frmulas, para serem digeridas, todas ao mesmo tempo. Todos os alunos precisaro incorpor-las, fix-las, no tempo da instituio. O tempo singular de assimilao, acomodao e fixao de cada aluno ser modelado para que possa digerir todos os conhecimentos no mesmo tempo que os outros.
Da as prticas pedaggicas vm mutilar o tempo de produo do conhecimento em nome da necessidade de uma aprendizagem num tempo otimizado, promovendo a massificao dos mesmos contedos para todos.
Massa de pessoas a introjetar uma massa de conhecimentos, transmitidos por uma massa de enciclopdias e livros, massificados em aulas massantes. Massas + massas e + massas = obesidade das prticas educacionais.
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
3.4. Da massificao dos saberes:
Desta experincia de aprendizagens para todos num tempo otimizado temos a institucionalizao dos saberes. Estes sero massificados, como se todos precisassem, para a construo do conhecimento e da subjetividade singular, consumir exatamente os mesmos contedos. Vemos a reedio de uma prtica de disciplinarizao das subjetividades dos alunos e, com efeito, dos educadores. Todos acreditando que, para a construo da sociedade e dos indivduos, so necessrios os mesmos conhecimentos. Percebemos que esta massificao dos saberes vem massificar as subjetividades dos alunos e dos educadores. Prtica mutiladora dos desejos, dos interesses de cada um. A massificao dos saberes vem atender ao projeto da igualdade das subjetividades, ao contrrio de termos direitos de igualdade em relao aos interesses diferentes. Decorre desta proposio que as prticas educativas podero respeitar as diferenas dos interesses de cada aluno. Evitando-se a mutilao dos seus interesses, do seu poder de criao e inveno.
Os espaos da escola, enquanto espaos que, ao longo dos tempos, vertem, na maior parte do tempo, a ateno memorizao de contedos, no abrem o espao necessrio para o exerccio da parrsia. Este conceito se liga s prticas gregas antigas do falar francamente (FOUCAULT, 2009). Em geral, vemos a mutilao da subjetividade se manifestar nas relaes entre educadores e alunos. Alunos que no tm coragem de falar francamente o que sentem e pensam sobre o que esto aprendendo. No tm coragem de falar verdadeiramente aquilo que a prtica dos discursos da verdade, isto , os discursos disciplinares que, por definio, falam em nome de uma verdade a ser seguida.
A reproduo dos discursos da verdade faz parte da cultura cientfica produtora de maneiras de falar das experincias de vida de maneira artificial. A este respeito, Morin nos dir:
A cultura cientfica uma cultura de especializao, que tende a se fechar sobre si mesma. Sua linguagem torna-se esotrica, no somente para o comum dos cidados, mas tambm para o especialista de outra disciplina (MORIN, 2005a, p.59).
Poderemos indagar como as prticas educativas podem superar o projeto de preparar seus alunos aos exames vestibulares e outros. No desejamos trazer todas as respostas neste artigo. Acreditamos que trazemos vrios problemas que precisaro encontrar a construo de caminhos atravs de discusses coletivas, uma vez que os processos de ensino-aprendizagem se do em contextos coletivos.
3.5. Do silncio da participao coletiva
A Constituio Brasileira de 1988 garantir a participao da comunidade nos processos de avaliao e discusso sobre a cotidianidade da escola. Esta convocao da participao social se inclui na Legislao e Diretrizes e Bases para a Educao e na lei do Sistema nico de Sade (SUS) de 1990. Percebemos que as questes que se implicam tanto na cotidianidade da sade e, para o nosso interesse, nas questes da educao, precisaro ser construdas com cada coletividade, em cada territrio, em
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
cada localidade. Podemos indagar quais engajamentos se efetuam no interior da cotidianidade das escolas? Os pais e comunidade so convocados em quais situaes? Estes so convocados para a construo do Projeto Poltico Pedaggico de cada escola? Estes conhecem este princpio da participao coletiva? Quais as relaes que professores, coordenadores, diretores e secretrios de educao tm com este princpio?
Poderemos, ainda, indagar sobre o projeto mutilador disciplinar e conteudista e suas relaes com a produo do individualismo. At que ponto disciplinar cada aluno de maneira conteudista tem suas relaes com a produo do individualismo no interior da cotidianidade escolar? Acreditamos que esta individualizao pedaggica (GAUCHET, 2008) se produz atravs de prticas coletivas no interior das prticas escolares. Atravs das prticas coletivas, produzem-se subjetividades que aprendem, desde cedo, a competir, a ver o outro como aquele que ir disputar uma vaga no vestibular. Mesmo que este discurso no seja endereado claramente nas relaes cotidianas da escolas, no no dito das relaes, no entanto, todos sabem que se trata disso! Inmeros temas so silenciados na cotidianidade escolar! A escola no se permitindo analisar aquilo que se mantm institudo no interior das suas prticas, dos seus saberes e discursos, vem instituir subjetividades que se ocupam com seus interesses individuais. Professores, pais, coordenaes, alunos e comunidade no exigindo o espao que lhes garantido constitucionalmente para discutir as prticas, saberes e discursos que dizem respeito educao, o estatuto desta, seus objetivos, novos caminhos, outros desafios.
3.6. Dos baixos salrios e condies de trabalho
Professores indo e vindo de uma escola a outra. Horrios corridos. Trabalho sendo levado para casa. Por vezes, trabalhando de manh, pela tarde e noite. Trabalhar muito para ajudar na composio salarial da famlia. No poder contestar os trabalhos que leva para casa: provas a corrigir, aulas a organizar, projetos a construir e, ainda, encontrar tempo para si, para a famlia e para a sua formao permanente. Trabalhos invisveis que produz a sobreimplicao nos processos de produo de trabalho e de vida (LOURAU, 2004). Professores se responsabilizando para alm daquilo que suas capacidades, suas foras possam suportar. Processo de extrao de mais valia existencial, ou seja, atravs da explorao produzida pelos trabalhos invisveis extrai-se o lucro institucional. Lucro advindo dos trabalhos no remunerados.
Os educadores se sujeitam a esta lgica para garantir seus postos de trabalho. Os trabalhos invisveis fazem parte das prticas de explorao do trabalho dos educadores. Prticas que vm consumir sua fora de trabalho, sua energia fsica e psquica. Prticas que mutilam de pouco a pouco a coragem de falar a verdade. Prticas que mutilam de pouco a pouco a coragem de exposio de inmeras instituies que vo se reeditando na cotidianidade das escolas e das relaes que nelas se manifestam.
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
4 PARA NUNCA CONCLUIR
Tratar do tema da mutilao dos saberes chegando ao ponto das subjetividades mutiladas uma grande aventura. No desejamos concluir. Desejamos apontar para a necessidade de uma construo coletiva, na qual educadores, alunos e comunidade possam produzir o caminho de uma realidade educacional que no seja fragmentada e mutiladora. Contribuindo, por sua vez, para a construo de pessoas que participem de um projeto que, de direito e de fato, ultrapasse a pedagogia da individualizao. Projeto de interiorizao de contedos que tm como objeto a competio para o acesso universidade e outros espaos. Tratar deste tema ser o projeto de um coletivo que constitudo por experincias, olhares e desejos heterogneos. Afirmar a heterogeneidade que constitui o plano social ser, por sua vez, abrir espaos de discusso diferena, atendendo s suas necessidades.
Projeto utpico? Talvez! A etimologia desta palavra nos indica a seguinte direo: u significa no. Topia vem do termo tpos que significa lugar. Utopia, por conseguinte, a experincia do no lugar. A experincia utpica aquela que no para no lugar. a experincia do caminhar! Afinal o caminho se faz caminhando! Nesta esfera, somos utpicos! No se cristalizar nas prticas discursivas que falam sempre em nome de uma verdade; no paralisar as discusses institucionais sobre a cotidianidade escolar naquilo que parece que j est pronto e definitivo em suas prticas.
Ultrapassar a mutilao dos saberes e a produo de subjetividades mutiladas ser o projeto de uma sociedade que participa da sua prpria construo. Projeto que no interessa a quem deseja o debilitamento da democracia, utilizando-se do prprio discurso democrtico para a ordem, a fragmentao e ordenao de uma sociedade que, na histria do presente, se mantm passiva e em silncio.
Acreditamos nas construes coletivas! Acreditamos que a viso de mundo construda e reproduzida na contemporaneidade pode ser ultrapassada no pela destruio e negao das disciplinas conteudistas. No negamos sua importncia, sendo utilizadas, articuladas de maneira que atendam s realidades de cada pessoa, ao invs de cada aluno ser um especialista em todas as disciplinas!
Abrir espaos de discusso em meio s aulas, espaos de debates com pais e comunidades para analisar a indstria do conhecimento, na qual se transformou a escola, um ato, de direito e de fato democrtico! Desta maneira, compreendemos que se torna peremptrio nunca concluir as discusses sobre temas que digam respeito s coletividades. Para no concluir a este respeito, desejamos trazer as palavras de Morin:
A reforma do pensamento contm uma necessidade social-chave: formar cidados capazes de enfrentar os problemas de seu tempo. Com isso, tornar-se-ia possvel frear o debilitamento da democracia que suscita, em todos os campos da poltica, a expanso da autoridade dos experts, de especialistas de toda ordem, que limitam progressivamente a competncia dos cidados, condenados aceitao ignorante daqueles que so considerados conhecedores, mas que de fato praticam uma compreenso que rompe com a contextualidade e a globalidade dos problemas. O desenvolvimento de uma democracia cognitiva s se torna possvel por meio de uma reorganizao do saber na qual seriam ressuscitadas, de uma nova maneira, as noes trituradas pelo parcelamento disciplinar: o ser humano, a natureza, o cosmo e a prpria realidade (2005a, p. 26 e 27).
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICASARIS, P. Histria social da criana e da famlia. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
CANGUILHEM, G. O Normal e o Patolgico. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1978.
DARWIN, C. A origem das Espcies. Rio de Janeiro: Larousse Brasil, 2009.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da priso. Petrpolis (RJ): Ed. Vozes, 1987.
_________________. Microfsica do Poder. Rio de Janeiro: Edies Graal, 1993a.
_________________. Omnes et Singulatim: uma Crtica da Razo Poltica. In: Ditos & Escritos IV. Forense Universitria. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2006.
_________________. A ordem do discurso. 12. ed. So Paulo: Edies Loyola, 2005.
_________________. Le gouvernement de soi et des autres. France: Ed. Gallimard Seuil, 2008.
_________________. Le courage de la vrit. France : Ed. Gallimard Seuil, 2009.
GAUCHET, M. La dmocracie contre elle-mme. France : Gallimard, 2008.
LOURAU, R. Analista Institucional em tempo integral. In.:ALTO, Snia(Org.). Analista Institucional em tempo integral. So Paulo: Hucitec, 2004.
MINISTRIO DA EDUCAO. ENEM, 2009. Disponvel em: , acesso em 28 de abril de 2009.MORIN, Edgar. Educao e Complexidade: os sete saberes e outros ensaios. So Paulo: Cortez Editora, 2005 a.
____________. Introduo ao pensamento complexo. Porto Alegre (RS): Sulina, 2005 b.
PEIXOTO, P. Heterognese, Sade Mental e Transintervenes: Composies Coletivas de Vida. Maca (RJ): Editora Atelier de Subjetividade, publicao prevista para julho de 2009.
PICHON-RIVIERE. Teoria do Vnculo. So Paulo: Martins Fontes, 1982.
WEISS, M. Psicopedagogia Clnica. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
1 Vale ressaltar sobre a experincia escolar da Idade Mdia. Neste perodo as crianas se misturavam com os adultos nos processos de ensino/aprendizagem (ARIS, 2006). Aris (2006, p. 106) afirmar: (...) a escola e o colgio que, na Idade Mdia, eram reservados a um pequeno nmero de clrigos e misturavam as diferentes idades dentro de um esprito de liberdade de costumes, se tornaram no incio dos tempos modernos um meio de isolar cada vez mais as crianas durante um perodo de formao tanto moral como intelectual, de adestr-las, graas a uma disciplina mais autoritria, e, desse modo separ-las da sociedade dos adultos.
2 A nova disciplina se introduziria atravs da organizao j moderna dos colgios e pedagogias com a srie completa de classes em que o diretor e os mestres deixavam de ser primi inter pares, para se tornarem depositrios de uma autoridade superior. Seria o governo autoritrio e hierarquizado dos colgios que permitiria, a partir do sculo XV, o estabelecimento e o desenvolvimento de um sistema disciplinar cada vez mais rigoroso. Para definir esse sistema, distinguiremos suas trs caractersticas principais: a vigilncia constante, a delao erigida em princpio de governo e em instituio, e a aplicao ampla de castigos corporais (ARIS, 2006, p. 117)
-
Revista Vises, 6 Edio, n 6. Volume 1 Jan/Jun, 2009.
3 Inspiramo-nos na perspectiva da Anlise Institucional para pensar as diversas instituies na educao. O conceito instituio no se refere aqui ao que, habitualmente, toma-se como estabelecimento estabelecimento de sade, de educao disso e daquilo. O conceito instituio se dirige aquilo que se mantm institudo num determinado conjunto de prticas, de discursos, saberes e relaes (LOURAU, 2004).