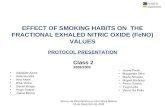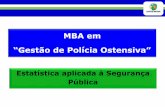DANIEL MOREIRA GOMES - pecca.com.br · daniel moreira gomes anÁlise de viabilidade tÉcnica,...
Transcript of DANIEL MOREIRA GOMES - pecca.com.br · daniel moreira gomes anÁlise de viabilidade tÉcnica,...
DANIEL MOREIRA GOMES
ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIR O PARA
IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DO MOGNO-AFRICANO (KHAYA
IVORENSIS A.CHEV.) NA REGIÃO OESTE DE MINAS GERAIS.
Trabalho Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Gestão Florestal no curso de Pós-graduação em Gestão Florestal, Departamento de Economia Rural e Extensão, Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná.
Orientador: Prof. Dr. Vitor Afonso Hoeflich
Co-Orientador: Prof. Dr. José Luiz Pereira de Resende
CURITIBA
2010
II
AGRADECIMENTOS
Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento e conclusão deste trabalho. Especialmente gostaria de agradecer:
A toda equipe da Pós-Graduação em Gestão Florestal da Universidade Federal
do Paraná, pela oportunidade, ensinamentos, apoio, acompanhamento e dedicação. Ao Prof. Dr. Vitor Afonso Hoeflich pelos ensinamentos, pela amizade e
oportunidade, por ter me orientado neste trabalho com sabedoria, confiança e competência.
Ao co-orientador Prof. Dr. José Luiz Pereira de Resende da UFLA –
Universidade Federal de Lavras pela atenção, esclarecimentos e ensinamentos. A todos os colegas do curso que me apoiaram e auxiliaram durante esta
caminhada e em especial ao meu amigo e sincero Dagoberto Almeida. A toda minha família, verdadeiros alicerces e grandes colaboradores desse
projeto, em especial meus Pais e Irmãos, Padrinho e Madrinha, meu eterno muito obrigado.
A todos, e a Deus, realmente, muito obrigado...
IV
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 10
2 OBJETIVOS ................................................................................................12
3 REVISÃO DA LITERATURA ..................................................................13
4 MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................19
4.1 ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS ...............................................19
4.2 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE DADOS ..............................................20
4.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO ......................................20
4.4 INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DA CULTURA MOGNO-AFRICANO ....................................................22
4.4.1 Escolha da espécie e uso da madeira .......................................................22
4.4.2 Análise solos ............................................................................................24
4.4.3 Preparo de solo ........................................................................................25
4.4.4 Combate às formigas ...............................................................................26
4.4.5 Combate aos cupins .................................................................................26
4.4.6 Escolha do espaçamento ..........................................................................27
4.4.7 Fertilização mineral .................................................................................27
4.4.8 Irrigação ...................................................................................................28
4.4.9 Limpeza da área .......................................................................................30
4.4.10 Manutenção de infra-estrutura ...............................................................30
4.4.11 Pragas e doenças ....................................................................................31
4.4.12 Áreas introduzidas a cultura do mogno-africano ..................................33
4.4.13 Projeções de plano de corte ...................................................................37
4.4.14 Projeções dendométricas .......................................................................37
4.4.15 Projeções de perdas no processo de serragem .......................................38
4.5 QUADROS FINANCEIROS .....................................................................38
4.6 FORMAÇÃO DE PREÇO .........................................................................39
V
4.7 A TEORIA DE CUSTOS DE PRODUTOS FLORESTAIS ......................42
4.7.1 Classificação dos Custos de Produção ....................................................43
4.7.2 Os Custos Médios da Produção Florestal ................................................44
4.8 AS RELAÇÕES MONETÁRIAS NA PRODUÇÃO FLORESTAL ........45
4.9 INDICADORES PARA ANÁLISE ECONÔMICA DO PROJETO .........46
4.9.1 Payback ....................................................................................................47
4.9.2 Valor atual líquido ...................................................................................47
4.9.3 Taxa interna de retorno ............................................................................48
4.9.4 - Margem de contribuição e ponto de equilíbrio .....................................49
4.10 AVALIAÇÃO DO PROJETO .................................................................50
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES ..............................................................52
5.1 CUSTO DE PLANTIO DE 10 HA. DE MOGNO-AFRICANO ...............52
5.2 CUSTEIO FLORESTAL – 1º, 2º E 3º ANOS ...........................................53
5.3 DESPESAS DEPRECIAÇÃO/SEGUROS/MANUTENÇÃO/DESPESAS GERAIS ...................................................................................................54
5.4 DESPESAS COM MÃO DE OBRA ..........................................................55
5.5 RESUMO DAS NECESSIDADES FINANCEIRAS E ORIGEM DOS RECURSOS ......................................................................................55
5.6 PROJEÇÃO DE INVESTIMENTO E GASTOS DIVERSOS ..................56
5.7 PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO E RECEITA .............................................57
5.8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ...................................................................................58
5.9 MARGEM CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA ...............................................61
5.10 PONTO DE EQUILÍBRIO .......................................................................61
5.11 ANÁLISE DE INVESTIMENTO ............................................................62
5.12 ANÁLISE TÉCNICA DA CULTURA DO MOGNO-AFRICANO NA REGIÃO OESTE DE MINAS GERAIS ..........................................62
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .................................................65
7 REFERÊNCIAS ...........................................................................................67
8 ANEXOS .......................................................................................................70
VI
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
FIGURA 1 - REGIÃO DE OCORRÊNCIA NATIVA DO MOGNO- AFRICANO ..14
FIGURA 2 - Khaya ivorensis A.Chev (mogno-africano) Embrapa Belém/PA (2007) .............................................................................................33
FIGURA 3 - PLANTIO KHAYA IVORENSIS A.CHEV (MOGNO-AFRICANO)
FAZENDA ESTIVA, ITAÚNA/MG .............................................64
GRÁFICO 1 – AS CURVAS DE CUSTO FIXO, VARIÁVEL E TOTAL ........44 GRÁFICO 2 – COMPORTAMENTO GRÁFICO DOS CUSTOS MÉDIO DE
PRODUÇÃO ..................................................................................45 GRÁFICO 3 - REPRESENTAÇÃO DO PONTO DE EQUILÍBRIO .................50
QUADRO 1 – DENOMINAÇÕES VERNACULARES DA KHAYA IVORENSIS
A.CHEV EM DIVERSOS PAÍSES ..................................................15
QUADRO 2 – LEVANTAMENTO DADOS REGIÃO EM ESTUDO ..............20
QUADRO 3 – RESULTADO DE FERTILIDADE .............................................24
QUADRO 4 - RESULTADO DE MAT.ORGÂNICA ........................................24
QUADRO 5 – RESULTADO C.T.C. ..................................................................25
QUADRO 6 – RESULTADO DE MICRO ELEMENTOS .................................25
QUADRO 7 – RESULTADO DE GRANULOMETRIA ....................................25
QUADRO 8 – PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA .......................................36
QUADRO 9 – MÉDIA DÓLAR COMERCIAL .................................................42
VII
QUADRO 10 - CUSTO DE PLANTIO DE 10 HA. DE MOGNO-AFRICANO 52 QUADRO 11 - CUSTEIO FLORESTA MOGNO – 1º ANO .............................53 QUADRO 12 - CUSTEIO FLORESTA MOGNO – 2º ANO .............................53 QUADRO 13 - CUSTEIO FLORESTA MOGNO – 3º ANO .............................53 QUADRO 14 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO ..............................................54 QUADRO 15 - DESPESAS COM SEGUROS ....................................................54 QUADRO 16 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO .........................................54 QUADRO 17 - DESPESAS GERAIS .................................................................54 QUADRO 18 - DESPESAS COM MÃO DE OBRA ..........................................55 QUADRO 19 - RESUMO DAS NECESSIDADES FINANCEIRAS E ORIGEM
DOS RECURSOS ........................................................................55 QUADRO 20 – PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS E GASTOS DIVERSOS 56 QUADRO 21 – PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO E RECEITA .............................57 QUADRO 22 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS .....................................................................58 QUADRO 23 – MARGEM CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA ..............................61 QUADRO 24 – PONTO DE EQUILÍBIO ...........................................................61
VIII
LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES
COFINS – Contribuição Financeira Social
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
DAP – Diâmetro Altura do Peito
EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FAO – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Ha - Hectare
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IMA - Instituto Mineiro de Agropecuária
NPK – Nitrogênio, Fósforo e Potássio
PIS – Programa de Integração Social
SAF – Sistema Agro Florestal
TIR – Taxa Interna De Retorno
TRR – Taxa Requerida de Retorno
VAE – Valor Atual das Entradas
VAL – Valor Atual Líquido
VAS – Valor Atual das Saídas
VPL – Valor Presente Líquido
IX
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo geral analisar a viabilidade técnica, econômico-financeiro da implantação da cultura do mogno-africano (Khaya ivorensis A.Chev) na região oeste de Minas Gerais. Neste estudo foram levantadas informações técnicas sobre sistemas de produção, pesquisas de áreas implantadas e indicadores para análise econômico-financeiro da cultura do mogno-africano. Estima-se que, em virtude da baixa velocidade que vem ocorrendo o reflorestamento de madeiras nobres para atender a demanda futura da indústria moveleira, a médio prazo haverá problemas de abastecimento. Neste sentido tem crescido a utilização de espécies exóticas, especialmente no hemisfério sul, em países de clima tropical e subtropical. Em especial, o mogno-africano, possui madeira de excelente qualidade. É uma espécie de moderado a rápido crescimento e pode ser cultivado gerando a médio e longo prazo excepcional retorno financeiro. O cultivo desta espécie contribuirá sem dúvida com o aumento da oferta de madeira para as indústrias moveleiras de Minas Gerais que se beneficiarão com a utilização de uma madeira tão nobre. Conforme Stumpp, E.(2008), a médio e longo prazo o Brasil terá que dispor de pelo menos duas a três dúzias de essências florestais diversificadas, para suprir todas as necessidades e gostos. Conforme demonstrado o projeto é extraordinariamente viável, tanto tecnicamente, economicamente e financeiramente. Desta forma concluímos que a atividade de reflorestamento do Khaya ivorensis A.Chev.(mogno-africano), contribuirá efetivamente com nossa economia, gerando riquezas e oportunidades de negócios nacionais e internacionais.
10
1 INTRODUÇÃO
O grande aumento da demanda e a exploração das florestas nativas feitas sem
critérios técnicos, coloca em risco a extinção de várias espécies vegetais de grande
valor. A madeira proveniente de mata nativa, bastante utilizada no Brasil, está em
rápido declínio e tende a desaparecer em função das severas restrições internacionais e
dos severos problemas ambientais como o aquecimento global.
Estima-se que, em virtude da baixa velocidade com que vem ocorrendo o
reflorestamento de madeiras nobres para atender a demanda futura da indústria
moveleira, a médio prazo haverá problemas de abastecimento. Neste sentido tem
crescido a utilização de espécies exóticas, especialmente no hemisfério sul, em países
de clima tropical e subtropical.
Para um projeto florestal sob a ótica econômico-financeira, geralmente tem-se
um plano de investimentos, que é um comprometimento de recursos visando obtenção
de benefícios futuros durante um período de tempo, e sua elaboração, análise e
avaliação de projetos envolve variáveis sociais, econômicas, culturais, jurídicas,
ambientais e políticas.
No Brasil, alguns macros indicadores dessa importância se baseiam na
formação do PIB, na geração de divisas e na contribuição para a melhoria da qualidade
de vida da sociedade.
No que diz respeito aos aspectos sociais, o setor florestal é capaz de absorver
mão-de-obra numerosa, colaborando assim para uma melhor distribuição de renda para
a população.
Quanto ao meio ambiente, as influências florestais podem ser divididas em três
grupos: as influências diretas (efeito mecânico), influências indiretas (efeito físico-
químico) e as influências psicofisiológicas (as que atuam diretamente sobre o homem).
O consumo de produtos florestais, atualmente depara-se com a problemática
do decréscimo de fornecimento de matéria-prima para o setor, tanto pelas pressões
ecológicas, visando diminuir a exploração em matas nativas, quanto pela escassez dos
produtos florestais que se encontram cada vez mais distantes das áreas consumidoras.
11
Dentre os setores mais atingidos, destacam-se o das serrarias e o da laminação, que,
em nosso país, sobrevivem da extração de matas nativas, quando se refere à "madeira
de lei".
Em especial, o Mogno-africano (Khaya ivorensis A.Chev.), possui madeira de
excelente qualidade e é uma espécie de moderado a rápido crescimento que substitui
plenamente o Mogno-americano (Swietenia macrophylla) e pode ser cultivado gerando
a médio e longo prazo retorno financeiro.
O plantio e cultivo desta espécie contribuirão sem dúvida com o aumento da
oferta de madeira para as indústrias moveleiras de Minas Gerais que se beneficiarão
com a utilização de uma madeira tão nobre.
Nas instituições, sejam públicas, privadas comerciais, prestadores de serviços
ou indústrias, sempre existirá a necessidade de tomar decisões, visando maximizar a
curto, médio e longo prazo os seus resultados. A intensidade e a forma com que as
decisões são tomadas dependem do tipo, porte e área de atuação da instituição. O
termo projeto florestal refere-se às necessidades ou oportunidades de certa instituição,
tendo como objetivo executar ou realizar algo no futuro, para atender a necessidades
ou aproveitar oportunidades dentro do contexto e características próprias.
12
2 OBJETIVOS
Na avaliação e seleção de um projeto florestal, deve-se estudar o melhor modo
de realizar os investimentos, do ponto de vista da rentabilidade, dentre diversas
alternativas. As alternativas competem entre si pela obtenção do capital de
investimento.
O objetivo de um programa de reflorestamento é obter um produto de boa
qualidade, com a máxima produtividade e o mínimo de custo possível.
Portanto, o objetivo geral do estudo será analisar a viabilidade técnica,
econômico-financeiro da introdução da cultura do mogno-africano (Khaya ivorensis
A.Chev) na região oeste de Minas Gerais.
Quanto aos objetivos específicos de estudo, serão objetos de análise:
a) Informações técnicas sobre sistema de produção da cultura mogno
africano
b) Pesquisas de áreas implantadas com a cultura do mogno-africano
c) Indicadores para análise econômica e financeira do referido estudo.
13
3 REVISÃO DE LITERATURA
Conforme Berger et al (2008), a matéria-prima gerada pelas empresas da base
florestal tem como destinação o seguinte consumo industrial: madeira serrada, lâminas
e compensados, chapas reconstituídas, celulose e papel, carvão e lenha. O consumo
industrial total de madeira nativa e de reflorestamento no Brasil representa anualmente
algo em torno de 190 milhões de m³, onde a madeira nativa participa com 83 milhões
de m³ (44% do consumo total) e a madeira de reflorestamento responde por outros 107
milhões de m³ (56% do consumo total).
Para que florestas plantadas consigam atender ao mercado consumidor, há
necessidade da escolha adequada da espécie e das técnicas silviculturais a serem
empregadas (GOMES et al, 2006).
Além disso, essas florestas devem produzir madeira em qualidade e
quantidade compatíveis com a expectativa do mercado (GOMES et al, 2006).
Conforme 1Stumpp, E.(2008), a médio e longo prazo o Brasil terá que dispor
de pelo menos duas a três dúzias de essências florestais diversificadas, para suprir
todas as necessidades e gostos.
Conforme Gomes et al (2006), dentre as espécies exóticas introduzidas e
produtoras de madeiras nobres podemos destacar a seguinte:
:: Mogno-africano (Khaya ivorensis A.Chev.) – originário da costa
ocidental da África.
1 Professor e Pesquisador da Universidade de Caxias do Sul. Engenheiro industrial madeireiro. MSc. e Dr. em Engenharia Civil construção e ambiente.
14
FIGURA 1 - REGIÃO DE OCORRÊNCIA NATIVA DO MOGNO-AFRICANO.
Comparando com o mogno-amazônico, também conhecido como latino
americano e mogno-verdadeiro (Swietenia macrophyla), não se distinguem diferenças
15
significativas, quanto ao aspecto fenotípico. Existe porém uma diferença marcante que
faz distinguir o mogno-africano do amazônico que é a coloração avermelhada, devido
à concentração de antocianina do fluxo de lançamento apical do africano, enquanto
que no amazônico é esverdeado. (FALESI, I.C; BAENA, A.R.C., 1999).
A Khaya ivorensis juntamente com as espécies K.anthotheca, K.grandifolia e
K.senegalensis são conhecidas pela denominação de mogno-africano, que tem sido
uma das espécies preferidas dos reflorestadores no Estado do Pará, provavelmente
devido não somente à facilidade em produzir as mudas, mas ao elevado valor
econômico que representa no mercado internacional (FALESI, I.C; BAENA, A.R.C.,
1999).
As árvores do gênero Khaya são conhecidas comercialmente por diferentes
nomes: Acajou DÀfrique, na França e Bélgica; na Inglaterra e Estados Unidos como
African mahogany; na Alemanha denomina-se Khaya mahogoni; na Holanda como
Afrikaans mahobanie e mogno-africano pelos portugueses. (FALESI, I.C; BAENA,
A.R.C., 1999).
As denominações vernaculares da Khaya ivorensis A.Chev variam bastante,
conforme pode ser observado abaixo:
QUADRO 1 - DENOMINAÇÕES VERNACULARES DA KHAYA IVORENSIS A.CHEV EM DIVERSOS PAÍSES.
Denominações venaculares País
Acajou DÀfrique..............................................
African mahogany……………………………
Khaya mahogoni……………………………..
Afrikaans mahoganie…………………………
Mogno-africano................................................
Dukuma, Acajopu de Bassam, Kra-lah, Krala Ira e
França e Bélgica
Inglaterra e EUA
Alemanha
Holanda
Portugal
16
Acajou blanc............................................
Dubine, Duku makokre, Duku mafufu, Ahafo
mahogany.........................................................
Oganwo, Ogwango nofwa................................
N`Gollo, Acajou N`Gollon, Zamenguila e Mangona
Samanguilla....................................................
Zaminguila, Ombega.....................................
N`Dola e Ewé................................................
Deké...............................................................
Udianuno e Quibala.......................................
Costa do Marfim
Gana
Nigéria
Camarões
Guiné espanhola
Gabão
Congo
África Central
Angola
FONTE: ACAJOU D`AFRIQUE, 1979.
É uma árvore de grande importância para a região amazônica, não somente
pelo seu valor econômico ser dos mais elevados no comércio internacional, mas
também ao se considerar o aspecto ambiental, devido ao crescimento relativamente
rápido, promovendo a recuperação de áreas alteradas. (FALESI, I.C; BAENA, A.R.C.,
1999).
O interesse comercial em plantações do mogno-africano deve-se ao fato de
que nas regiões onde essa espécie é nativa e com a exploração feita no decorrer de 70
anos, reduziu consideravelmente a sua concentração, o que motivou os plantios
organizados. O mercado é exigente e as indústrias reclamam por esta excelente
madeira. (FALESI, I.C; BAENA, A.R.C., 1999).
A comercialização na Costa do Marfim, exportando somente madeiras de
Khaya, deu-se até o ano de 1919. Em 1924, das exportações de mogno desse país,
17
incluindo também outras espécies, como Sapelli, Sipo, Tiana e Okumee, que também
são de cerne duro, a K.ivorensis representou 4/5 do total dessa exportação.
Posteriormente, as espécies de madeira branca também passaram a ser
comercializadas, como ocorre atualmente na Amazônia (Acajou D`Afrique, 1979).
O comércio de exportação do mogno-africano passou a ser crescente,
atingindo um volume ao redor de 83.000 m³ de toras em 1959, somente na Costa
Marfim. (FALESI, I.C; BAENA, A.R.C., 1999).
Após a Segunda Guerra Mundial, Gana iniciou as suas exportações dessa
nobre madeira, comercializando 81.000 m³ de toras e 37.000 m³ do produto serrado
(Acajou D`Afrique, 1979).
Os países africanos da Costa Ocidental: Nigéria, Camarões, Guiné Espanhola,
Gabão, Congo e Angola, também entraram no bloco de países exportadores, embora
com volumes bem menores. (FALESI, I.C; BAENA, A.R.C., 1999).
O consumo de Khaya na França é praticamente o procedente de suas colônias,
atingindo em 1959 o volume de 47.000 m³ em toras e apenas 750 m³ de madeira
serrada (Acajou D`Afrique, 1979).
Conforme Berger et al (2008), o mercado brasileiro dos produtos florestais é
responsável pela geração de aproximadamente 4,5% do PIB total da economia (US$
58,9 bilhões dos US$ 1,31 trilhão gerados em 2007), tendo cerca de 30 mil empresas
vinculadas ao setor produtivo. Na década de 90, as exportações brasileiras de produtos
florestais cresceram a uma taxa média de 10% ao ano e, atualmente, vem mantendo
esta média histórica. Relativamente ao volume total das exportações brasileiras em
2007 (US$ 160,6 bilhões), as exportações do agronegócio representaram 36,4% do
total (US$ 58,4 bilhões) e o setor dos produtos florestais foi responsável por 5,5% do
total das exportações. Assim, no ano de 2007 aproximadamente 15,1% do total da
balança comercial do agronegócio foi gerado por esse setor, proporcionando
exportações de US$ 8,8 bilhões por ano (crescimento de 11,9% em relação ao ano de
2006), importações da ordem de US$ 1,9 bilhão (incremento de 19,1% em relação à
2006) e saldo da balança comercial de US$ 6,9 bilhões (aumento de 10% em relação à
2006). Dos principais grupos de produtos que formam o setor, cita-se o do papel e
18
celulose como responsável por 53,6% das exportações totais (8,6 milhões de toneladas
e US$ 4,7 bilhões) e o da madeira e suas obras por outros 46,4% (6,4 milhões de
toneladas e US$ 4,1 bilhões).
Segundo Berger et al (2008), com relação aos investimentos projetados para o
setor florestal, considerando um horizonte de dez anos, espera-se que cerca de US$ 19
bilhões sejam aplicados.
No que diz respeito aos aspectos sociais, o setor florestal é capaz de absorver
mão-de-obra numerosa, colaborando assim para uma melhor distribuição de renda para
a população. A que se considerar que o setor florestal tem capacidade de geração de
600 mil empregos diretos e outros 3,5 milhões de empregos indiretos. Cerca de 7,5%
da população economicamente ativa trabalha em alguma atividade vinculada ao setor
florestal (BERGER et al, 2008). Vale lembrar que a exploração racional das florestas,
com base no manejo sustentável, também propicia a melhoria das condições de
transporte, acesso e comunicação de determinada localidade (TONELLO et AL,
2008).
Conforme SILVA, J.C., (2008), especialistas do setor florestal falam que um
hectare de florestas plantadas corresposnde, em produtividade de biomassa, a quinze
hectares de florestas nativas. Portanto, conforme Tonello et al (2008), um dos maiores
desafios é a conservação das florestal nativas, evitando o desmatamento irracional,
visando atender a demanda por produtos de origem florestal por meio de florestas
plantadas.
19
4 MATERIAL E MÉTODOS
Para levantamento do objetivo geral do estudo serão feitas pesquisas
secundárias e primárias. Serão coletadas informações obtidas em plantios
experimentais da cultura do mogno-africano para informações técnicas e construção
das planilhas econômico-financeiros.
Para levantamento dos objetivos específicos serão feitos também
levantamentos primários e secundários junto a órgãos como Embrapa e demais
instituições.
4.1 ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS
Há quatro diferentes fontes básicas de dados em pesquisa: pesquisado, pessoas
que tenham informações sobre o pesquisado, situações similares e dados disponíveis
(MATTAR, 1994). No referido projeto, utilizaremos de todas as fontes.
No que se refere aos tipos de dados em pesquisa são classificados em dois
grandes grupos: dados primários e dados secundários.
Dados primários são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda em
posse dos pesquisados, e que são coletados com o propósito de atender às necessidades
específicas da pesquisa em andamento. As fontes básicas de dados primários são:
pesquisado, pessoas que tenham informações sobre o pesquisado e situações similares.
(MATTAR, 1994).
Dados secundários são aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e,
ás vezes, até analisados, com propósitos outros ao de atender ás necessidades da
pesquisa em andamento, e que estão catalogados à disposição dos interessados. As
fontes básicas de dados secundários são: a própria empresa, publicações, governos,
instituições não governamentais e serviços padronizados de informações de marketing
(MATTAR, 1994).
20
Portanto, no referido projeto, serão utilizados dos dados primários e
secundários.
4.2 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE DADOS
O estudo pode ser classificado inicialmente como exploratório, inspirando ou
sugerindo uma hipótese explicativa. O estudo também desenvolveu estudo descritivo,
com levantamentos qualitativos e quantitativos e análises de áreas já implantadas da
cultura ora pesquisadas e medidas de comparação.
As informações serão transformadas em tabelas e planilhas por
proporcionarem uma visão mais clara e direta da conclusão dos dados coletados para
em seguida análises.
4.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO
Conforme Perfil Meio Ambiente de Itaúna (MG), segue abaixo quadro com
levantamento de dados da região projetada e analisada:
QUADRO 2 – LEVANTAMENTO DADOS REGIÃO EM ESTUDO
1) Localização de Itaúna (MG): Regiões: de Planejamento: Metalúrgica e Campo das Vertentes Macrorregião (IBGE): Centro-Oeste Mesorregião (IBGE): Oeste de Minas (OE-9) Microrregião (IBGE): Divinópolis (DIV-43) Região Administrativa: Central (Região 11)
Municípios Vizinhos: É limitado ao norte pelos municípios de Igaratinga e Pará de Minas; ao Sul, pelo de Itatiaiuçu; a leste, pelo de Mateus Leme e, a Oeste, pelo de Carmo do Cajuru (polo moveleiro). 2) Principais Rodovias que servem o Município:
MG-050 MG-431
21
BR-381 (Fernão Dias), a 25 km de Itaúna, pela Rodovia MG-431 BR-262, a 22 km de Itaúna, pela Rodovia MG-431 BR-040, a 60 km de Itaúna, pelo anel rodoviário de Belo Horizonte
3) Dados Demográficos: Área: 495,875 Km2 Altitude: Máxima: 1.191 m, Local: Serra dos Marques Mínima: 857 m, Local: Faz. Córrego do Sítio. Posição Geográfica: Determinada pelo paralelo de 20º, 04' 32" de latitude sul, em sua
interseção com o meridiano de 44º, 34' 35" de longitude oeste. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 (www.sidra.ibge.gov.br)
4) Clima: Tipo: Mesotérmico e úmido Pela classificação de Köppen, o clima é do tipo Cwa - Tropical de
Altitude, com verões quentes. - Temperatura Média Anual: 21,8 ºC - Temperatura Mínima Anual: 13,2 ºC - Temperatura Máxima Anual: 32,2 ºC - Temperatura Mínima Absoluta: 7ºC - Temperatura Máxima Absoluta: 35 ºC - Índice Médio Pluviométrico Anual (*): 1.419 mm (média do
período de 1941 a 1992) - Direção dos Ventos: Leste-Oeste - Umidade relativa do ar média: 64,15% - Umidade relativa mínima do ar: 53,5 % - Umidade relativa máxima do ar: 74,8% Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia - www.inmet.gov.br (*) Índice Médio Pluviométrico: Fonte: Sistema de Informações
sobre Rec. Hídricos. www.hidricos.mg.gov.br/in.min.htm 5) Hidrografia:
Principais rios/bacias: Rio São João, afluente do Rio Pará Afluentes do Rio São João: - Córrego do Soldado; - Ribeirão dos Capotos; - Ribeirão Calambau; - Ribeirão dos Coelhos; Represas: - do Benfica - área de 4,5 Km2; - dos Britos; Obs.: Pertencentes à Bacia do Rio São Francisco Fonte: IGA - Instituto de Geociências Aplicadas de Minas Gerais
22
6) Relevo: Tipo de relevo(*) Plano - 20% Ondulado - 40% Montanhoso - 40% (*) O relevo, modelado em formações do complexo cristalino,
apresenta a feição de escarpas, maciços e morros. Fonte: IGA - Instituto de Geociências Aplicadas de Minas Gerais
7) Tipos de solos e montanhas: Os solos são argilosos, de moderada resistência à erosão, de
profundidade variável, de baixa a moderada fertilidade natural, com maior aproveitamento na pecuária.
Formação aparecendo na maioria das vezes em associação (podzólico e latossolo vermelho-amarelo).
As montanhas são rochosas, pré-cambrianas, intensamente dobradas, provocando a formação de colinas côncavas - convexas e cristas esparsas, com altitudes de 860 a 1.200 metros.
Fonte: IGA - Instituto de Geociências Aplicadas de Minas Gerais
4.4 INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DA
CULTURA MOGNO-AFRICANO
4.4.1- Escolha da espécie e uso da madeira
O primeiro passo a ser dado, quando da decisão de um projeto de
reflorestamento, é a definição da espécie a ser plantada. Neste aspecto, os pontos
considerados de vital importância são (GOMES, S., 2007):
O objetivo da produção, ou o uso da floresta conforme o mercado
consumidor;
As condições de clima e de solo da região da região a ser florestada.
Quando se pretende plantar espécies exóticas, é importante, primeiro, conferir
nas fontes de experimentos, a viabilidade de adaptação das mesmas ao ambiente
(GOMES, S., 2007).
Fatores climáticos condicionantes:
Temperatura,
23
Umidade relativa do ar
Precipitação média anual
Luz
Espécies, e mesmo indivíduos dentro da mesma espécie, podem desenvolver
mecanismos capazes de suportar uma grande variação nas condições climáticas
(GOMES, S., 2007).
A luz ou insolação, responsável pela fotossíntese é de extrema importância
para o crescimento e o desenvolvimento das plantas, podendo-se generalizar, desde
que não haja outras condições restritivas, isto porque quanto maior é a luminosidade
de um determinado local, mais rápido será o crescimento das árvores, devido a uma
maior taxa de assimilação de carbono (GOMES, S., 2007).
No território brasileiro, especialmente no sudeste, predomina-se regiões sob
cerrado, cujo clima classifica-se como sub-úmido, exceto no norte de Minas Gerais
(GOMES, S., 2007).
Como as regiões sob cerrados classificadas como sub-úmidas, apresentam
solos de baixa fertilidade, deve-se fazer conhecer as exigências nutricionais da espécie,
de forma que seus plantios possam ser adequadamente fertilizados e apresentarem boa
produtividade. É também prudente analisar a procedência do material genético,
baseando-se em analogia de latitude, altitude, temperatura média anual, aspectos de
déficit hídrico, solos etc., para que os riscos de insucesso sejam minimizados.
O Mogno-africano tem uso comercial extraordinário, devido às características
tecnológicas e à beleza da madeira. É usada em movelaria, fraqueado, construção
naval e em sofisticadas construções de interiores. O mercado europeu consome
principalmente a madeira da espécie K.ivorensis (AUBREVILLE, 1959;
LAMPRECHT, 1990).
No ambiente florestal primário, a distribuição percentual é de uma árvore para
cada 10 hectares, podendo também ocorrer em pequenos grupos nos vales úmidos
(CATINOT, 1965).
24
Essa madeira é de elevada durabilidade, fácil de trabalhar e secar, porém de
difícil impregnação. O alburno tem coloração marrom-amarelada e o cerne, de cor
marrom-avermelhado ( FALESI, I.C; BAENA, A.R.C, 1999).
4.4.2 Análise solos
Para o sucesso de um empreendimento florestal, é importante frisar quanto à
importância de um planejamento de gestão e condução e o cumprimento de algumas
etapas. Uma delas seria análise de solos e interpretação dos resultados.
Abaixo segue quadros dos resultados de análise de solos realizada pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA da Fazenda Estiva localizada município de
Itaúna (MG):
QUADRO 3 - RESULTADO DE FERTILIDADE
Nº AM. IDENT.AMOSTRA CaCL2 KCL H²O H+Al Al³+ Ca²+ Mg P K SB T t m V1990 Única 4,1 4,2 4,5 4,83 1,27 0,75 0,31 7,2 63 1,22 6,05 2,49 51,02 20,19
%pH cmol.carga/dm³ mg/dm³ cmol.carga/dm³
CaCL2 = ph em Cloreto de Cálcio; KCL = ph em Cloreto de Potássio; H²O = ph em Água; ph = Relação 1:2,5; SB = Soma de bases; T = Cap.de troca de cations; t = Cap.efetiva de troca de cations; m= Índice de saturaçãode Alumínio; V = Índice de saturação de base.Obs.: O cálculo do SB, T, t, m e V, não considera valores de Sódio - (Na). Solução estratora: Fósforo e PotássioMehlich 1; Cálcio, Mágnésio e Alumínio Cloreto de Potássio 1 normal. Hidronênio + Alumínio - pH em S.M.P.INS = Análise não solicitada. O resultado somente válido para amostras analisadas. Fonte: CRUZ, J.L.T.(2007). Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA
QUADRO 4 - RESULTADO DE MAT.ORGÂNICA NºAM. IDENT.AMOSTRA MAT.ORG. - dag/Kg c - dag/Kg N - da g/Kg1990 Única 2,84 1,65 0,14
Matéria Orgânica Método Colorimétrico - Carbono Org. = M.Org. / 1,724Nitrogênio calculado / mat.OrganicaO resultado somente é válido para amostras analisadas Fonte: CRUZ, J.L.T.(2007). Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA
25
QUADRO 5 – RESULTADO C.T.C. %
NºAM. IDENT.AMOSTRA Dens. Real Dens.Aparente Arg.Natura l Na SB T t m v1990 Única 2,38 1,17 6,24 0,02 1,24 6,07 2,51 50,70 20,40
SB = Soma de bases trocáveis; T = Cap. De troca de cations; t = cap.efetiva de troca de cations; m = Índice de saturaçãode Alumínio; v = Índice de saturação de base. Obs.: O cálculo do SB, T, t, m e v, considera valores de Sódio - (Na). NS = Análise não solicitada; Densidade aparente: solo peneirado em malha de 2 mm.O resultado somente é válido para amostras analisadas
g/cm³ cmol.carga/dm³ %
Fonte: CRUZ, J.L.T.(2007). Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA
QUADRO 6 – RESULTADO DE MICRO ELEMENTOS mg/L
NºAM. IDENT.AMOSTRA P rem. Cu Mn Fe Zn1990 Única 19,04 0,50 5,80 63,40 2,40
Prem = Fósforo remanescente; P Exato = Fósforo Exato; Cu = Cobre - Extrator Mehlich 1Fe = Ferro - Extrato Mehlich 1; Mn = manganes - Extrato mehlich 1; Zn = Zinco - ExtratorMehlich 1; NS = Não solicitado. O resultado somente é válido para amostras analisadas.
mg/dm³
Fonte: CRUZ, J.L.T.(2007). Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA
QUADRO 7 – RESULTADO DE GRANULOMETRIA NºAM. IDENT.AMOSTRA AREIA GROSSA-% AREIA FINA-% SILTE-% A RGILA-%1990 Única 29,50 22,58 14,88 33,04
Granulometria - Método pipeta adaptadoO resultado somente é válido para amostras analisadas Fonte: CRUZ, J.L.T.(2007). Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA
Vale lembrar da necessidade de um Engenheiro Florestal e/ou Agrônomo,
quanto ao acompanhamento do desenvolvimento da floresta, o qual emitirá parecer
técnico e receituário das medidas que se fizerem necessárias.
4.4.3 Preparo de solo
O preparo do solo é feito para melhorar as suas condições físicas, eliminar
plantas indesejáveis, promover o armazenamento de água no solo, eliminar camadas
compactadas, incorporar calcário, fertilizantes e restos de culturas; fazer o nivelamento
26
do solo, facilitando o trabalho das máquinas durante o plantio, a manutenção e a
colheita da floresta (GOMES et al, 2006).
Ao atender estes objetivos, o preparo do solo facilita o desenvolvimento do
sistema radicular das mudas plantadas e promove um rápido estabelecimento da
floresta (GOMES et al, 2006).
Em áreas de topografia acidentada, onde não é possível a mecanização, e em
áreas sujeitas à erosão, e também por opção, pode-se abrir covas grandes, feitas
manualmente. Neste caso normalmente, é preferível capinar uma faixa de um metro de
cada lado da cova, ou então fazer na forma de coroamento (GOMES et al, 2006).
4.4.4 Combate às formigas
Dentre as diferentes pragas que atacam os povoamentos florestais, destacam-se
as formigas cortadeiras, denominadas saúvas e quenquéns. Estas formigas precisam ser
combatidas em todas as fases de desenvolvimento de uma floresta, pois, o sucesso do
empreendimento depende deste tipo de ação (GOMES et al, 2006).
O combate inicial é realizado em toda a área a ser plantada, numa faixa de cem
metros de largura ao redor de toda área de plantio. A operação de combate às formigas
deve ser realizada em ronda durante todo o período de formação e maturação do
povoamento florestal, pois um sauveiro adulto (três anos de idade) consome, por ano,
uma tonelada de folhas para se manter (GOMES et al, 2006).
4.4.5 Combate aos cupins
A maioria das espécies de cupins, normalmente se alimentam de madeira
morta. Em várias regiões, ocorrem cupins que atacam madeira viva (GOMES, S.,
2007).
Os cupins de madeira morta quase sempre estão associados àqueles de
montículos (Cornitermes cumulans) e o combate deve ser realizado antes do
revolvimento do solo, pois sem este combate prévio, corre-se o risco de estar
27
disseminando os cupins, ao invés de combatê-los. Dessa forma, a destruição do
montículo durante o revolvimento do solo, simplesmente faz com que haja uma
distribuição de futuros cupinzeiros, que apesar de não atacarem plantas vivas, podem
provocar a morte de mudas plantadas sobre eles (GOMES, S., 2007).
O combate consiste em retirar a parte superior do montículo, com enxada ou
enxadão, e com um vergalhão tipo sonda JP, perfurar até atingir a câmara de celulose,
que fica logo abaixo do nível do solo e aplicar o produto à base de fipronil ou
clorpirifós (GOMES, S., 2007).
4.4.6 Escolha do espaçamento
Para a escolha do espaçamento devem-se ter preocupação quanto à espécie, o
grau de melhoramento, a fertilidade do solo e o objetivo do plantio. O melhor
espaçamento é aquele que produz o máximo de madeira, em tamanho, forma e
qualidade, com o menor custo (GOMES et al, 2006).
Árvores plantadas em espaçamentos amplos apresentam um maior crescimento
em diâmetro do que as plantadas em espaçamentos estreitos, porém, o mais importante
é o volume total utilizável, e não o volume total produzido, no caso de serraria
(GOMES et al, 2006).
Para o referido trabalho o plantio das mudas do mogno-africano será efetivado
obedecendo ao espaçamento de 5 metros X 5 metros em triângulo eqüilátero. O
referido trabalho não estabelece parâmetro ideal de espaçamento, que deverá ser
estudada de acordo com o objetivo e particularidades de cada projeto/plantio.
4.4.7 Fertilização mineral
Em curto prazo, a fertilização é um dos principais meios para se obter ganhos
de produtividade, dentro de certos limites. Em geral as áreas de terras do oeste de
28
Minas Gerais, destinadas a reflorestamentos, são carentes de elementos minerais,
exigindo, portanto, o emprego de uma adubação bem balanceada, de forma a propiciar
níveis de N.P.K. (nitrogênio, fósforo e potássio) compatíveis com a espécie (GOMES
et al, 2006).
Há provas de que a adubação por ocasião do plantio, geralmente feita com um
composto fosfatado, se justifica em muitos casos, do ponto de vista econômico. Em
solos muito pobres, as árvores podem explorar efetivamente os fertilizantes que se
aplicam, enquanto que em locais muito férteis, por outro lado, as árvores podem
absorver quantidades de nutrientes aplicados, fora de suas necessidades, sem
mostrarem um aumento correspondente no crescimento, dependendo da espécie
(GOMES et al, 2006).
Com o resultado da análise do solo, faz-se a recomendação de adubação.
Em algumas propriedades rurais, infelizmente não é prática muito comum a
realização da análise de solo. Motivos vários são apresentados para justificar essa
omissão.
4.4.8 Irrigação
Quando o plantio for realizado, deve-se procurar efetuá-lo durante o período
chuvoso, com o solo bem molhado. Sempre que possível, o plantio deve ser realizado
em dias nublados e com possibilidade de chuvas. No entanto muitas vezes há
necessidade de se praticar a irrigação no campo, devido à ocorrência de veranicos ou
períodos de estiagem (GOMES et al, 2006).
Na prática, a irrigação é uma técnica de comprovada eficiência, propiciando
altas taxas de sobrevivência das mudas (GOMES et al, 2006).
A irrigação no campo pode ser feita por meio de sistema de gotejamento
através de bombeamento ou gravidade se for o caso (GOMES et al, 2006). O sistema
de irrigação por gotejamento proporciona baixa lixiviação de água e nutrientes.
29
A quantidade de água a ser aplicada varia de acordo com o tipo de planta, com
a sua fase de desenvolvimento e com a demanda climática do local, ao longo do ano,
até a auto-sustentabilidade do povoamento florestal. Entretanto, pode variar também
em função da qualidade da água, do tipo de solo, da pluviometria do local, da
eficiência do sistema de irrigação utilizado e da adoção de práticas culturais que
permitam o aumento da eficiência de uso da água pelo cultivo (cobertura morta,
controle de plantas daninhas, controle integrado de pragas e doenças, utilização de
quebra-ventos etc.), sempre considerando a necessária proteção ao meio ambiente.
A variabilidade da precipitação pluvial e o uso de recursos inadequados de
irrigação e de manejo de água podem se tornarem uma das principais causas da baixa
produtividade.
Efeitos observados da falta de água sobre o desenvolvimento do mogno-
africano em plantas que foram irrigadas durante os primeiros anos de vida, em
comparação com plantas que nunca foram irrigadas são claras. Observou-se que
plantas regadas na fase jovem da cultura apresentaram mecanismos fisiológicos mais
eficazes e melhor crescimento, apresentando, portanto, vigor vegetativo superior.
Acredita-se que a irrigação, além de favorecer o desenvolvimento da planta,
contribuirá para a precocidade de floração.
Na região Oeste de Minas Gerais, o uso de tecnologia de irrigação é
indispensável à exploração comercial da cultura do mogno-africano, considerando
principalmente a questão de uma menor precipitação pluviométrica em relação às
regiões originárias dessa espécie.
Dentro de um sistema de produção florestal, a tecnologia vem a ser o elemento
chave fundamental para a geração de ganhos de produtividade e melhoria no processo
de combinação dos recursos econômicos. Desta forma, a incorporação de novas
tecnologias tem sido preponderante no sentido de incrementar a oferta de produtos
florestais, notadamente no longo prazo. Uma tecnologia só será eficiente quando
conseguir gerar ganhos de produtividade superiores ao custo total incorrido neste
aumento de produção. Desta forma, a tecnologia eficiente consegue aumentar a
produtividade reduzindo os custos médios de produção (BERGER et al, 2008).
30
Conforme Berger et al (2008) uma tecnologia mais eficiente consiste em um
conjunto de condições que permitem: a) aumentar a quantidade produzida de
determinado sistema florestal utilizando a mesma quantidade de recursos econômicos
empregados anteriormente e b) Manter o mesmo nível de produção realizado
anteriormente com a utilização de uma menor quantidade de recursos econômicos
(efeito poupador de insumos).
4.4.9 Limpeza da área
Para a maioria das espécies florestais, a competição com as plantas
indesejáveis (matos) é fator limitante ao crescimento e à sobrevivência, principalmente
na fase de estabelecimento. Desse modo é importante que nesta fase as mudas sejam
mantidas livres de competição (GOMES et al, 2006).
A manutenção da floresta limpa, além de melhorar o desenvolvimento das
plantas, atua também como forma de proteção contra incêndios e facilita a operação de
combate a algumas pragas.
Durante o período chuvoso, as plantas devem ser mantidas permanentemente
coroadas, prevenindo-as contra a concorrência por nutrientes, oriundos principalmente
das adubações químicas de manutenção, pelas invasoras e mantendo-se também a zona
das raízes isentas de encharcamento, prevenindo-se contra a ação de fungos
patogênicos, que podem levar a planta à morte. Durante o período mais severo de
estiagem, as plantas devem ser protegidas pela cobertura morta, para assegurar a
preservação da umidade, bem como manter os processos de alterações biológicas
promovidas pelos microorganismos do solo (GOMES et al, 2006).
4.4.10 Manutenção de infra-estrutura
As estradas e os aceiros devem ser mantidos em condições de acesso durante
31
todas as fases de projeto. Para isto há necessidade de ser feito uma conservação anual,
procurando-se manter as vias de drenagem pluviais sempre limpas e em perfeito
estado, uma vez que as águas de chuva são as causas principais de danos às estradas,
pontes, bueiros e aterros (GOMES et al, 2006).
Os aceiros internos e externos devem ser limpos, no mínimo uma vez por ano,
principalmente antes da estação da seca, como prevenção a incêndios (GOMES et al,
2006).
As cercas divisórias mantêm a integridade da propriedade servindo como
marco divisório e como proteção contra a entrada de animais (GOMES et al, 2006).
A vigilância patrimonial consiste no monitoramento da área plantada para
observação de ocorrência de pragas, doenças, risco de incêndios, invasões, furtos de
madeiras etc. (GOMES et al, 2006).
4.4.11 Pragas e doenças
Existem inúmeras doenças que atacam o mogno-africano, a maioria
apresentam sintomas parecidos, amarelecimento e queda das folhas seguido da morte
da planta. Entre essas doenças estão: Mancha foliar (causada pelo fungo
Cylindrocladium parasiticum); Queima do fio (causada pelo fungo Pellicularia
koleroga); podridão branca (fungo Rigidoporus lignosos), dentre outras
(CARVALHO, 2008).
Conforme Carvalho (2008) em um povoamento onde existe uma elevada
população de plantas, seja Mogno-africano ou outra espécie, é absolutamente normal
que haja uma taxa de mortalidade anual. Essa mortalidade não deve ser superior a
0,5%.
Abaixo segue citações de algumas pragas e doenças:
Irapuá ou abelha cachorro – o fluxo de lançamento apical da planta, formado
por brotação nova e tenra, é severamente atacada por estas abelhas (trigona spp). Esses
himenópteros, na realidade, não são, a rigor, considerados como praga. Entretanto,
32
quando presentes, causam sérios danos às plantações. O ataque é feito na parte jovem
(broto terminal) causando a morte desta parte apical, provocando a queda dos folíolos,
ocasionando a atrofia e brotação, provocando duas ou mais ramificações, depreciando
o tronco, principalmente se ocorrer abaixo de 4 metros de altura (GOMES et al, 2006).
Broca do broto terminal – conforme Falesi, I.C., Baena, A.R.C.(1999), a
lagarta Hypsipyla grandella, conhecida como broca do broto terminal, que ataca
principalmente espécies arbóreas pertencentes à família Meliaceae, não tem causado
danos ao mogno africano. Entretanto, Lamprechet (1990) faz citação do ataque de H.
robusta causando sérios danos ao Mogno-africano nos locais de origem. Por isso, onde
esta praga está disseminada, raramente se instalam povoamentos puros desta espécie.
(FALESI, I.C; BAENA, A.R.C., 1999)
Broca do Pecíolo – as plantas quando atacadas, mostram os folíolos e o
pecíolo de folhas do mogno-africano escuros, negros e não quebradiços, tanto nas
folhas jovens quanto nas mais evoluídas. Inicialmente se nota um murchamento,
seguindo escurecimento dos folíolos e pecíolos progredindo da ponta para o meio da
folha. O agente causador é um inseto coleóptero pertencente á família Scolitideae do
gênero Xyleboros ou Xylosandros. O inseto perfura o pecíolo e transporta o fungo,
ainda desconhecido, através do orifício. O controle será retirando as folhas infestadas e
queimá-las, entretanto, quando o ataque é mais generalizado, deve-se aplicar um
inseticida fosforado (FALESI, I.C; BAENA, A.R.C., 1999).
Mancha areolada das folhas – o fungo denominado de Thanatephorus
cucumeris ataca os folíolos do Mogno-africano desde o viveiro, durante as primeiras
fases do replantio e na fase adulta, com mais de dois anos de idade. A incidência mais
severa deste fungo é observada durante o período de maior queda pluviométrica. O
controle, quando o ataque é severo, pode ser feito através da aplicação de fungicidas
cúpricos (FALESI, I.C; BAENA, A.R.C., 1999).
Murcha letal da Khaya – foi identificado o fungo Rígidosporus liguosos, um
basidiomiceto, como agente da podridão branca da raiz. Esse fungo somente ocorre
quando há um processo de encharcamento nas zonas das raízes. O controle, quando as
plantas já foram atingidas, é arrancar e queimar este material vegetal, principalmente o
33
sistema radicular, tomando-se o cuidado de tratar com fungicida o local de retirada das
raízes (FALESI, I.C; BAENA, A.R.C., 1999).
4.4.12 Áreas introduzidas a cultura do mogno-africano
Em março de 1976, foram semeadas, na Embrapa Amazônia Oriental, em
Belém, Estado do Pará quatro mudas de K.ivorensis com o objetivo de se observar o
comportamento vegetativo e a adaptação climática (FALESI, I.C; BAENA, A.R.C,
1999).
Abaixo segue fotos da espécie Khaya ivorensis A.Chev (mogno-
africano) em visita feita a Embrapa Florestas Belém/PA durante o VIII Congresso de
Compensado e Madeira Tropical de 23 a 27 de outubro de 2007 realizado em Belém
(PA). A foto da esquerda mostra duas das quatro árvores semeadas em 1976. E a foto
da direita, conforme informações obtidas durante a visita, mostra fileira da esquerda
com o cultivo do mogno amazônico (Swietenia macrophylla) e fileira da direita do
mogno-africano (Khaya ivorensis A.Chev).
FIGURA 2 - KHAYA IVORENSIS A.CHEV (MOGNO-AFRICANO) EMBRAPA
BELÉM/PA (2007)
34
Em Igarapé-Açu, Pará, em cultivo efetuado na propriedade rural Fattoria
Piave, estabeleceu-se, em 1992, um SAF, abrigando 30 espécies arbóreas, dentre as
quais, cinco K.ivorensis.
Fazendo-se analogias entre o ambiente de estudos na implantação de SAFs
(Sistemas agro-florestais) experimentais e o ambiente do projeto experimental da
Fazenda Estiva:
IGARAPÉ-AÇU - ESTADO DO PARÁ (local de estudo e implantação
do SAF.)
OESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (local pioneiro de
implantação)
No ambiente de Igarapé-Açu o solo é latossolo amarelo, álico, textura média,
podolizado devido aos sistemas de uso intensivo pela agricultura itinerante, durante
aproximadamente 70 anos. O horizonte “B” contém 20% de argila total e, na
granulometria, predominam as frações de areias grossas e finas. Características físicas
e químicas na camada superficial de zero a 20 cm do nível do solo:
Areia grossa ....................................................................................................... 50%
Areia fina ........................................................................................................... 27%
Silte .................................................................................................................... 15%
Argila.................................................................................................................. 8%
Soma ................................................................................................................. 100%
Carbono .............................................................................................................. 1,03
Nitrogênio ........................................................................................................... 0,07
Matéria orgânica ................................................................................................. 1,77
PH........................................................................................................................ 5,4
Cálcio (meq/100g) .............................................................................................. 0,8
Magnésio (meq/100g) ......................................................................................... 0,7
Alumínio (meq/100g).......................................................................................... 0,3
Potássio (p.p.m.) ............................................................................................... 13
Fósforo(p.p.m.).................................................................................................... 1
35
Em um mesmo solo, porém, com revestimento florestal primário, esses valores
foram: para Al. de 1,6 a 1,8 meq/100 gr e para pH de 3,8 a 4,0. O fósforo e potássio
possuem valores abaixo dos níveis críticos definidos para diversas culturas agrícolas.
Portanto o solo experimental é definido como de baixa fertilidade química.
O ambiente climático é influenciado pelo tipo AMI, da classificação de
Köppen e a precipitação pluviométrica anual média, no período de 1990 a 1998 são a
seguinte (fonte FCAP):
1990 ...................................................................................................... 2.177,8 m/m
1991 ...................................................................................................... 2.720,9 m/m
1992 ...................................................................................................... 1.620,2 m/m
1993 ...................................................................................................... 2.130,5 m/m
1994 ....................................................................................................... 1.770,8 m/m
1995 ....................................................................................................... 1.953,5 m/m
1996 ....................................................................................................... 2.166,2 m/m
1997 ....................................................................................................... 2.117,3 m/m
l998 ........................................................................................................ 2.047,9 m/m
Média .................................................................................................... 2.078,3 m/m
No ambiente implantada a floresta da cultura do mogno-africano (Khaya
ivorensis A.Chev.), em Itaúna (MG), a oeste de Minas Gerais, o solo apresenta-se com
característica de textura média, ou seja:
Areia grossa................................................................................................... 29,50 %
Areia fina....................................................................................................... 22,58 %
Silte ............................................................................................................... 14,88 %
Argila ............................................................................................................ 33,04 %
Soma ................................................................................................................ 100 %
36
O local situa-se acima do trópico de capricórnio. Observa-se que o clima é
sub-úmido, porém o solo mais argiloso em 25,04% retém mais umidade do que em
Igarapé-Açu. Características químicas encontradas na camada superficial de zero a 20
cm. do nível do solo:
Carbono ............................................................................................................... 1,65
Nitrogênio ........................................................................................................... 0,14
Matéria orgânica ................................................................................................. 2,84
PH........................................................................................................................ 4,5
Cálcio (cmol/dm³) .............................................................................................. 0,75
Magnésio (cmol/dm³) ......................................................................................... 0,31
Alumínio (cmol/dm³).......................................................................................... 1,27
Potássio (mg/dm³) ............................................................................................. 63
Fósforo(mg/dm³)................................................................................................. 7,2
O ambiente climático foi extraído de arquivos do Instituto Nacional de
Metereologia - Posto Climatológico de Belo Horizonte - MG, e refere-se à média mês
a mês do período de 1.96l a l.990 (30 anos), a saber:
QUADRO 8 – PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA Mês Precipitação Pluviométrica Umidade Relativa
Janeiro 300 mm 78 %
Fevereiro 180 mm 75 %
Março 170 mm 74 %
Abril 50 mm 73 %
Maio 30 mm 72 %
Junho 10 mm 70 %
Julho 10 mm 68 %
Agosto 10 mm 65 %
Setembro 40 mm 65 %
Outubro 120 mm 68 %
37
Novembro 220 mm 74 %
Dezembro 310 mm 78 %
Média anual 1450 mm -
Fonte: Instituto Nacional de Metereologia - Posto Climatológico de Belo Horizonte - MG
O que vale dizer, que, as precipitações da região onde se pretende implantar a
espécie, têm um volume de chuva 30% (trinta por cento) menor do que na região onde
foram feitos os estudos de implantação dos SAFs.
4.4.13 Projeções de plano de corte
Atualmente, no Brasil, pesquisas estão sendo realizadas quanto aos aspectos
do crescimento vegetativo, utilização de nutrientes e água nas condições e quantidade
exata, dentre outras, para que a planta possa se desenvolver nas condições necessárias,
no intuito do aumento da produtividade e redução do tempo de corte.
Para o referido trabalho, com o intuito de estabelecer uma linha de tempo de
10 anos para projeções de fluxo de caixa e demonstração dos resultados, foi estipulado
plano de corte no 8º ano de 20% das árvores e no 10º ano de 80% das árvores.
Vale lembrar que para obtenção de uma madeira de melhor qualidade e para
um melhor aproveitamento da madeira na indústria moveleira seriam necessários mais
anos para tal aplicação.
4.4.14 Projeções dendométricas
Em Igarapé-Açu, Pará, em cultivo efetuado na propriedade rural Fattoria
Piave, estabeleceu-se, em 1992, um SAF, abrigando 30 espécies arbóreas, dentre as
quais, cinco K.ivorensis. Avaliadas essas árvores em julho de 1998, foram obtidas as
médias de 11,24m de fuste e 21,5cm de DAP.
38
Portanto para o referido trabalho, baseado nos dados acima numa linha de
tempo de 6 (seis) anos, foram feitas projeções de médias de DAP. A altura de fuste foi
mantida de 11.24 metros, conforme abaixo:
� 8º ano, altura fuste de 11,24 m e média de DAP de 29 cm.
Portanto para o 10º ano quanto à estimativa média de ganho de DAP foi
considerada medida de 29 cm dividida por 8, correspondendo após 8º ano ganho
de 3,63 cm ano. A altura de fuste foi considerada a mesma.
� 10º ano, altura fuste de 11,24 metros e média de DAP de 36,26 cm.
4.4.15 Projeções de perdas no processo de serragem
Como não se possui um ciclo total da cadeia produtiva do mogno-africano em
escala no Brasil e não possuindo médias para o percentual de perda no processo de
serragem, no referido trabalho será considerado rendimentos de toras de pinus na
serraria, conforme informações obtidas por Almeida D. (2010) pelo Eng.Agrônomo
Marcus Kum Adames, sócio proprietário da indústria ITA PINUS, localizada no
município de Vacaria (RS), exportadora de madeira para os EUA. O rendimento de
toras de pinus na serraria é o seguinte:
Madeira serrada: 66% (incluem as tábuas, caibros, barrotes etc.)
Perda: 34% (entra nesse índice a casca serragem, costaneiras, cavacos etc.).
Convém salientar que as toras não deverão apresentar uma grande conicidade,
pois aumentaria a perda (ALMEIDA D., 2010).
4.5 QUADROS FINANCEIROS
Segundo Woiler (1996), em se tratando dos aspectos associados aos quadros
financeiros, devemos seguir a seguinte seqüência para se elaborar um projeto de
viabilidade:
39
a) quadro de investimento.
b) quadro de fontes e aplicações de recursos.
c) quadro de projeção dos resultados e fluxo de caixa.
Segundo Woiler (1996) avaliar o investimento total é uma das tarefas mais
importantes associadas ao projeto de viabilidade, porque o total a ser investido é muito
relevante em termos de viabilidade.
O cronograma de implantação refere-se a referência física de implantação do
projeto no tempo. Esta seqüência será determinada pelo detalhamento do projeto de
engenharia, pela disponibilidade de recursos e de fornecimento de materiais e
equipamentos. O prazo total de implantação será determinado pela composição das
diferentes etapas que compõem a implantação física. Já no cronograma de desempenho
diz respeito à seqüência financeira de implantação do projeto. Ou seja, são
especificadas as necessidades de recursos em cada período (WOILER, 1996).
O quadro de fontes e de aplicações de recursos auxilia para determinar o
retorno do projeto demonstrando quais as fontes utilizadas e suas devidas aplicações.
Segundo Woiler (1996), o principal objetivo para elaborar a projeção de
resultados está em apresentar o detalhamento da estrutura do lucro ou prejuízo líquido
de um determinado período. O resultado obtido é identificado na conta de Lucros ou
Prejuízos acumulados do balanço patrimonial
O Fluxo de Caixa Gerencial é uma ferramenta fundamental para o
gerenciamento financeiro da empresa, fornecendo uma base de informações
fundamentais para o auxílio à tomada de decisões.
4.6 FORMAÇÃO DE PREÇO
Segundo Lunkes2 (2003), a formação dos preços de venda dos produtos ou
serviços obedece a vários métodos e estratégias; no entanto, a mais antiga estratégia e,
2 Lunkes, Rogério João é contador, professor, mestre e doutorando.
40
consequentemente, a mais usada é a formação de preços por meio da apuração dos
custos dos produtos ou serviços. No mercado, o preço exerce grande influência na
decisão de compra; portanto, as empresas devem ter cuidado na sua determinação.
Entre os inúmeros métodos de formação de preço de venda, é necessário escolher
aquele que possibilita compatibilizar crescimento nas vendas com lucratividade.
Entretanto, há no mercado clientes que são sensíveis ao preço, procuram no produto ou
serviço outras características que lhe tragam maior satisfação.
A determinação do preço de venda para alguns segmentos de mercado tornou-
se complexa, devido à concorrência cada vez mais acirrada. Atualmente, para
determinar o preço de venda, deve-se te noção clara do valor percebido pelo cliente. A
idéia de que o mercado é quem determina o preço não é totalmente verdadeira.
Dentro deste contexto, segundo Lunkes (2003), existem diversos fatores que
influenciam direta ou indiretamente na formação do preço de venda, os quais devem
ser considerados e incorporados aos preços dos produtos a serem ofertados ao
mercado, que são eles:
a) custos de aquisição ou produção: A definição do preço de venda baseado no
custo encontra grande resistência na atual conjuntura. Tal distorção ocorre em função
do uso de formas inadequadas de rateio dos custos indiretos de fabricação. A estratégia
adotada por inúmeras empresas brasileiras é a política de preços diferenciados para
clientes de grande potencial e segurança.
b) fatores ambientais ou externos: Lunkes (2003) cita os seguintes fatores
indicados por Chien et al.(1998):
Fatores de mercado (potencialidade do mercado, diferenciação do
produto, sazonalidade, mercados cativos, lucratividade do setor, etc).
Fatores competitivos (intensidade da competição, barreiras para entrar,
barreiras para sair, volatilidade da fatia do mercado, produtos
substitutos, etc.).
Fatores econômicos e governamentais (inflação, impactos das
mudanças externas, nível salarial, disponibilidade de matéria-prima e
mão-de-obra, legislação e impostos, etc.).
41
A análise das oportunidades e ameaças do ambiente exige grande sensibilidade
do gestor para serem depuradas e consideradas na formação do preço de venda.
c) valor percebido pelo cliente: É o valor atribuído pelos clientes ao produto
ou serviço, baseado na relação entre benefícios que este trará, segundo a ótica do
consumidor, e os custos percebidos para sua aquisição, comparativamente á
concorrência (Kotler, 1998).
Segundo Kaplan e Norton (1997), os atributos dos produtos e serviços
abrangem a funcionalidade do produto ou serviço, seu preço, qualidade e tempo.
Conforme Kotler (1998), o produto pode ter várias características de desempenho
como: conformidade, durabilidade, confiabilidade, facilidade de conserto, estilo e
design, entre outros. A empresa pode cobrar mais por determinado produto ou serviço,
até mesmo no caso do padronizado, desde que o cliente perceba algum atributo a mais
em relação á concorrência.
Em 1997, uma das árvores semeadas em 1976 na Embrapa Belém/PA, após ser
transformada em peças para comercialização, rendeu USS1.200,00/m³. Informação
pessoal do pesquisador José Edmar Urano de Carvalho, da Embrapa Amazônia
Oriental, dá conta de que uma árvore de mogno-amazônico, aproveitado de mesma
maneira, rendeu USS 900,00/m³ (FALESI, I.C; BAENA, A.R.C, 1999).
Estimativamente, uma árvore de mogno-africano, ao atingir o ponto de corte,
poderá atualmente alcançar o valor mínimo de USS2.000,00, considerado
extraordinário, não existindo outro produto agrícola que a supere. ( FALESI, I.C;
BAENA, A.R.C, 1999).
Abaixo segue valores do dólar comercial (venda) para composição de média
para parâmetro e conversão M³ de madeira dólar (U$) para real (R$) para o quadro de
receitas:
42
QUADRO 9 – MÉDIA DÓLAR COMERCIAL
Data Valor(R$) Var(%) Fonte
08/02/2010 R$ 1,87 0,00 BCB05/02/2010 R$ 1,87 0,08 BCB04/02/2010 R$ 1,87 1,63 BCB03/02/2010 R$ 1,84 -0,27 BCB02/02/2010 R$ 1,85 -2,00 BCB01/02/2010 R$ 1,88 0,96 BCB29/01/2010 R$ 1,87 0,59 BCB28/01/2010 R$ 1,85 0,15 BCB27/01/2010 R$ 1,85 1,04 BCB26/01/2010 R$ 1,83 - BCBMédia 1,86R$
Dólar Comercial - Venda
Fonte: http://www.ciflorestas.com.br/moedas.php.
4.7 A TEORIA DE CUSTOS DE PRODUTOS FLORESTAIS
Existem muitos significados para a expressão custo de produção.
Normalmente o termo custo, despesa e gasto são considerados como sinônimos para
designar o mesmo aspecto. Para a análise econômica florestal, o termo custo significa
a compensação que os donos dos fatores de produção precisam ter para continuar
ofertando-os as empresas geradoras de produtos florestais (BERGER et al, 2008).
De forma alternativa, custo de produção representa o gasto necessário para que
a produção florestal possa acontecer. A determinação do custo total de produção tem
várias finalidades. Para as empresas florestais, serve como elemento fundamental no
processo de tomada de decisão na escolha de linhas de exploração, além de auxiliar o
processo de gestão da empresa como um todo. Para qualquer esfera de governo e
órgão ligados ao setor produtivo, os custos de produção fornecem subsídios ao
processo de formulação de políticas ao setor. Além disso, por estarmos em uma
economia aberta e globalizada, o conhecimento dos custos de produção nos auxilia a
medir o nosso grau de competitividade em relação às demais empresas atuando no
mercado (BERGER et al, 2008).
43
4.7.1 Classificação dos Custos de Produção
Segundo Berger et al (2008) ao analisar um sistema de produção florestal,
podemos encontrar duas categorias específicas de custos de produção: a) o custo fixo
de produção (CF) e b) o custo variável de produção (CV).
O custo fixo de produção (CF) pode ser classificado como o custo que não se
altera com a quantidade produzida, ou seja, é aquele custo que existe mesmo se não
houver produção. Geralmente representam o custo decorrente do uso de capitais fixos
da empresa florestal. No curto prazo ele não sofre alteração, mas, no longo prazo vai
sofrer alteração conforme a mudança na estrutura de produção (BERGER et al, 2008)..
Como exemplos, citamos os aluguéis e arrendamentos de terra, o capital
investido em terras, o juro sob capital fixo, a depreciação, o seguro, a mão-de-obra
fixa, a remuneração do produtor e os impostos fixos, entre outros (BERGER et al,
2008)..
O custo variável (CV) de produção, de maneira alternativa, é aquele gasto que
está diretamente associado com o processo produtivo da empresa florestal, além de se
relacionar com a função de produção e a lei dos rendimentos marginais decrescentes.
De maneira geral representam as despesas diretas ou explícitas decorrentes do uso dos
capitais circulantes da empresa e exigem gasto monetário direto. Como exemplos
temos os insumos (sementes, fertilizantes, etc.), a mão de obra variável (diaristas e
horistas), os impostos variáveis (ICMS) e a conservação e reparos de máquinas,
equipamentos e benfeitorias, entre outros (BERGER et al, 2008)..
Para a análise econômica da empresa florestal, torna-se necessário a
determinação do custo total (CT) de produção. O custo total representa o somatório de
todos os custos fixos e variáveis envolvidos no processo da produção florestal
(BERGER et al, 2008)..
Matematicamente, o custo total pode ser representado como: CT = CF + CV
O comportamento do custo fixo (CF), do custo variável (CV) e do custo total
de produção (CT) em relação à quantidade produzida pode ser observado na figura 10
que segue abaixo (BERGER et al, 2008):
44
GRÁFICO 1 – AS CURVAS DE CUSTO FIXO, VARIÁVEL E TOTAL.
4.7.2 Os Custos Médios da Produção Florestal
Os custos médios ou custos unitários de produção representam os custos totais
de produção divididos pelo número respectivo de unidades produzidas. O custo médio,
desta forma, incluirá parcela dos custos fixos e dos custos variáveis de produção.
Quando a produção florestal é pequena, os custos médios são altos devido ao fato dos
custos fixos pressionarem positivamente as primeiras unidades produzidas. Mas, a
medida em que a produção sofre incremento, os custos fixos serão diluídos, causando
declínio gradativo do custo total médio. Uma vez distribuídos os custos fixos pela
produção gerada, a sua influência fica reduzida, tornando-se então, relativamente
importantes os custos variáveis que, com o incremento na produção tendem a se elevar
devido ao efeito dos rendimentos marginais decrescentes da função de produção
(BERGER et al, 2008).
Conforme Berger et al (2008), desta forma, os principais tipos de custos
médios de produção são:
a) Custo Fixo Médio (CFMe) – representa o custo fixo (CF) ou custo fixo total
dividido pela quantidade produzida.
Matematicamente: CFMe = CF ÷ Q.
b) Custo Variável Médio (CVMe) – representa o custo variável (CV) ou custo
45
variável total dividido pela quantidade produzida.
Matematicamente: CVMe = CV ÷ Q.
c) Custo Total Médio (CTMe) - representa o custo total (CT) ou custo total
médio
dividido pela quantidade produzida.
Matematicamente: CTMe = CT ÷ Q ou, alternativamente: CTMe = (CF + CV) ÷ Q.
d) Custo Marginal (CMg) – representa uma variação no custo variável total
devido a produção de uma unidade adicional do produto florestal. Imagine que o
empresário florestal deseje aumentar em um estéreo a produção de pinus por hectare e,
para tanto, utiliza quantidades adicionais do fator variável de produção. Desta forma, o
custo marginal (CMg) de um estéreo a mais de produto é medido pelo acréscimo no
custo variável de produção.
Matematicamente: CMg = DCV ÷ DQ.
GRÁFICO 2 – COMPORTAMENTO GRÁFICO DOS CUSTOS MÉDIO DE PRODUÇÃO.
4.8 AS RELAÇÕES MONETÁRIAS NA PRODUÇÃO FLORESTAL
Em um sistema de produção florestal, além de se conhecer o comportamento
físico da produção, e necessário entender as principais relações monetárias associadas
com este processo. Dentre as relações monetárias mais importantes, a que se destacar a
46
receita total (RT), a receita marginal (RMg) e o lucro (L) como principais indicadores
econômicos da produção (BERGER et al, 2008).
A receita total (RT) vem a ser o valor da produção, ou seja, o seu preço de
mercado (Pq) do produto multiplicado pela respectiva quantidade produzida (q)
(BERGER et al, 2008). Matematicamente temos: RT = Pq . q
Conforme Berger et al (2008) a receita marginal (RMg) pode ser definida
como o valor que é adicionado a receita total quando uma unidade adicional do
produto florestal é vendida no mercado. Como o produtor é um tomador de preço, ou
seja, dado que a sua produção individual é muito pequena em relação à produção total
do mercado, as suas decisões individuais não afetam o preço de mercado e, desta
forma, pode se admitir que o preço permaneça constante caso decida produzir ou não.
Assim, matematicamente temos: RMg = ∆RT/∆q = Pq. ∆q/∆q = P q
Segundo Berger et al (2008) o lucro (L) ou Margem Líquida (ML) vem a ser o
resultado da subtração da receita total (RT) gerada pela venda dos produtos florestais
no mercado menos os custo total (CT) de produção incorridos na sua geração.
Matematicamente o lucro pode ser representado como:
Lucro (L) = RT – CT
Ou, de forma alternativa,
Lucro (L) = Pq.q – (CF + CV)
4.9 INDICADORES PARA ANÁLISE ECONÔMICA DO PROJETO
Segundo Woiler (1996), além da viabilidade financeira, devemos verificar a
existência da eventual viabilidade econômica do investimento. Os critérios
considerados são aqueles que se baseiam, no fluxo de caixa e no valor do dinheiro do
tempo.
47
4.9.1 Payback
O Payback é um dos métodos mais populares utilizado para análise de
alternativas de investimento. Consiste em quantificar através do fluxo de caixa, em
quanto tempo um investimento é coberto pelas entradas e saídas de caixa ocorridas
após a data de realização do desembolso inicial (WOILER, 1996).
4.9.2 Valor atual líquido
Sendo admitida determinada taxa de juros (também chamada taxa de
desconto), o valor atual líquido pode ser definido como sendo a soma algébrica dos
saldos do fluxo de caixa descontados àquela taxa para determinada data (WOILER,
1996).
Segundo Woiler (1996), o valor atual positivo R$ X significa que os ganhos de
projeto remuneram o investimento feito em % ao ano e ainda permitem aumentar o
valor da empresa daquele valor. Ou ainda que se poderia gastar mais R$ X como
investimento no início do primeiro período e mesmo assim os ganhos remunerariam a
empresa em % ao ano. Ou seja, se o valor atual líquido é positivo, o projeto deve ser
aceito porque cobre o custo de capital da empresa. Quanto maior o valor atual líquido
a uma dada taxa de desconto, mais desejável é o projeto para a empresa, pois maior é
seu potencial de ganho. Por outro lado, se o valor atual líquido for menor que zero,
então o projeto deve ser rejeitado porque os ganhos não cobrem o custo de capital da
empresa (ou seja, a taxa de desconto adotada).
48
4.9.3 Taxa interna de retorno
Taxa interna de retorno de um investimento é a taxa de desconto que anula o
valor presente líquido do fluxo de caixa associado a esse investimento (WOILER,
1996).
Em síntese, a taxa interna de retorno apresenta algumas características, a saber
(SANTOS, 1999):
a) a taxa é interna porque depende exclusivamente das características do fluxo
de caixa. Não há necessidade de qualquer tipo de premissa externa
adicional, que dependa de preferências ou características do investidor - é
um valor intrínseco ao fluxo.
b) à exceção de fluxos bastante simples, a taxa somente pode ser calculada por
tentativas e erros, através de aproximações sucessivas.
c) um fluxo de caixa pode apresentar múltiplas taxas internas de retorno,
dependendo de suas características matemáticas. Projetos convencionais de
investimento - quando há uma única mudança de sinal - produzem uma
única taxa interna de retorno. Por exemplo a seqüência (-$100, -$200, +$90,
+$90, +$90, +$90), em que ocorrem duas saídas, seguidas de quatro
entradas consecutivas de caixa, proporciona uma TIR de 6,73%.
d) esse fato é relevante porque, para que a taxa interna de retorno tenha sentido
financeiro é necessário que o fluxo de caixa produza uma única TIR.
e) como indicador de mérito é inferior ao VPL, já que, entre dois projetos
mutuamente exclusivos, o que apresentar TIR menor poderá ser preferível,
desde que tenha um maior VPL.
f) outra forma de explicar o fato acima é dizer que a TIR nada informa sobre a
escala da alternativa considerada. Havendo dois projetos mutuamente
exclusivos, o primeiro com VPL de $10.000.000 e TIR de 20%, pode ser
preferível à outro, cuja TIR seja 40%, e VPL de $1.000.000.
49
Fonte: Manual VPS de Elaboração de Projetos
O descarte de projetos através da TIR pode ser realizado comparando-se seu
valor com o do custo de oportunidade do capital. Caso o valor da TIR (positivo) de um
projeto seja inferior ao valor do custo de oportunidade do capital, então esse projeto
será descartado.
4.9.4 - Margem de contribuição e ponto de equilíbrio
Segundo Bernardi (2003), margem de contribuição é o valor, ou percentual,
que sobra das vendas, menos o custo direto variável e as despesas variáveis. A margem
de contribuição representa o quanto a empresa tem para pagar as despesas fixas e gerar
o lucro líquido.
Segundo Bernardi (2003), ponto de equilíbrio é o volume calculado, em que as
receitas totais de uma empresa igualam-se aos custos e despesas totais, portanto o
lucro é igual a zero. Neste ponto não tem nem lucro e prejuízo.
Segue abaixo gráfico 4 referente ponto de equilíbrio:
50
Fonte: Bernardi (2003). GRÁFICO 3 - REPRESENTAÇÃO DO PONTO DE EQUILÍBRIO
4.10 AVALIAÇÃO DO PROJETO
Para avaliar o mérito de uma alternativa de investimentos, o VAL é calculado
descontando-se o fluxo de caixa ao custo de capital. Seriam atrativos os projetos com
VPL positivo. Alternativamente, no método da TIR esta é comparada ao custo de
capital. Será rejeitado o projeto cuja TIR for inferior ao custo médio ponderado de
capital. Ambos os métodos exigem a definição de custo de capital. Para efeito prático,
sugerimos observar as seguintes regras:
a) se o projeto for realizado exclusivamente com recursos próprios, o custo de
capital é a taxa de juros máxima à qual podem ser aplicados esses mesmos
recursos pelo investidor, admitindo que a alternativa contenha igual risco.
b) se o investimento for realizado exclusivamente com empréstimos, o custo de
capital é a taxa de tomar emprestados os recursos.
c) se o projeto for efetuado utilizando capital próprio e endividamento com
juros remuneratórios explícitos, o custo de capital deve ser calculado como
51
sendo a média ponderada do custo de oportunidade do capital próprio e das
taxas de juros dos empréstimos e financiamentos:
Fonte: Manual VPS de Elaboração de Projetos
A avaliação da viabilidade econômica de um projeto, visto como um todo, é
feita com base na comparação entre a taxa de rentabilidade do ativo total com uma
taxa de juro que reflita o custo dos recursos totais empregados. Sob a ótica exclusiva
do sócio, o grau de atratividade de um projeto depende da comparação entre a taxa de
rentabilidade dos recursos próprios aplicados e a taxa de rentabilidade desejada. Um
projeto é economicamente viável quando sua taxa de retorno é maior do que o custo de
oportunidade dos recursos totais utilizados no projeto. A atratividade para os
investidores, será maior ou menor, à proporção que o retorno sobre o capital próprio
supere a rentabilidade mínima desejada, para um dado nível de risco (SANTOS,
2000).
52
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 CUSTO DE PLANTIO DE 10 HA. DE MOGNO-AFRICANO
QUADRO 10 - CUSTO DE PLANTIO DE 10 HA. DE MOGNO-AFRICANO
ESPECIFICAÇÃO UNID. VALOR UNIT. QUANT. VALORMudas (+ 5%) Ud. 5,00 4200 21.000,00Frete Viagem 1.000,00 1 1.000,00Calcário Saco 4,90 125 612,50Super fosfato Saco 29,60 32 947,20Esterco de curral Ton. 90,00 60 5.400,00Herbicida Litro 13,80 20 276,00Formficida Pte. 3,20 20 64,00NPK Saco 44,60 60 2.676,00TOTAL 31.975,70Aração H/T 40,00 45 1.800,00Aplicação calcário Cova 0,47 4000 1.875,00Marcação área Cova 0,47 4000 1.875,00Abertura de covas Cova 1,56 4000 6.250,00Limpeza de covas Cova 0,47 4000 1.875,00Adubaçao de covas Cova 0,47 4000 1.875,00Plantio Cova 0,47 4000 1.875,00Capinas Cova 0,47 4000 1.875,00Adubação cobertura Cova 0,47 4000 1.875,00TOTAL 21.175,00
TOTAL GERAL 53.150,70
INS
UM
OS
SE
RV
IÇO
S
53
5.2 CUSTEIO FLORESTAL – 1º, 2º E 3º ANOS
QUADRO 11 - CUSTEIO FLORESTA MOGNO-AFRICANO – 1º ANO
ESPECIFICAÇÃO UNID. VALOR UNIT. QUANT. VALOR
Esterco de curral Ton. 90,00 25 2.250,00
NPK Saco 44,60 68 3.032,80
TOTAL 5.282,80
Coroamento Cova 0,47 4000 1.875,00
Adubação cobertura Cova 0,47 4000 1.875,00
TOTAL 3.750,00
TOTAL GERAL 9.032,80
INS
UM
OS
SE
RV
IÇO
S
QUADRO 12 - CUSTEIO FLORESTA MOGNO-AFRICANO – 2º ANO
ESPECIFICAÇÃO UNID. VALOR UNIT. QUANT. VALOR
Esterco de curral Ton. 90,00 25 2.250,00
NPK Saco 44,60 68 3.032,80
TOTAL 5.282,80
Coroamento Cova 0,47 4000 1.875,00
Adubação cobertura Cova 0,47 4000 1.875,00
TOTAL 3.750,00
TOTAL GERAL 9.032,80
INS
UM
OS
SE
RV
IÇO
S
QUADRO 13 - CUSTEIO FLORESTA MOGNO-AFRICANO – 3º ANO
ESPECIFICAÇÃO UNID. VALOR UNIT. QUANT. VALOR
Esterco de curral Ton. 90,00 25 2.250,00
NPK Saco 44,60 68 3.032,80
TOTAL 5.282,80
Coroamento Cova 0,47 4000 1.875,00
Adubação cobertura Cova 0,47 4000 1.875,00
TOTAL 3.750,00
TOTAL GERAL 9.032,80
INS
UM
OS
SE
RV
IÇO
S
54
5.3 DESPESAS DEPRECIAÇÃO/SEGUROS/MANUTENÇÃO/CUSTOS GERAIS
QUADRO 14 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO
ITENS VALOR % VR. ANOTrator 0,00 10% 0,00Implementos 0,00 10% 0,00TOTAL 0,00
QUADRO 15 - DESPESAS COM SEGUROS
ITENS VALOR % VR. ANOTrator 0,00 2% 0,00Implementos 0,00 2% 0,00TOTAL 0,00
QUADRO 16 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO
ITENS VALOR % VR. ANOTrator 0,00 2% 0,00Implementos 0,00 2% 0,00TOTAL 0,00
QUADRO 17 - CUSTOS GERAIS (ESTIMATIVAS)
ITENS VALOR MÊS VALOR ANOCombustíveis 500,00 6000,00Energia 200,00 2400,00Inseticida/Fungicidas 50,00 600,00Defensivos/Formicidas 50,00 600,00Ferramentas 50,00 600,00Capinas 7d/h 182,00 2184,00Irrigação 7d/h 182,00 2184,00TOTAL 1214,00 14568,00
Obs.: Valores para efeito de parâmetro
55
5.4 DESPESAS COM MÃO DE OBRA
QUADRO 18 – CUSTOS E DESPESAS COM MÃO DE OBRA
Cargo Quant. Salário Mês Trimestre AnualEncarregado* 1 1.050,00 1.050,00 3.150,00 12.600,00Serviços gerais 1 525,00 525,00 1.575,00 6.300,00Sub-total 2 1.575,00 4.725,00 18.900,00
1.898,82 5.696,46 22.785,84SOMA 3.473,82 10.421,46 41.685,84
Gerente (+20%) 1 1260 1.260,00 3.780,00 15.120,001.260,00 3.780,00 15.120,00
Contabilidade - - 350,00 1.050,00 4.200,00Assist. tec. Agrícola - - 700,00 2.100,00 8.400,00SOMA 1.050,00 3.150,00 12.600,00
5.783,82 17.351,46 69.405,84TOTAL DE DESPESAS C/ PESSOAL
Ecargos sociais - 120,56 % *
SOMA
RETIRADA PRO-LABORE
MÃO DE OBRA PRÓPRIA
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA
5.5 RESUMO DAS NECESSIDADES FINANCEIRAS E ORIGEM DOS
RECURSOS
QUADRO 19 - RESUMO DAS NECESSIDADES FINANCEIRAS E ORIGEM DOS RECURSOS
ESPECIFICAÇÃO VALOR %Plantio 10 ha Mogno 53.150,70 15,3%Trator - 1 unidade 0,00 0,0%Implementos agrícolas 0,00 0,0%Custeio 1º, 2º e 3º anos 27.098,40 7,8%Seguros - 10 anos 0,00 0,0%Desp. c/ manutenções - 10 anos 0,00 0,0%Mão de obra própria - 3 anos 170.417,52 48,9%Mão de obra terceirizada - 3 anos 37.800,00 10,9%Despesas gerais - 3 anos 43.704,00 12,6%Honorários Projeto 16.000,00 4,6%SOMA 348.170,62 100,0%
ORIGEM DOS RECURSOS VALOR %Próprios 348.170,62 100,0%Financiamento 0,00 0,0%TOTAL 348.170,62 100,0%
56
5.6 PROJEÇÃO DE INVESTIMENTO E GASTOS DIVERSOS
QUADRO 20 – PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS E GASTOS DIVERSOS
Especificação Unid. Valor unit. Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. ValorTrator Unid. 0,00 01 0,00 - - - - - - - -Implementos Unid. 0,00 01 0,00 - - - - - - - -Implantação Há 5.315,07 10 53.150,70 - - - - - - - -Custeio Há 903,28 10 9032,8 10 9.032,80 10 9.032,80 - - - -Mão-de-obra própria Mês 4.733,82 12 56.805,84 12 56.805,84 12 56.805,84 12 56.805,84 12 56.805,84Mão-de-obra terceirizada Mês 1.050,00 12 12.600,00 12 12.600,00 12 12.600,00 - - - -Honorários 16.000,00 01 16.000,00 - - - - - - - -Seg./Manut. 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00Desp.Gerais Mês 1.214,00 12 14.568,00 12 14.568,00 12 14.568,00 - - - -Totais anuais 162.157,34 93.006,64 93.006,64 56.805,84 56.805,84TOTAL GERAL
BENS E SERVIÇOS 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO
Especificação Unid. Valor unit. Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. ValorTrator Unid. 0,00 - - - - - - - - - -Implementos Unid. 0,00 - - - - - - - - - -Implantação Há 7.147,57 - - - - - - - - - -Custeio Há 903,28 - - - - - - - - - -Mão-de-obra própria Mês 4.733,82 12 56.805,84 12 56.805,84 12 56.805,84 12 56.805,84 12 56.805,84Mão-de-obra terceirizada Mês 1.050,00 - - - - - - - - - -Honorários 0,00 - - - - - - - - - 144000,00Seg./Manut. Mês 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00Desp.Gerais Mês 364,20 - - - - - - - - - -Totais anuais 56.805,84 56.805,84 56.805,84 56.805,84 200.805,84TOTAL GERAL 889.811,50
10º ANO6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANOBENS E SERVIÇOS
57
5.7 PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO E RECEITA
QUADRO 21 – PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO E RECEITA
ANO ÁREAQUANT.
ÁRVORESREND. POR
Há (M3)PRODUÇÃO TOTAL (M3)
QUANT. (M3)VALOR UNIT.
(R$)VALOR TOTAL
(R$)8º 2 Há 800 282,12 564,24 372,40 2.232,00R$ R$ 831.196,80
10º 8 Há 3200 365,32 2922,53 1928,87 2.232,00R$ R$ 4.305.237,84R$ 5.136.434,64
VENDAS DE MADEIRA SERRADAPRODUÇÃO DE MADEIRA EM TORA
TOTAL: Nota explicativa:
Cotação internacional do mogno-africano em pranchões: U$ 1.200,00 m³
Dólar comercial média de 26/01/2010 a 08/02/2010 = R$ 1,86
Cotação do mogno-africano em reais = R$ 2.232,00
Foi considerado perda no processo de produção (fatores diversos) de 5% até a etapa
final do corte.
8º ANO:
• 400 árvores/Ha x 2 Ha = 800 árvores – 40 árvores (5%) = 760 árvores
• 760 árvores com 11,24 metros altura x 0,29 metros DAP (0,145 metros raio)
• (Pi x r2 x h): 3,1416 x 0,0225 x 11,24 = 0,7424 m³ x 760 árvores = 564,24
m³
• Perda no processo de serragem = 34,00% x 564,24 m³ = 191,84 m³
• Madeira serrada = 564,24 m³ – 191,84 m³ = 372,40 m³
10º ANO:
• 400 árvores/Ha x 8 Ha = 3200 árvores – 160 árvores (5%) = 3040 árvores
• 3040 árvores com 11,24 metros altura X 0,33 metros DAP (0,165 metros
raio)
• (Pi x r2 x h): 3,1416 x 0,0272 x 11,24 = 0,9614 m3 x 3040 árvores =
2.922,53 m³
• Perda no processo de serragem = 34,00% x 2.922,53 m³ = 993,66 m³
• Madeira serrada = 2.922,53 m³ – 993,66 m³ = 1.928,87 m³
5.8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
QUADRO 22 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
Receita Operacional 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO
1.1 (+) Venda Mogno-africano
3.6 (+) Receita Financeira (8,75% a.a.)
1.3 (-) Impostos incidentes sobre vendas (ICMS, PIS, COFINS)
1. Receita Líquida de vendas -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
Custos
2.1 (-) Custeio florestal 9.032,80R$ 9.032,80R$ 9.032,80R$
2.2 (-) Salários e encargos 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$
2.5 (-) Serviços de terceiros 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00
2.6 (-) Despesas Gerais 14.568,00R$ 14.568,00R$ 14.568,00R$ -R$ -R$
2.8 (-) Corte/Serraria (10% vr bruto)
2. Total Custos: 77.886,64R$ 77.886,64R$ 77.886,64R$ 54.285,84R$ 54.285,84R$
3. RESULTADO BRUTO (1 - 2): (77.886,64)R$ (77.886,64)R$ (77.886,64)R$ (54.285,84)R$ (54.285,84)R$
Despesas
4.1 (-) Salários e encargos 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$
4.6 (-) Despesas Financeiras -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.3 (-) Depreciação
2.4 (-) Seguros / Manutenções
4.8 (-) Honorários 16.000,00R$
4. Total Despesas/Receitas 31.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$
5. RESULTADO ANTES DO IR (3 - 4) (109.006,64)R$ (93.006,64)R$ (93.006,64)R$ (69.405,84)R$ (69.405,84)R$
6. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (9%)
* 7. Imposto de renda* (15%)
7. RESULTADO LÍQUIDO (5 - 6) (109.006,64)R$ (93.006,64)R$ (93.006,64)R$ (69.405,84)R$ (69.405,84)R$
8. Financiamento -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
9. Investimento 53.150,70R$
10. Amortização Financiamento
11. Capital a Integralizar 162.157,34R$ 93.006,64R$ 93.006,64R$ 69.406,00R$ 69.406,00R$
12.SUPERAVIT(saldo anterior+4.2+4.3+7+8-9+10+11) -R$ -R$ -R$ 0R$ 0R$
59
Receita Operacional 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 10º ANO
1.1 (+) Venda Mogno-africano 831.196,80R$ 4.305.237,84R$
3.6 (+) Receita Financeira (8,75% a.a.) 29.045,29R$ 28.253,22R$
1.3 (-) Impostos incidentes sobre vendas (ICMS, PIS, COFINS) (179.954,11)R$ (932.083,99)R$
1. Receita Líquida de vendas -R$ -R$ 651.242,69R$ 29.045,29R$ 3.401.407,07R$
Custos
2.1 (-) Custeio florestal - - - - -
2.2 (-) Salários e encargos 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$
2.5 (-) Serviços de terceiros 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00
2.6 (-) Despesas Gerais -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
2.8 (-) Corte/Serraria (10% vr bruto) 83.119,68R$ 430.523,78R$
2. Total Custos: 54.285,84R$ 54.285,84R$ 137.405,52R$ 54.285,84R$ 484.809,62R$
3. RESULTADO BRUTO (1 - 2): (54.285,84)R$ (54.285,84)R$ 513.837,17R$ (25.240,55)R$ 2.916.597,44R$
Despesas
4.1 (-) Salários e encargos 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$
4.6 (-) Despesas Financeiras -R$ -R$ -R$
2.3 (-) Depreciação
2.4 (-) Seguros / Manutenções
4.8 (-) Honorários
4. Total Despesas/Receitas 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$
5. RESULTADO ANTES DO IR (3 - 4) (69.405,84)R$ (69.405,84)R$ 498.717,17R$ (40.360,55)R$ 2.901.477,44R$
6. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (9%) 31.419,18R$ 219.427,99R$
* 7. Imposto de renda* (15%) 52.365,30R$ 365.713,31R$
7. RESULTADO LÍQUIDO (5 - 6) (69.405,84)R$ (69.405,84)R$ 414.932,69R$ (40.360,55)R$ 2.316.336,14R$
8. Financiamento -R$ -R$ -R$
9. Investimento
10. Amortização Financiamento -R$
11. Capital a Integralizar 69.406,00R$ 69.405,80R$ -R$ -R$ -R$
12.SUPERAVIT(saldo anterior+4.2+4.3+7+8-9+10+11) 0R$ 0R$ 414.932,69R$ 403.617,42R$ 2.719.954R$
60
Comentários adicionais:
a) Para efeito de Imposto de renda deverão ser feitos os ajustes fiscais referentes aos prejuízos acumulados até o 7º ano e os
incentivos disponíveis para o produtor rural, vigentes nos exercícios correspondentes ao 8º e 10º ano.
b) Apuração do lucro para fins de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social foi utilizada sobre o Lucro Real. No Lucro
Real os impostos são calculados com base no lucro real da empresa, apurado considerando-se todas as receitas, menos todos os
custos e despesas da empresa, de acordo com o regulamento do imposto de renda.
c) O regime contábil utilizado foi o Regime de Caixa. Este apropria as receitas e despesas no período de seu recebimento ou
pagamento, respectivamente, independentemente do momento em que são realizadas.
61
5.9 MARGEM CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA
QUADRO 23 – MARGEM CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA
Receita/Ano 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º1.1 (+) Venda Mogno-africano -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 1.094R$ -R$ 1.416R$ Custos variáveis/AnoSerraria/Participações (14%) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 153,12R$ -R$ 198,27R$ Impostos (16,33%) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 178,60R$ -R$ 231,26R$ M.C. unitária -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 762R$ -R$ 987R$
Nota explicativa: 8º ano = 760 árvores e no 10º ano = 3.040 árvores Impostos total de 16,33% = (ISS = 5%; IR = 4,80%; CSLL = 2,88%; PIS = 0,65%. COFINS = 3,00%) Estimativa da Serraria em 10% e Participações em 4%
5.10 PONTO DE EQUILÍBRIO
QUADRO 24 – PONTO DE EQUILÍBIO Custos fixos/Ano 1º 2' 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Total2.1 (-) Custeio florestal 9.032,80R$ 9.032,80R$ 9.032,80R$ -R$ -R$ - - - - - 27.098,40R$ 2.2 (-) Salários e encargos 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 41.685,84R$ 416.858,40R$ 4.1 (-) Salários e encargos 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 15.120,00R$ 151.200,00R$ 2.5 (-) Serviços de terceiros 12.600,00R$ 12.600,00R$ 12.600,00R$ 12.600,00R$ 12.600,00R$ 12.600,00R$ 12.600,00R$ 12.600,00R$ 12.600,00R$ 12.600,00R$ 2.6 (-) Despesas Gerais 14.568,00R$ 14.568,00R$ 14.568,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 43.704,00R$ Custos Fixos Totais 93.006,64R$ 93.006,64R$ 93.006,64R$ 69.405,84R$ 69.405,84R$ 69.405,84R$ 69.405,84R$ 69.405,84R$ 69.405,84R$ 69.405,84R$ 764.860,80R$ Soma 626.049,12R$ 138.811,68R$ M.C.unitário -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 761,97R$ -R$ 986,66R$ -
Ponto de Equilíbrio/árvores 822 141 962
Nota explicativa: Capacidade média 10 hac = 4.000 árvores Ponto de equilíbrio = 962 árvores Considerando perda de 0,5% árvores por ano = 20 árvores x 10 anos = 200 árvores Margem de ganho = 3800 - 962 = 2.838 árvores
5.11 ANÁLISE DE INVESTIMENTO
Como os recursos nessa referida análise é exclusivamente Capital Próprio, foi
utilizada uma TRR (Taxa Requerida Retorno) de 20% ao ano, sendo esta uma taxa de
juros no mercado financeiro considerada excepcional e também levando em
consideração possíveis comparações com outros projetos.
O Payback regular é o período de tempo necessário para que as receitas
líquidas recuperem o investimento, que de acordo com fluxo de caixa será de 10 anos.
O Val = VPL (Valor Atual Líquido) é o valor obtido pela diferença entre o
valor atual das entradas (VAE) e o valor atual das saídas (VAS). Esta taxa corresponde
ao ganho alternativo (numa aplicação sem risco) ou ganho mínimo associado ao risco
que o projeto envolve. O VAL corresponde ao aumento do patrimônio da empresa
(riqueza adicional agregada) pelo projeto à taxa de juros dessa oportunidade que neste
caso foi calculado em R$96.400,52 (noventa e seis mil quatrocentos reais e cinqüenta
e dois centavos)
A TIR (Taxa Interna Retorno) é a taxa de desconto que torna o VPL das
entradas igual ao VPL das saídas de caixa, que neste caso chegou-se a 24%.
Fazendo-se uma análise do resumo das necessidades financeiras e origem dos
recursos, podemos constatar os seguintes percentuais em relação ao investimento total
em 3(três) anos de R$348.170,62 (trezentos e quarenta e oito mil, cento e setenta
reais e sessenta e dois centavos): mão de obra própria com 48,9%, plantio 10 ha
mogno-africano a 15,3%, custos do plantio a 7,8%, despesas gerais a 12,6%, mão de
obra terceirizada a 10,9% e honorários do projeto a 4,6%.
5.12 ANÁLISE TÉCNICA DA CULTURA DO MOGNO-AFRICANO NA REGIÃO
OESTE DE MINAS GERAIS
Conforme relatório emitido em 21/03/2006 em visita da Emater-MG realizada
por Oliveira (2006) na Fazenda Estiva, com o objetivo de avaliar a área do plantio da
63
cultura do mogno-africano, constatou o seguinte parecer técnico: por se tratar de um
projeto pioneiro de uma espécie exótica que está sendo implantada em uma região com
características diferentes da região de origem, haveria necessidade de se avaliar o
resultado de uma área experimental após um período mínimo de 3 anos, para se
determinar o rendimento na produção de madeira (OLIVEIRA, A.N., 2006).
Em 03/01/2007, novo relatório da área do plantio realizada por Oliveira (2007) na
Fazenda Estiva, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento da Cultura do
Mogno-africano, relatou-se: até o momento não há indicativos que a cultura terá
problemas de adaptação nesta região do estado de Minas Gerais (OLIVEIRA,
A.N.,2007).
Indispensável a integração com órgãos técnicos3 específico e condução de campo
coordenada por Engenheiro Florestal / Agrônomo.
Abaixo fotos do plantio experimental da cultura Khaya ivorensis A.Chev (mogno-
africano) em abril de 2010 com 03(três) anos e 05(cinco) meses de idade na Fazenda
Estiva (contato e-mail: [email protected]) localizada no Município de Itaúna
(MG).
3 Matéria realizada sobre madeiras nobres (espécies exóticas) na lavoura experimental da Fazenda
Estiva em Itaúna (MG) conforme vídeos disponíveis nos links abaixo: a)http://megaminas.globo.com/video/2009/10/17/mg-rural# (obs.: matéria no final da reportagem de 17/10/2009) b)http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1152136-7823-PRODUTORES+DE+ITAUNA+MG+INVESTEM+EM+MADEIRA+NOBRE,00.html (02/11/2009)
64
FIGURA 3 – PLANTIO KHAYA IVORENSIS A.CHEV (MOGNO-AFRICANO) FAZENDA ESTIVA, ITAÚNA/MG.
Fonte: Fazenda Estiva - Itaúna(MG)
Fonte: Fazenda Estiva - Itaúna(MG)
65
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Do aspecto de viabilidade técnica, poder-se-ia dizer que, por analogia, pelos
experimentos realizados pela Embrapa, pela boa adaptação e desenvolvimento
apresentada da cultura do mogno-africano, observando-se rigorosamente os cuidados,
nos primeiros anos da implantação da floresta, principalmente no período de menor
precipitação pluviométrica, que o Estado de Minas Gerais, em especial a região oeste,
também oferece condições para o cultivo desta espécie.
No cenário mercadológico, percebemos que a região tem potencial a receber
este tipo de empreendimento, pelo potencial vocacional da indústria moveleira
regional, podendo agregar ainda mais valor ao produto.
Conforme demonstrado o projeto é extraordinariamente viável, tanto
economicamente, financeiramente. Torna-se altamente lucrativo a partir do 8º ano.
Demonstra uma lucratividade média anual fantástica. O projeto é viável no cenário
apresentado.
Diante deste panorama, torna-se importante adoção de medidas que assegure o
aumento da oferta de produtos agrícolas e florestais, acompanhados da conservação e
recuperação dos solos, conservação da água e da preservação da floresta nativa
remanescente. A cobertura florestal do Mogno-africano associada à outra(s) cultura(s)
arbóreas e de subsistência em áreas rurais traz consigo benefícios diretos e indiretos,
tais como geração de empregos e melhoria da distribuição de renda, contribuindo
assim, para uma melhoria de ordem social e econômica dos produtores e de suas
famílias.
Diante da inexistência atual de crédito específico para esta cultura, muitos
agricultores desistem da sua implantação. Recomenda-se, portanto, de fundamental
importância modelos compatíveis de políticas públicas de crédito para este segmento,
em especial a de madeiras nobres de médio a longo prazo associados a culturas
consorciadas de curto prazo.
66
Desta forma concluímos que a atividade de reflorestamento de Khaya
ivorensis A.Chev. (mogno-africano), contribuirá efetivamente com nossa economia,
gerando riquezas e oportunidades de negócios nacionais e internacionais.
67
Referências
ACAJOU D`Afrique. Revue Bois ET Forêts dês tropiques, nº183, p.33-48,1979. ALMEIDA D. Trabalho de conclusão da pós. [mensagem]. Mensagem recebida por:[email protected]>em 12 jun. 2010. ALVIM, P. de T.A. Agricultura apropriada para uso contínuo dos solos na Região Amazônica. Espaço, Ambiente e Planejamento, v.20, n.11, p.3-71, mar.1991. AUBREVILLE, A. La flore forestière de La Cote d`Ivoire I, II, III. BERGER, R; PADILHA, J.B. Administração estratégica da produção. Universidade Federal do Paraná – UFPR. Setor de Ciências Agrárias – SCA. Depto de Economia Rural e Extensão – DERE. Curso de Pós-Graduação em Gestão Florestal: Curitiba. 2008. p.153. BERNARDI (2003). Planejamento financeiro. Disponível em http://www.professorcezar.adm.br/Textos/Planejamento%20Financeiro.pdf. Acessado em 14/01/2010. CATINOT, R. Sylviculture tropicale em frêt dense africaine. CARVALHO, M.S. Manual de reflorestamento. Com base em trabalhos realizados no Pará. Belém, 2006.107p. CARVALHO, M.S. Khaya ivorensis. [mensagem]. Mensagem recebida por:[email protected]>em 25 mar. 2008. CRUZ, J.L.T. Análise de solos. Contagem: INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA, 2007. Laboratório de química agorpecuária. 5p. Resultados de fertilidade, mat.organica, CTC, micro elementos e granulometria. FALESI, I.C; BAENA, A.R.C. Mogno-africano Khaya ivorensis A.Chev. Em sistema silvipastoril com leguminosa e revestimento natural do solo. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 1999. 52p. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 4). GOMES, Sílvio. Análise de viabilidade técnica, econômico-financeira para implantação da cultura da Tectona grandis L.f. (TECA) consorciado com outras espécies na região sudoeste da Bahia. Belo Horizonte: Projeto Ambientar Intermediações, out.2007. Projeto concluído.
68
GOMES, Sílvio; GOMES, S.J.; GOMES, D.M. GOMES, M.M. Análise de viabilidade técnica, econômico-financeira para implantação da cultura do Mogno-africano (khaya ivorensis A.Chev.). Belo Horizonte: Projeto Fazenda Estiva, 2006. Projeto concluído KOTLER, Philip; FOX, Karen F. A. Marketing Estratégico para Instituições Educacionais. Atlas, 1ª edição 1998. 448p. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. Autor: Editora Atlas: 5ª Ed, 1998. 725 p. LAMPRECHT, H. Silvicultura nos trópicos: ecossistemas florestais e respectivas espécies arbóreas-possibilidades e métodos de aproveitamento sustentado. LUNKES, Rogério João. Uma contribuição à formação de preços de venda. Revista Brasileira de Contabilidade - RBC. Brasília, v. 32, n. 141, ano 32, p. 51-57, mai./jun. 2003 MARQUES, L.C.T.; YARED, J.A.G.; FERREIRA, CAP. Alternativa agroflorestal para pequenos produtores agrícolas, em áreas de Terra Firme do município de Santarém, Pará – Belém: Embrapa-CPATU, 1993. 18p (Embrapa-CPATU. Boletim de Pesquisa, 147). MARQUES, L.C.T. KANASHIRO, M.; SERRÃO, E.A.S.; SÁ, T.D. de A. Sistemas Agroflorestais: situação atual e potencialidade para o processo de desenvolvimento da Amazônia Brasileira. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 1. I Encontro sobre Sistemas Agroflorestais nos países do MERCOSUL, 1, 1994. 552p. (Embrapa-CNPF. Documentos, 27). MOEDAS: Dólar comercial vendas. Disponível em http://www.ciflorestas.com.br/moedas.php. Acessado em 08 fev 2010.
OLIVEIRA, A.N. Plantio de Mogno-Africano. Itaúna(MG): EMATER-MG, 2006. 1p. Relatório de Assitência Técnica ao Produtor Rural. OLIVEIRA, A.N. Cultura do Mogno-Africano. Itaúna(MG): EMATER-MG, 2007. 5p. Relatório de Assitência Técnica ao Produtor Rural.
PERFIL Meio Ambiente de Itaúna/MG: Cima, Hidrografia, Relevo. Disponível em: http://www.itauna.mg.gov.br/mat_vis.aspx?cd=9071. Acesso em 03 fev 2010.
SANTOS, Vilmar Pereira dos. Manual VPS de Elaboração de Projetos. Editora Atlas:2000.
69
SILVA, J.C; CASTRO, V.R.; XAVIER, B.A. Manual prático do fazendeiro florestal. Produzindo madeira com qualidade. 2ª Ed. Viçosa, Minas Gerais,2008. STUMPP, E. O futuro das madeiras de reflorestamento. Revista da madeira. Curitiba, abr.2008. 112 p. TONELLO, K.C. ET.al. O desenvolvimento do setor florestal brasileiro. Revista da madeira. Curitiba, abr.2008. 112 p. WOILER, Samsão e MATHIAS, Washington Franco. Projetos: planejamento, elaboração e análise. São Paulo, editora Atlas S.A., 1996.
ANEXOS
Quadro demonstrativo dos percentuais aplicados no cálculo dos Encargos Sociais
A - Encargos Sociais Básicos
20,00% A1. Previdência Social
8,00% A2. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
2,50% A3. Salário educação
0,60% A6. Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae)
0,20%
A7. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA)
3,00% A8. Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)
34,30% Total de A
B - Encargos Sociais que recebem as incidências de A
22,90% B1. Repouso semanal e feriados
0,79% B2. Auxílio - enfermidade
0,34% B3. Licença paternidade
10,57% B4. 13o Salário
4,57%
B5. Dias de chuva, faltas justificadas, acidentes de trabalho,
etc.
39,17% Total de B
C - Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A
4,45%
C1. Depósito por despedida injusta: 40%sobre A2 + (A2 x B)
(Supondo apenas rescisões por despedida injusta)
13,12% C2. Aviso prévio indenizado
14,06% C3. Férias indenizadas
31,63% Total de C
D - Taxas de reincidências
14,41% D1. Reincidência de A sobre B.
1,05% D2. Reincidência de A2 sobre C2.
15,46% Total de D
120,56% Total Geral
PERCENTUAL TOTAL: 120,56%