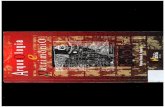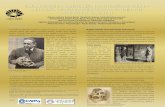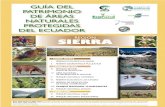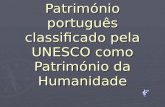De CARVALHO, Aline Vieira e FUNARI, Pedro Paulo - Patrimonio e Diversidade
-
Upload
vilma-mecatti -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of De CARVALHO, Aline Vieira e FUNARI, Pedro Paulo - Patrimonio e Diversidade
-
7/23/2019 De CARVALHO, Aline Vieira e FUNARI, Pedro Paulo - Patrimonio e Diversidade
1/7
IV ENCONTRO DE HISTRIA DA ARTE IFCH / UNICAMP 2008
PATRIMNIO E DIVERSIDADE: ALGUMAS QUESTES PARA REFLEXOAline Vieira de Carvalho1Pedro Paulo A. Funari2
Como tratar do patrimnio, no final da primeira dcada do sculo XXI? Diantedeste desafio, no pudemos deixar de refletir sobre o tema da diversidade. Desde as ltimasdcadas do sculo passado, a variedade humana e ambiental passou a constituir um tema dereflexo de primeira grandeza, assim como de prtica poltica e acadmica. Isto no foicasual, mas o resultado das transformaes sociais profundas, que levaram emergncia deinteresses os mais variados, voltados para o respeito e valorizao de um valor humanoessencial: o respeito s escolhas. Como veremos nestas breves linhas, patrimnio ediversidade transcendem parmetros tradicionais e relacionam um tema aparentementeabstruso, como o patrimnio, s lides sociais quotidianas.
Em 2005, na Palestra de Abertura Colquio o Franco-Brasileiro sobre a diversidade
cultural3
, o at ento presidente do Instituto de Patrimnio Histrico e Artstico Nacional,Antonio Augusto A. Neto declarou: a diversidade o principal bem do PatrimnioCultural da Humanidade (Arantes: 2005). A diversidade, para o autor, permite aelaborao e a construo da diferena e da prpria identidade, conceitos que norteiam asrelaes humanas compostas por conflitos e negociaes. Mas como seria possvelcompreender a diversidade como um patrimnio? Para refletirmos sobre a questo necessrio entender a dimenso histrica do prprio conceitode patrimnio cultural.
As lnguas romnicas usam termos derivadas do latim patrimonium para se referir propriedade herdada do pai ou dos antepassados, uma herana. Os alemes usamDenkmalpflege, o cuidado dos monumentos, daquilo que nos faz pensar, enquanto o inglsadotou heritage, na origem restrito quilo que foi ou pode ser herdado mas que, pelomesmo processo de generalizao que afetou as lnguas romnicas e seu uso dos derivadosde patrimonium, tambm passou a ser usado como uma referncia aos monumentosherdados das geraes anteriores. Em todas estas expresses, h sempre uma referncia lembrana, moneo (em latim, levar a pensar, presente tanto em patrimonium como emmonumentum), Denkmal (em alemo, denken significa pensar) e aosantepassados, implcitosna herana. Ao lado destes termos subjetivos eafetivos, que ligam as pessoas aos seusreais ou supostos precursores, h, tambm, uma definio mais econmica e jurdica,
propriedade cultural,comum nas lnguas romnicas (cf. em italiano, beni culturali), o queimplica umliame menos pessoal entre o monumento e a sociedade, de tal forma que podeser considerada uma propriedade. Como a prpria definio depropriedade poltica, a propriedade cultural sempre uma questo poltica,no terica, ressaltava Carandini (1979: 234).
No final da dcada de 1980, Joachim Hermann (1989: 36) sugeriu que umaconscincia histrica estreitamente relacionada com os monumentos arqueolgicos earquitetnicos e que tais monumentos constituem importantes marcos na transmisso doconhecimento, da compreenso e da conscincia histricos. No h identidade sem
1Ps-doc NEE/UNICAMP.2IFCH/UNICAMP, NEE/UNICAMP.3Evento realizado pelo IPHAN em cooperao com a Biblioteca Nacional da Frana, nos dias 13 e 14 deOutubro de 2005, em Paris.
303
-
7/23/2019 De CARVALHO, Aline Vieira e FUNARI, Pedro Paulo - Patrimonio e Diversidade
2/7
IV ENCONTRO DE HISTRIA DA ARTE IFCH / UNICAMP 2008
memria, como diz uma cano catal: aqueles que perdem suas origens, perdem suaidentidade tambm (Ballart 1997: 43). Os monumentos histricos e os restosarqueolgicos so importantes portadores de mensagens e, por sua prpria natureza comocultura material, so usados pelos atores sociais para produzir significado, em especial aomaterializar conceitos como identidade nacional e diferena tnica. Deveramos, entretanto,procurar encarar estes artefatos como socialmente construdos e contestados, em termosculturais, antes que como portadores de significados inerentes e a - histricos, inspiradores,pois, de reflexes, mais do que de admirao (Potter s.d.).
A leitura da diversidade cultural em monumentos arqueolgicos e arquitetnicos,ou mesmo naquilo que consideramos patrimnios intangveis, tambm possuihistoricidade. A compreenso da diversidade cultural como patrimnio, e mesmo asidentificaes dessa diversidade na materialidade, uma escolha poltica, produzida dentrode determinados contextos histricos e que inspira reflexes. O silenciar das leituras acercada diversidade, seja na cultura material ou em outras formas de expresso humana,
auxiliaram a consolidao de regimes totalitrios e at mesmo o extermnio daqueles queeram considerados fora de um padro desejvel, sendo, por tudo isso, uma experinciatraumtica para a histria da humanidade (Henning, 1995; Olivier, 2005).
Neste vis interpretativo, podemos compreender a declarao de Antonio AugustoA. Neto como uma postura poltica alinhavada a uma tendncia mundial orientada pelaUnesco. Esta organizao, no ano de 2002, publicou a Declarao Universal sobre a DiversidadeCultural. Como outros textos da Instituio, a Declarao considerada como umreferencial para a organizao das sociedades humanas (Lafer: 2008) que, apesar de serementendidas como diversas, so concebidas a partir de valores universalistas. A Declaraosobre a Diversidade Cultural reafirma a cultura como o conjunto dos traos distintivosespirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um gruposocial e que abrange, alm das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viverjuntos, os sistemas de valores, as tradies e as crenas (Declarao Universal sobre aDiversidade Cultural).
Para uma interao considerada harmoniosa entre as culturas - um dos objetivosque alimenta a existncia da prpria Organizao das Naes Unidas e, portanto da Unesco-, a Declarao sinaliza para a valorizao da diversidade cultural. Uma das formasindicadas pela Unesco para a concretizao dessa valorizao encontra-se no prpriopatrimnio cultural,
Toda criao tem suas origens nas tradies culturais, porm se desenvolveplenamente em contato com outras. Essa a razo pela qual o patrimnio, emtodas suas formas, deve ser preservado, valorizado e transmitido s geraesfuturas como testemunho da experincia e das aspiraes humanas, a fim denutrir a criatividade em toda sua diversidade e estabelecer um verdadeiro dilogoentre as culturas (Artigo 7 O patrimnio cultural, fonte da criatividade.Declarao Universal sobre a Diversidade Cultural).
A experincia brasileira a esse respeito, no entanto, nem sempre caminha emdireo ao princpio acima estabelecido. Podemos relembrar as comemoraes de 500 anosda chegada de Pedro lvares Cabral nas terras que mais tarde se configurariam como oBrasil. Naquela ocasio, o jurista Joaquim Falco afirmou, com tristeza, que o patrimniohistrico virou sinnimo de igrejas barrocas, palcios e casa grande (Funari e Pellegrini,2006: 7). A manipulao oficial do passado, incluindo-se o gerenciamento do patrimnio,levava a criao e celebrao de memrias bastante especficas. Como resumiu Antnio
304
-
7/23/2019 De CARVALHO, Aline Vieira e FUNARI, Pedro Paulo - Patrimonio e Diversidade
3/7
IV ENCONTRO DE HISTRIA DA ARTE IFCH / UNICAMP 2008
Augusto Arantes (1990: 4): o patrimnio brasileiro preservado oficialmente mostra umpas distante e estrangeiro, apenas acessvel por um lado, no fosse o fato de que os grupossociais o re-elaboram de maneira simblica.
Como alternativa ao distanciamento entre a sociedade e seus diversos patrimnios ea consolidao das polticas da diversidade como um patrimnio, a Educao patrimonialapresenta-se como um excelente campo de ao. No se almeja atribuir sociedade umconhecimento enciclopdico sobre quais so seus patrimnios, datas de fundao, autores,caractersticas fsicas, entre outros dados. Ao contrrio, a Educao patrimonial deve agirno sentido de, democraticamente, construir dilogos entre a sociedade e seus patrimnios.
Estes dilogos devem ser elaborados para permitir a realizao de conexes entre avida cotidiana das pessoas com o processo histrico relatado. Devem providenciarinstrumentos para a reflexo (Vargas e Sanoja, 1990:53). Assim, cada grupo social torna-secapaz de atribuir significados ao prprio patrimnio e ao bem pblico como um todo.Tm-se um cidado crtico pronto para a preservao e, principalmente, para
transformao tanto de seu entorno como da sociedade.Dentro do campo da Educao Patrimonial, a Arqueologia pode desenvolver aesque permitam a atribuio de significados cultura material e aos patrimnios individuais ecoletivos. Em outubro de 1990, o Comit Internacional para a Gesto do PatrimnioArqueolgico (ICAHM ICOMOS) publicou a Carta de Proteo e Gerenciamento do PatrimnioArqueolgico. O texto, redigido de forma bastante genrica, e direcionado aos profissionaisda rea, almejava compor alguns parmetros e diretrizes para a proteo especfica dosvestgios arqueolgicos considerados patrimnios.
A definio usada para o patrimnio arqueolgico na Carta bastante ampla. Notexto, o patrimnio arqueolgico destacado como composto por patrimnios materiaispassveis de serem lidos ou analisados pela Arqueologia (ICAHM, 1990). De acordo com otexto, o patrimnio arqueolgico engloba:
(...) las huellas de la existencia del hombre y se refiere a los lugares donde se hapracticado cualquier tipo de actividad humana, a las estructuras y los vestigiosabandonados de cualquier ndole, tanto en la superficie, como enterrados, o bajolas aguas, as como al material relacionado con los mismos.(...) (ICAHM, 1990)
Composta por nove artigos, a Carta traz referncias especficas ao campo que hojedenominamos como Arqueologia Pblica. Em primeiro lugar, o texto afirma que aproteo do patrimnio arqueolgico deve ser compreendida como obrigao moral e de
responsabilidade coletiva (ICAHM, 1990). dado aos Estados incumbncia deprovidenciar fundos para embasar as atividades de proteo do patrimnio. A proteoefetiva e cotidiana, no entanto, responsabilidade do Estado, mas, tambm, de toda asociedade.
Para o envolvimento da sociedade nesta tarefa considerada moral, a Cartaestabelece a necessidade de prover o pblico geral de informaes acerca do patrimnio.No so definidos os moldes da Educao patrimonial. A Carta indica que asespecificidades locais devem ser sempre respeitadas e, por isso, no existem frmulas paraao de preservao e de educao. O nico imperativo proposto pelo texto o de que o
passado deve ser mostrado como multifacetado (ICAHM, 1990).Parte-se do pressuposto, na Carta, de que s possvel preservar o patrimnioatravs do conhecimento e da afeio. Ao mostrar um passado mltiplo, composto pordiversas identidades e passvel de muitas interpretaes, seria possvel criar um nmeromaior de aproximaes entre a sociedade no presente e as imagens do passado,
305
-
7/23/2019 De CARVALHO, Aline Vieira e FUNARI, Pedro Paulo - Patrimonio e Diversidade
4/7
IV ENCONTRO DE HISTRIA DA ARTE IFCH / UNICAMP 2008
representadas pelo patrimnio. Para a Carta, com a identificao pressupem-se apreservao.
Contudo, no sempre que existe a possibilidade de valorizao de um imensoleque de identidades relacionadas aos patrimnios, sejam eles arqueolgicos ou no. Opatrimnio, que composto por um conjunto de bens de ordem material e imaterial, fazreferncias s identidades e memrias de diferentes grupos sociais (Soares: 2005). O quepode ser importante e gerador de afeio para um determinado grupo de pessoas, nonecessariamente causa a mesma comoo em outro grupo social. Neste sentido, convm apergunta: seria possvel a preservao de um patrimnio por parte de pessoas que no sereconhecem nele?
As respostas questo so complexas e dividem os especialistas. Dentro dosprincpios estabelecidos pela Unesco, possvel afirmar que sem a Educao Patrimonialpoucas mudanas referentes prpria cidadania sero implantadas. Por isso, acredita-se,dentro dos princpios da Arqueologia Pblica Democrtica, que preciso construir junto
com as comunidades o conceito de patrimnio e de bem pblico. Apenas quando essesconceitos tiverem sentido para os indivduos ser possvel alcanar uma preservao efetivados patrimnios, sejam eles de quaisquer espcies. O indivduo precisa compreender queesse patrimnio importante para algum. Para Funari e Bastos, atravs da educaopatrimonial o cidado torna-se capaz de entender sua importncia no processo cultural emque ele faz parte, cria uma transformao positiva entre a relao dele e do patrimniocultural (Bastos e Funari, 2008: 1131).
So desafios importantes, para todos os que se interessam pelo patrimnio comoinstrumento para a justia social. Se isto relevante em qualquer situao, tanto mais nocontexto brasileiro e latino-americano, caracterizado por regimes de fora at recentemente(Carvalho e Funari 2009). Uma abordagem pluralista do patrimnio contribui, desta forma,para uma a construo de uma sociedade mais aberta diversidade.
AgradecimentosAgradecemos a Josep Ballart, Andrea Carandini, Cristbal Gnecco, Sandra Akemi
Shimada Kishi, Nick Merriman, Laurent Olivier, Charles E. Orser, Jr., Mario Sanoja, InsVirgnia Prado Soares, Iraida Vargas. Devemos mencionar o apoio institucional do Ncleode Estudos Estratgicos da Unicamp, FAPESP, CNPq e World Archaeological Congress.A responsabilidade pelas idias restringe-se aos autores.
Referncias BibliogrficasARANTES, A.A. 1990. La Preservacin delPatrimonio como Prctica Social. Campinas: Institutode Filosofia e Cincias Humanas da UNICAMP.
ARANTES, A. A. 2005. Patrimnio e Produo Cultural. Disponvel no site:http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=382 (Acesso: 20/06/2009)
BASTOS, R. L.; Funari, P. P. A, 2008. Public Archaeology and Management of theBrazilian Archaeological-Cultural Heritage. Handbook of South American Archaeology.
Silverman, Helaine e Isbell, William H. (orgs). New York: Springer.1127-1133.
BALLART, Josep. 1997.El Patrimonio Histrico y Arqueolgico: valor y uso. Barcelona: Ariel.
306
-
7/23/2019 De CARVALHO, Aline Vieira e FUNARI, Pedro Paulo - Patrimonio e Diversidade
5/7
IV ENCONTRO DE HISTRIA DA ARTE IFCH / UNICAMP 2008
BYRNE, D. 1991. Western hegemony in archaeological heritage management. History andAnthropology 5: 269-276.
CARVALHO, A.V.; Funari, P.P.A. 2009. A importncia da Arqueologia Forense naconstruo das memrias perdidas nos perodos ditatoriais latino-americanos. In Memria e
Verdade, A justia de transio no estado democrtico brasileiro, Ins Virgna Prado Soares, SandraAkemi Shimada Kishi (Eds), 341-355. Belo Horizonte, Frum.
CARANDINI, A. 1979. Archeologia e Cultura Materiale. Dai lavori senza gloria nellantichit auna politica dei beni culturali. Bari: De Donato.
CRUZ, M. 1997. Aps 80 anos, achado compor acervo de museu; guardados por dcadasem armrio, fragmentos arqueolgicos ficaro expostos em CHAVANTES. O Estado de SoPaulo, November the 11th, A, p. 22.
DURHAM, E. 1984. Texto II. In Produzindo o Passado, Estratgias de construo do patrimniocultural, A.A. Arantes (Ed.), 23-58. So Paulo: Brasiliense.
DURRANS, B. 1992. Behind the scenes. Museums and selective criticism. AnthropologyToday, 8, 4, 11-15.
FERNANDES, J. R. O. 1993. Educao patrimonial e cidadania: uma proposta alternativapara o ensino de Histria. Revista Brasileira de Histria 13 (25/26), 265-276.
FUNARI, P.P.A. 1991. A Arqueologia e a cultura africana nas Amricas. Estudos Ibero-Americanos 17, 61-71.
FUNARI, P.P.A. 1994b. Rescuing ordinary peoples culture: museums, material culture andeducation in Brazil. In The Presented Past, Heritage, museums andeducation, P.G. Stone & B.L.Molineaux (eds), 120-136. London: Routledge.
FUNARI, P.P.A. 1995a. A cultura material de Palmares: o estudo das relaes sociais deum quilombo pela Arqueologia. Idias 27, 37-42.
FUNARI, P.P.A. 1996e. A Arqueologia e a cultura africana nas Amricas. In Razes daAmrica Latina, F.L.N. de Azevedo & J.M. Monteiro (eds), 535-546. So Paulo: Expresso eCultura/Edusp.
FUNARI, P.P.A. 1996f. Archaeological theory in Brazil: ethnicity and politics at stake.Historical Archaeology in Latin America 12, 1-13.
FUNARI, P.P.A. forthcoming. Historical Archaeology in South America. In InternationalHandbook of Historical Archaeology, T. Majewski & C.E. Orser, Jr. (eds.). New York: PlenumPress.
GARCA, J. 1995. Arqueologa colonial en el rea maya. Aspectos generales y modelos deestudio. Revista Espanla de Antropologa Americana 25, 41-69. Gnecco, C. 1995. Prxiscientfica en la periferia: notas para una historia social de la Arqueologia colombiana. RevistaEspaola de Antropologa Americana 25, 9-22.
GRAMMONT, G. 1998. Reflexes beira de uma cratera. Estado de Minas, Pensar, January10th, 3-4.
307
-
7/23/2019 De CARVALHO, Aline Vieira e FUNARI, Pedro Paulo - Patrimonio e Diversidade
6/7
IV ENCONTRO DE HISTRIA DA ARTE IFCH / UNICAMP 2008
GUSSIYER, J. & Garca, J. n.d. Los primeros templos cristianos en el rea maya: 1545-1585.Barcelona, unpublished typescript. Haas, J. 1996. Power, objects, and a voice foranthropology. Current Anthropology 37, supplement, S1-S22.
HENNING, H. 1995 Archaeology in Nazi Germany: the legacy of the Faustian bargain,
pp. 70-81, in:Nationalism, politics, and the practice of archaeology, Kohhl, Philip L, and Fawcett,Clare, Cambridge University Press, Cambridge.
HERMANN, J. 1989. World Archaeology - The worlds cultural heritage. In ArchaeologicalHeritage Management in the Modern World, H.F. Cleere (ed.), 30-37. London: Unwin Hyman.
HUDSON, K. 1994. The Great European Museum: the museum one cannot avoid anddoes not need to enter. Institute of Archaeology Bulletin 31, 53-60.
IANNI, O. 1988. Uma Cidade Antiga. Campinas: Editora da Unicamp.
ICAHM. Carta Internacional para la Gestin del Patrimnio Arqueolgico, 1990. Disponvel nosite: http://www.international.icomos.org/charters/arch_sp.htm (Acesso: 23/01/2009).
JONES, A.L. 1993. Exploding canons: the anthropology of Museum. Annual Review ofAnthropology 22, 201-220.
LAFER, C. 2008. Declarao Universal dos direitos humanos. Histria da Paz. Magnoli,D (org). So Paulo: Contexto.
LEITE, P.M. 1996. No tnel da Histria. Veja, January 31st, 102-104.
LIRA, A. 1997. Museu tem cara nova e acervo comprometido. Estado de Minas, June the22nd, p. 42.
MERRIMAN, N. 1996. Understanding heritage.Journal of Material Culture 1, 3, 377- 386.
MUNARI L.A.S. 1995. Surpresas de culum. Folha de So Paulo, Jornal de Resenhas,September 4th, p.2
OLIVIER, L., 2005. A Arqueologia do 3 Reich e a Frana: notas para servir ao estudo daBanalidade do Mal em Arqueologia, pp.167-195, in: Funari, Pedro Paulo Abreu, Orser,Charles Jr., Schiavetto, Solange Nunes de Oliveira (orgs), Identidades, discurso e poder: estudos da
arqueologia contempornea, Annablume-Fapesp, So Paulo.ORSER, C.E. 1994. Toward a global historical archaeology: an example from Brazil.Historical Archaeology 28, 5-22.
ORSER, C.E. 1996.A Historical Archaeology of the Modern World. New York: Plenum.
ORSER, C.E. & Funari, P.P.A. 1992. Pesquisa arqueolgica inicial em Palmares. EstudosIbero-Americanos 18, 53-69.
POTTER, Jr. P. B. n.d. Appropriating the victor by addressing the second person. Unpublished
typescript.Reis Filho, N.G. 1978.Quadro da Arquitetura no Brasil. So Paulo: Perspectiva.ROCHA, P. 1997. Saqueadores do Patrimnio, Roubo de arte sacra mobiliza Iphan, PolciaFederal e Interpol para inibir ao dos colecionadores.Estado deMinas, August 3rd, p. 40.
308
-
7/23/2019 De CARVALHO, Aline Vieira e FUNARI, Pedro Paulo - Patrimonio e Diversidade
7/7
IV ENCONTRO DE HISTRIA DA ARTE IFCH / UNICAMP 2008
RSSIO, W. 1984. Texto III. In Produzindo o Passado, A.A. Arantes (ed.), 59-95. So Paulo:Brasiliense.
SOARES, F. C. Experincias educativas. Educao patrimonial: Perspectivas. Milder, S. E. S.(org). Santa Maria (UFSM): Laboratrio de Estudos e Pesquisas Arqueolgicas, 2005.
SCHWARCZ, L.M. 1989. O nascimento dos museus brasileiros, 1870-1910. In Histria dasCincias Sociais no Brasil, volume 1, S. Miceli (ed.), 20-71. So Paulo: Ideps.
Serra, O. 1984. Questes de identidade cultural. In Produzindo o Passado, A.A. Arantes (ed.),97-123. So Paulo: Brasiliense.
UNESCO, 2002. Declarao Universal sobre a diversidade cultural. Disponvel no site:http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf (Data de acesso:22/01/2009)
VARGAS, I.; SANOJA, M, 1990. Education and the political manipulation of History inVenezuela, in R.MacKenzie & p.Stone (eds), The Excluded Past, London, Unwin, 50-60.
309