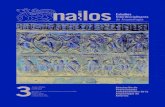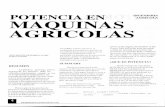Dialnet-JogosCooperativosEValoresHumanos-2946333
-
Upload
leonardo-dias -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Dialnet-JogosCooperativosEValoresHumanos-2946333
-
50
EISSN 1676-5133
Copyright 2008 por Colgio Brasileiro de Atividade Fsica, Sade e Esporte
Correspondence to:
Submitted: Accepted:
Jan/Feb 2006Fit Perf J Rio de Janeiro 5 1
Original Article
doi:10.3900/fpj.5.1.50.e
Dezembro / 2005Novembro / 2005
RESUMO: O artigo refere-se temtica dos valores e aborda os jogos cooperativos como princpio scio-educativo. O objetivo
foi investigar a percepo dos docentes sobre desenvolvimento de valores atravs do ldico na aula de Educao Fsica, con-
tribuindo para mudana de pensamento frente violncia. Na metodologia usou-se pesquisa bibliogrfi ca e de campo, cujos
instrumentos foram aplicados a professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro em exerccio no Clube Escolar Mangueira. Para
tratar os dados foi usada a anlise de contedo com base em Bardin (1977). Como concluso, o estudo mostrou que o brincar
possibilita desenvolvimento de valores atravs de atividades ldicas, quando h intencionalidade do professor em enfocar a tica
e os princpios cooperativos para minimizar a violncia na aula.
Palavras-chave: jogos cooperativos, condutas motoras, valores, ludicidade.
50-56
BALIULEVICIUS, N. L. P.; MACRIO, N. M. Jogos cooperativos e valores humanos: perspectiva de transformao pelo ldico. Fitness & Performance Journal, v. 5, n 1, p. 50 - 56, 2006.
Jogos cooperativos e valores humanos: perspectiva de transformao pelo ldico
Nanci Luz Pimenta Baliulevicius - CREF 0494G/RJUniversidade Castelo [email protected]
Nilza Magalhes MacrioUniversidade Castelo [email protected]
Rua Rua Baro de Itaipu, 30, apto 408 - Andara CEP: 20.541-120 Rio de Janeiro/RJ - Brazil
-
ABSTRACT
Cooperative games and human values: perspective of transformation through ludic way
The article is about human values and discusses the cooperative games as a social and educative principle. Its objective was to investigate teachers percep-tion about values development through a ludic way, in the classes of Physical Education, which contributes to a change of thoughts concerning violence. As methodology, bibliographical and field research were used, whose instruments were applied to teachers of Rio de Janeiro municipal district, working at Clube Escolar Mangueira. In order to manage data, it was used the analysis of content based in Bardin (1977). As a conclusion, the study showed that the act of playing makes possible the development of values through ludic activities, when there is the intentionality of the teacher to focus ethics and cooperative principles to minimize violence in class.
Keywords: cooperative games, motor behavior, values, ludicity.
RESUMEN
Juegos cooperativos y valores humanos: perspectiva de transformacin a travs de lo ludico
El artculo se refiere a la temtica de los valores y aborda los juegos coopera-tivos como principio socioeducativo. El objetivo fue investigar la percepcin de los docentes sobre el desarrollo de valores a travs de lo ldico en las clases de Educacin Fsica, contribuyendo para cambiar el pensamiento acerca de la violencia. En la metodologa se us investigacin bibliogrfica y de campo, cuyos instrumentos fueron aplicados a profesores de la Red Municipal de Ro de Janeiro en ejercicio en el Club Escolar Mangueira. Para tratar los datos fue usada el anlisis de contenido con base en Bardin (1977). Como conclusin, el estudio mostr que jugar posibilita el desarrollo de valores a travs de activi-dades ldicas, cuando hay intencionalidad del profesor en enfocar la tica y los principios cooperativos para minimizar la violencia en la clase.
Palabras clave: juegos cooperativos, conductas motoras, valores, lo ldico.
INTRODUO
O presente artigo refere-se temtica dos valores desenvolvidos pelo brincar durante as aulas de Educao Fsica, quando se aborda os Jogos Cooperativos como princpio scio-educativo pautado nos valores humanos essenciais espcie humana, e parte integrante do projeto de dissertao de mestrado da autora.
Nos estudos sobre motricidade humana, a relevncia na constru-o de valores e no aspecto pedaggico est na intencionalidade dos movimentos desenvolvidos pelo brincante.
O enfoque que se pretende traar, dentro desta problemtica axiolgica, abrange o motivo do surgimento dos Jogos Coope-rativos na contemporaneidade, como resultado do individualismo excessivo e da competitividade exacerbada do mundo atual, e respondem emergncia de transformar a sociedade, tornando-a mais fraterna, mais solidria e igualitria.
O que se observa na sociedade uma deteriorao completa de valores humanos que tem refl exos na escola. O Ser do Homem no mundo globalizado est cada vez mais egosta e materialista, e a sociedade cada vez mais extremada em classes desiguais de ordem fi nanceira e/ou moral, o que torna o consumo aces-svel somente para alguns e a violncia e a criminalidade um resultado natural.
A injustia social imposta tem continuidade na escola quando educadores no se preocupam com a formao do aluno como cidado para a prospeco social, quando os valores que repre-sentam so os do poder dominante e no possibilitam a Educao comprometida com a transformao social.
Desta maneira, para transformar o contexto em que se vive uma sociedade violenta, intolerante, injusta e agressiva preciso que se tenha em mente quais pressupostos axiolgicos se pretende desenvolver, a servio de quem e para qu.
Neste sentido, para que se possa pensar ou sonhar, quem sabe, com um mundo melhor e mais justo, um mundo de paz, exige-se que haja uma mudana total do pensamento, que possibilite uma perspectiva de modifi cao do estado da arte na atualidade.
Para tanto, valores humanos devem ser trabalhados com vista a traar uma linha norteadora de princpios educativos na es-cola, com possibilidade de desenvolv-los atravs de vivncias ldicas.
A escolha do tema prende-se vivncia de quem atua como professora de Educao Fsica e que sente necessidade de obter maior clareza e objetividade sobre os valores que norteiam o trabalho com Jogos Cooperativos.
O estudo de natureza axiolgica tem a pretenso de esclarecer a respeito das possibilidades que a Educao Fsica tem de multidimensionar o seu objeto de conhecimento, enquanto rea do saber, para alm de uma mecanizao de condutas motoras, desvinculadas do contexto, para uma intencionalidade na cons-truo de um gesto repleto de signifi cado.
Neste propsito, fi rma-se como objetivo geral investigar a per-cepo dos docentes sobre como o desenvolvimento dos valores atravs do ldico, nas aulas de Educao Fsica, contribui para uma mudana de pensamento na Educao frente violncia.
Os objetivos especfi cos esto voltados para a construo de um referencial terico sobre a mudana do pensamento na Educao, os Jogos Cooperativos, os valores humanos e a ludicidade; e, tambm, para a anlise das falas dos professores a respeito da proposta dos Jogos Cooperativos e dos Valores Humanos atra-vs da ludicidade. A relevncia do estudo est em organizar um referencial te rico que constitua uma fonte de consulta para os profi ssionais interessados na temtica e contribua indiretamente para o desenvolvimento dos Jogos Cooperativos voltados para uma mudana do pensamento sobre o fazer em Educao Fsica em prol de uma Cultura da Paz.
Por outro lado, a possibilidade de aplicao junto ao corpo docente vem corroborar a preocupao quanto ao olhar do pro-fi ssional sobre os valores humanos durante as atividades ldicas no novo paradigma dos Jogos Cooperativos, possibilitando no s avaliar a extenso do entendimento do professor no que diz respeito profundidade e seriedade da proposta, como tambm, lev-los a uma refl exo maior sobre sua prtica.
Fit Perf J, Rio de Janeiro, 5, 1, 51, jan/feb 2006 51
-
A Reformulao do pensamento e a Educao Fsica
A compreenso da necessidade de uma reforma do pensa-mento para atingir uma real reforma do ensino passa pelas falas de Edgar Morin (2004), sobre os grandes desafi os da contempo raneidade e da educao. A constatao de que o ensino est compartimentado, fragmentado, especializado em disciplinas uma realidade. Isto se ope idia de que o homem um Ser total, que entende e soluciona problemas gerais, multidimensionais e planetrios, portanto deveria aprender no de forma fracionada, mas inteira. Na verdade [...] no h partes, em absoluto. Aquilo que denominamos parte apenas um padro numa teia inseparvel de relaes. Portanto, a mudana das partes para o todo tambm pode ser vista como uma mudana de objetos para relaes (CAPRA, 1996, p. 47).
O grande desafi o evidenciado pelo autor , em outras palavras, segundo Morin (2004, p.20): a reforma do ensino deve levar reforma do pensamento, e a reforma do pensamento deve levar reforma do ensino.
Expondo ainda sobre as fi nalidades do ensino, Morin (ibid) ressalta que a primeira foi elabora por Montaigne: mais vale uma cabea bem-feita que bem cheia, ou seja, ao invs de um saber acumulado, o importante dispor de uma aptido para colocar e tratar os problemas e, ao mesmo tempo, ter princpios organizadores que permitam relacionar os saberes dando-lhes sentido.
Desta maneira, uma educao vivel s pode ser uma educao integral do ser humano, deve encorajar e instigar as aptides naturais - interrogativa, questionadora e crtica, no relativizando a sensibilidade e o corpo ao privilgio do intelecto.
Como o objetivo propor uma mudana no pensamento, torna-se necessrio no mais dicotomizar explicao (objetiva) e compreenso (subjetiva), mas torn-los conceitos complementa-res na busca do entendimento dos fenmenos humanos. Assim, compreender comporta um processo de identifi cao e de pro-jeo de sujeito a sujeito, sobre a capacidade de experimentar os mesmos sentimentos que o outro e entend-los. Afi rma que a reforma do pensamento de natureza paradigmtica, pois se relaciona aptido para organizar o pensamento, permitindo o pleno uso da inteligncia, emergindo novas humanidades, que permitiro a regenerao do humanismo e suscitaro a tica da unio e solidariedade entre humanos, tendo conseqncias existenciais, ticas e cvicas.
Segundo Martinelli (1996), necessria uma renovao da com-preenso do homem, do mundo e das cincias exatas e humanas para se pr em prtica uma mudana de comportamento social. Para essa transio, a educao tem importncia fundamental porque pode trazer uma nova compreenso da natureza humana, do mundo e da prpria existncia.
Diante dos aspectos abordados, para se entender uma refor ma educacional na Educao Fsica preciso apontar para um con-texto de refl exo sobre a prtica, no qual o aluno seja encorajado a entender o movimento do jogo, da brincadeira, ou da dana, no como um movimento segmentado, isolado, mas como parte de uma cultura corporal do movimento humano, relacionado a
uma motricidade singular da espcie, que pretende construir uma estrutura de convvio planetria, com possibilidade de mudar do confronto para o convvio.
Ento, ao invs de ensinar uma grande variedade de jogos e es-portes, suas regras e normas, o ideal seria pensar sobre as regras e entend-las, agir sobre elas, recri-las como no previsto para uma educao que favorea o desenvolvimento da inteligncia geral e das aptides naturais para a interrogao, o questio-namento e a crtica -, criando assim uma cabea bem-feita para a Educao Fsica.
Alm disso, o emprego dos Jogos Cooperativos est diretamente relacionado ao desafi o cvico, que aponta para a percepo global, ao senso de responsabilidade, e solidariedade, au-mentando a preservao do elo com os semelhantes e com o planeta.
Jogos Cooperativos
Os Jogos Cooperativos representam uma prtica da vida em comunidade. Por isso sua histria teve incio h milhares de anos, quando membros das comunidades tribais se uniram para celebrar a vida (ORLINK, 1982).
Como relata Fbio Brotto (2001), alguns povos ancestrais, como os Inut (Alasca), Aborgines (Austrlia), Tasaday (frica), Arapesh (Nova Guin) e os ndios norte americanos, entre ou-tros, ainda praticam a vida cooperativamente atravs da dana, do jogo e de outros rituais... (p.47). Percebe-se, ento, que os Jogos Cooperativos sempre existiram, pois os povos tm o hbito de manifestar-se atravs de ritos cooperativos. Porm, atualmente, surgiram da refl exo sobre o quanto a cultura oci-dental valoriza excessivamente o individualismo e a competio exacerbada.
Princpios Scio-Educativos da Cooperao
A fi losofi a da cooperao busca desenvolver no praticante algumas percepes diferentes das que ele est acostumado a lidar no dia-a-dia. Brotto (1999), em seu relato ao Livro de Boas Memrias, sobre o I Festival de Jogos Cooperativos, comenta que os programas na escola, na comunidade e nas organizaes incluem a realizao de Jogos Cooperativos, preservando e nu-trindo seus princpios originais, entre eles: Participao, Incluso, Diverso e Cooperao.
Estes princpios so essenciais na prtica cooperativa, pois per-mitem uma real transformao do jogo em carter competitivo, para uma possibilidade de integrao fortemente marcada pelo interesse de jogar junto ao outro, para vencer um desafi o, e no contra o outro. Os princpios scio-educativos vm da dinmica de ensino-aprendizagem estabelecida na Pedagogia Coopera-tiva atravs da Ensinagem Cooperativa, que se baseia em trs dimenses interdependentes.
A primeira, Convivncia, prope como requisito fundamen-tal uma vivncia compartilhada; a segunda, a Conscincia, representa o clima de cumplicidade criado entre os partici-pantes, que permite refl etir, modifi car comportamentos, rela-cionamentos e o prprio jogo para uma melhor participao de todos. E, fi nalmente, a Transcendncia, cuja essncia ajudar na disposio para o dilogo, a deciso em consenso,
52 Fit Perf J, Rio de Janeiro, 5, 1, 52, jan/jeb 2006
-
a experimentao de mudanas propostas para as transfor-maes desejadas. Isso permite a formao da Conscincia da Cooperao, que permite uma eterna renovao do olhar sobre o outro.
A tica cooperativa est baseada no s em boas intenes, mas tambm nas boas aes presentes no cotidiano da vida social.
As vias possveis e abertas para o implemento da tica Coope-rativa se compem de: Contato, Respeito Mtuo, Confi ana, Liberdade, Recreao, Dilogo, Pacincia, Entusiasmo e Con-tinuidade.
Valores Humanos e Educao
Para esta questo concernente axiologia importante estabe lecer uma conceituao sobre valor. Beresford (2000), citando Johanes Hessen, conceitua que valor tudo aquilo que for apropriado a satisfazer determinadas necessidades humanas (p. 65), e complementa, afirmando que s ocorre em funo do sujeito dotado de certa conscincia, com fina-lidade de suprir carncias, limitaes ou privaes, porque valor sempre valor para algum. Os valores, de acordo com Miguel Reale (1994), so relacionados diretamente ao mundo da cultura, so reflexos da experincia humana atravs da histria.
Os tempos crticos, violentos e cheios de desespero que estamos vivendo so conseqncia do fato de grande parte da humani-dade ter esquecido seus valores, considerado-os ultrapassados e desinteressantes; esquecemos de nosso papel na criao, que trazer inovaes essenciais para a sobrevivncia atravs dos valores. Os valores so a reserva moral e espiritual de reconheci-mento da condio humana; assim, entende-se que: a mudana dos conceitos de poder e felicidade surgiu do desorientado desen-volvimento econmico e tecnolgico, que vem negligenciando o ser humano em prol da aquisio das coisas materiais, da fama e do poder econmico.
Isto induz ao medo, ao desamor e ao engano, que tm qualifi cado nossos relacionamentos emotivos com os nossos semelhantes e com o mundo, em um caminho que conduz dor, e que deteriora a qualidade de vida no planeta. Por outro lado, percebemos que sem o exerccio dos valores intrnsecos ao ser humano, continu-amos por ressaltar a inverso da escala de valores e persistimos em gerar tenses scio-econmicas, o que leva a perplexidade e individualismo.
Chega-se ento a constatao de que a felicidade uma conquista da alma e, portanto independe de circunstncias ou satisfao de desejos (MARTINELLI, 1996, p. 16).
Desta forma, o amor fraterno e o conhecimento compartilhado nos ajudam a redefi nir o que poder, pois j no o entendem por uma questo de dominao, isto transforma as relaes de poder, que se modifi cam medida que os valores criam novos signifi cados e maneiras de viver.
Para que haja progresso, no apenas o econmico, mas uma prosperidade humana, urgente que aceitemos o desafi o de resgatar os valores humanos para, assim, promover a transfor-mao da sociedade, que se mostrar menos preconceituosa e injusta e buscar um mundo de iguais.
Valores Absolutos e Valores Relativos
De acordo com os estudos de Martinelli (1996), os valores absolutos so cinco, a saber: verdade, relacionada ao aspecto intelectual; ao correta, ligada ao aspecto fsico; amor, aspecto psquico; paz, relacionada ao aspecto mental; e no-violncia, aspecto espiritual.
A autora segue os preceitos do educador Sathya Sai Baba, lder espiritual indiano, que criou o Programa de Educao em Valores Humanos, implantando-o em sua aldeia natal. Este programa no defende nenhuma religio, seita ou fi losofi a, tem carter universalista, humanista e espiritual. A conscientizao e a prtica de valores humanos devem propiciar a fraternidade humana e a formao de uma sociedade planetria (MARTINELLI, 1999, p. 23).
So valores humanos porque so inerentes condio humana. O que se entende que todos eles so inter-relacionados e os va-lores no ocorrem sozinhos, de forma estanque, so intervenientes uns nos outros, ou seja, fazem parte da totalidade do Ser.
Assim, entende-se que a verdade absoluta eterna e imutvel, o que varia a nossa capacidade de perceb-la e vivenci-la. A ao correta prev que o aspecto fsico o veculo da ao que permite a manifestao concreta da conscincia. O amor a fora de criao, coeso e sustentao da vida. O amor a energia de unidade e transformao.
A paz a base da felicidade humana, a harmonia entre os nveis racional, emocional, intelectual e espiritual que nos aproxima da alma. O valor absoluto, no-violncia, compreende todos os demais valores. a meta da conscincia, a perfeio hu mana.
Em decorrncia, para cada valor absoluto espiritual correspondem valores relativos que, ao serem exercitados, aprimoram a persona-lidade e fortalecem o carter. Estes valores so inter-relacionados sendo desenvolvidos paralelamente, sempre presentes de forma a interligar os valores essenciais espcie humana.
Os Valores e a Motricidade Humana
Seguindo a reforma geral do pensamento de Edgar Morin, Ma-nuel Srgio (2005) afi rma que o sujeito uma unidade mltipla, enquanto o Ser o Absoluto que se persegue e nunca se alcana. Assim, o ser humano s o enquanto ato de superao ou de criao, sem ato, uma alienao, porque a Verdade no o Ser, a Verdade o que o existente faz da sua existncia.
A motricidade humana integra o fsico ao corpo em ao, dando relevo ao que a motricidade produz, superando a dicotomia entre a compreenso e a explicao. Desta maneira, no pensando que somos, mas sendo que pensamos. O que nos leva a uma ordem nova, caracterizada por um nvel superior de organizao e aspiraes. Assim, o autor defi ne a Cincia da Motricidade Humana, partindo da premissa do ser global, como sendo a cincia da compreenso e da explicao do movimento intencional da transcendncia.
Ao quebrar o paradigma clssico do educador e do tcnico de sade, que o homogeneizador do discente ou do doente, o que se pretende desenvolver os comportamentos no esperados pelo poder dominante, que so: pensar o novo, investigar o diferente, aprender a aprender.
Fit Perf J, Rio de Janeiro, 5, 1, 53, jan/feb 2006 53
-
Percebe-se claramente que os valores pretendidos pela Motricida-de Humana so os de uma educao voltada para o desenvolvi-mento do Ser do Homem, cuja preocupao o caminho para a transcendncia, quando todos tiverem as mesmas possibilidades e viverem de maneira digna o seu potencial corporal para o prazer, para a esperana, para o sonho de viver por inteiro.
A ludicidade no desenvolvimento de valores
De acordo Manuel Srgio (1994), que fundamenta a epistemo-logia da Motricidade Humana, a ludomotricidade o compor-tamento motor tpico das atividades ldicas. Assim, o jogo no visto como uma fase, mas encarado como uma dimenso da prpria vida, gerando a cultura, a arte, o desporto, numa perspectiva de improdutividade, liberdade e festa.
A origem da palavra ldico, em latim ludus, etimologicamente quer dizer jogo. Com a evoluo semntica, devido aos estudos realizados, passou-se a entend-la como uma extrapolao do jogo, como uma necessidade bsica da personalidade, caracteri-zada como uma atividade espontnea, funcional e satisfatria.
Marcelino (1999) aponta o ldico como um componente da cultura (entendida em sentido mais amplo) historicamente situada. Assim, as aes espontneas, vividas no cotidiano, so os ele-mentos norteadores para se traar caminhos que escrevam uma cultura de vivncia ldica. O contexto em que vive o sujeito pode ser exposto ou questionado pelas vivncias livres, espontneas, gratuitas e descontradas experimentadas pela criana. Como expresso que estabelece conexes com a realidade e com as condies da existncia humana, a vivncia ldica no ocorre de forma isolada no tempo e no espao, ela refl ete os entendimentos e confl itos da pessoa na situao construda.
Como ressalta Bustamante (2004), as manifestaes ldicas so caracterizadas por momentos de prazer, alegria e diverso propiciados pelas festas, pelos jogos, pelas brincadeiras e pelas danas, e tambm por inmeras e inesperadas possibilidades de expresso cultural.
Destaca-se nesta oportunidade o esporte educacional, tambm como um importante elemento de expresso de cultura corporal na escola. Refl etindo sobre as possibilidades e implicaes des-sa manifestao humana, nota-se que o ldico pode ser ento reconhecido como expresso cultural permeada de signifi cados, quando inserida nas prticas escolares.
A ludicidade vivenciada por crianas atravs do jogo, e a inten-cionalidade prpria da criana em realizar esta ao caracteriza a liberdade do ldico enquanto parte da vida, por isso no deve fi car restrita a uma atividade determinada. Segundo Schwartz (2004), a atitude ldica pode ser compreendida pela disposio para modifi car, inserir e propor situaes que so constitudas sob a gide da permissividade, do prazer, da confi ana, da ne-cessidade de segurana e quando possvel fantasiar e imaginar. O ldico transcende as necessidades imediatas, possuindo uma realidade autnoma, fazendo parte integrante da vida geral, um processo de construo inacabado, uma recriao que depende da sua prpria execuo. Feij (1998) aponta que possvel dizer que o movimento ldico quando ele esponta-neamente positivo e construtivo, dentro do contexto abrangente do bem-estar humano.
A atividade ldica pode ser concebida como prtica das relaes sociais, podendo se manifestar no jogo, no brinquedo ou na brincadeira. O objeto ldico transcende o carter de objeto como alguma coisa reconhecida pela razo, o sentido no consta no real, mas no sentimento imaginrio de cada um, podendo, s ve-zes, assumir um carter de complementaridade, onde o inteligvel e o sensvel misturem-se no mesmo campo de existncia.
O ldico vital para a criana, porm a sociedade atual, racio-naliza o tempo para o ldico em funo das obrigaes dirias, numa preparao para a vida futura economicamente estvel, esquecendo-se de que este tempo impensvel sem a concre-tude do presente. Corpo pensado, que, em nome de um futuro de glrias, deixa de viver as paixes, deixa de sentir o prazer do tempo presente.
Aliado a isso, as novas formas de moradia em apartamentos, a falta de segurana nas ruas, as inmeras tarefas escolares, a industrializao do brinquedo, com imposio dos meios e formas de brincar, tudo isso contribui para que o tempo dedica-do ao ldico, enquanto meio de produo cultural da criana, seja diminudo.
Assim, a Educao Fsica toma maior importncia como educa-o corporal, por ser um momento de privilgio para o movimento coberto de alegria, prazeroso, durante o qual as expresses es-pontneas sejam respeitadas e valorizadas, como componentes de uma participao ativa na sociedade.
O ldico assume, ento, a responsabilidade de ser o meca nismo de expresso fundamental da cultura da criana. Essa alternativa pedaggica, a utilizao do ldico nas aulas de Educao Fsica, desde que sua funo no seja necessa riamente o aprendizado de algo simplesmente utilitarista, ou ainda somente como des-canso ou passatempo, pode e deve ser empregada, porque vai ao encontro das necessidades da criana em idade escolar.
METODOLOGIA
A metodologia empregada neste estudo utilizou uma pesquisa bibliogrfi ca para fundamentar o estudo dos Jogos Cooperativos, da ludicidade e dos valores, tanto na sua conceituao como na sua aplicao na educao e na tica cooperativa. Este constructo epistemolgico deu suporte tambm pesquisa de campo dentro da dimenso humana e possibilitou uma refl exo acerca dos valores na realidade contextual, que faz parte de um atributo cultural, pois agrega a parte pedaggica da dimenso scio-histrica.
Sabendo-se das carncias a serem atenuadas (violncia, agres-sividade, baixa auto-estima, competitividade exacerbada) foi planejada (1) uma ofi cina de dinmica vivencial e (2) aplicao de um questionrio misto, com o objetivo de conhecer o pensamento dos professores a respeito do desenvolvimento de valores atravs do ldico nas aulas de Educao Fsica e sua contribuio para uma mudana de pensamento na Educao frente violncia.
Foram selecionados como sujeitos da pesquisa, 14 professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro, em exerccio no Clube Escolar Mangueira .
54 Fit Perf J, Rio de Janeiro, 5, 1, 54, jan/jeb 2006
-
A seleo dos sujeitos foi proposital (TURATO, 2003), conside-rando o funcionamento de ofi cinas extracurriculares no horrio diferente do escolar; a pesquisadora faz parte do corpo docente e participa de centro de estudos semanal, em que se debate sobre a prxis pedaggica daquele ambiente escolar.
1. Ofi cina de Dinmica Vivencial
Aps uma explanao sobre o programa de educao em valo-res humanos, segundo Martinelli (1996 e 1999), foi realizada a ofi cina. Foram utilizados os jogos cooperativos sem perdedores, de resultado coletivo, de inverso e semicooperativos. Assim, a dinmica da aula transcorreu em clima de grande descontrao, seguindo as atividades:
- Atividade de Socializao Com a msica Dia de Branco, de Geraldo Azevedo, desejou-se boas vindas aos participantes e foi explicado como se desenrolaria a vivncia do dia.
Fazendo a movimentao para trocar de sala, a msica Ca-maleo foi cantada com os participantes formando um trem, parando na formao de caracol, quando puderam cumprimentar os companheiros, com msica incidental de fundo.
- Jogos CooperativosIniciou-se com atividades do tipo sem perdedores: Voc me ama?; Macaco, girafa e elefante; Eu entrei no jardim; Crculo do bambol; Tnel circular com msica e Andando de nibus: j, acidente, trnsito.
A dinmica Encontro dos grandes amigos! ocorreu, primeira-mente, com a atividade de diviso em trios: 1, 2, 3, 4 repete e com movimento; em seguida, com a diviso em quartetos: Pirulito que bate-bate; Soco, soco, bate-bate; Quarteto Maluco e Fazendinha (resultado coletivo); e, por ltimo, atividades de diviso em dois grupos: Jogo Zoneado (jogo de inverso) e Futpar (semi-cooperativo).
A atividade fi nal foi uma dana circular em pares: Dana Ita-liana.
2. Aplicao do Questionrio
O questionrio foi constitudo por uma questo aberta sobre a percepo da sociedade atual e questes semiabertas sobre valores, aulas de Educao Fsica, ludicidade e jogos coopera-tivos. Enfeixando, como ltima questo, avaliao da ofi cina, crticas e sugestes.
Foi solicitado, na entrega dos formulrios, que os professores respondessem individualmente, sem dialogar com os colegas, evitando troca de opinies e possibilitando juzo de valor.
Para tratamento dos dados foi utilizada a anlise de contedo com base em Bardin (1977), que defi nida como um conjunto de tcnicas de anlise de comunicaes, visando obter, por procedimentos sistemticos e objetivos de descrio de contedo das mensagens, indicadores que permitam a inferncia de conhe-cimentos relativos s condies de produo e recepo destas mensagens. Assim, foram estabelecidos critrios para classifi car as respostas obtidas pelos professores no questionrio.
RESULTADOS
Para a primeira pergunta, houve unanimidade entre os professo-res sobre a percepo da sociedade atual, descrevendo-a numa perspectiva negativa, onde as expresses violenta, injusta, individualista, egosta e sem valores tiveram maior nmero de ocorrncias.
Na segunda questo, se a educao em valores pode oferecer uma signifi cativa parcela de contribuio para a transformao social, 86% dos professores responderam sim. Como justifi cativa, na viso de 33% o valor necessrio, fundamental e alicerce para o desenvolvimento humano; para outros 33%, representa a possibilidade de transformao social, revertendo o quadro negativo que externaram. Um respondente se auto-interrogou sobre a pergunta e outra redundou na explicao da escola atual. Somente um respondente assinalou no, sem justifi cativa, e outro - depende dos valores, justifi cando pela parcialidade dos valores de acordo com o grupo social.
pergunta sobre a possibilidade de desenvolver valores atravs das aulas de Educao Fsica, 100% dos professores respon-deram que sim. Nas respostas, os valores mais sinalizados foram: respeito, solidariedade, cooperao, integrao, companheirismo e sociabilizao. Houve tambm a preo-cupao com o resgate dos valores e a possibilidade de t-los pela construo de regras coletivas e discusso das questes que ocorrem em aula. Um professor discursou sobre a difi culdade de fazer este trabalho.
Na pergunta relativa ao brincar como facilitador do desen-volvimento de valores essenciais espcie humana, 94% dos professores responderam afi rmativamente e justifi caram sua po-sio. No entanto, um professor respondeu negativamente, por acreditar que, se o brincar no for bem orientado, prevalecer o egosmo.
As justifi cativas para a questo 7 foram bastante variadas. Alguns mencionaram o trabalho e o aprendizado de valores, outros o carter de preparao, imitao para a vida, tambm foi mencionado a busca pelo prazer e o foco individual de sermos verdadeiros, solidrios e respeitadores de regras. Foi dito que o brincar estimula o desenvolvimento e possibilita o bom humor.
Foi unnime a resposta sim para a questo 8, sobre a aplica o dos Jogos Cooperativos nas aulas de Educao Fsica.
Os valores percebidos pelos professores durante a atividade prtica realizada foram agrupados dentro dos cinco valores ab-solutos, segundo Martinelli (1996). A no-violncia obteve seis menes; a ao-correta, cinco. O amor obteve trs citaes; a paz, duas e a verdade, apenas uma citao.
Algumas pessoas acharam que todas as atividades desenvolve-ram valores humanos. As atividades mais citadas foram: Time zoneado, Dana italiana e Eu entrei no jardim.
Na avaliao da ofi cina (questo 10), as opinies versaram sobre o carter positivo da atividade, com destaque para as atividades de socializao e para a ministrante da ofi cina. Houve crticas sobre o espao utilizado e a comunicao do professor. Trs
Fit Perf J, Rio de Janeiro, 5, 1, 55, jan/feb 2006 55
-
pessoas levantaram a possibilidade de utilizao das ativi dades em outros locais e reas de conhecimento.
DISCUSSO E CONCLUSO
Como preconizado pela literatura atual, foi possvel construir um paralelo entre os temas abordados, a saber: jogos cooperativos, valores humanos, motricidade humana e ludicidade, que serviram de suporte epistemolgico proposta de aplicao prtica.
De acordo com o que foi expresso pelos professores no que tan-ge vivncia prtica desse fenmeno, a concordncia tambm foi evidente, pois h uma convergncia sobre a percepo dos professores da presena de valores nas atividades apresentadas atravs dos Jogos Cooperativos.
A anlise das observaes e dos resultados dos questionrios permitiu concluir que a intencionalidade do ministrante na nfase da importncia dos valores ali propiciados e a construo de um ambiente agradvel e de confi ana mtua, com estmulo participao dos indivduos de forma prazerosa, dentro de suas possibilidades, so fatores que interferem no resultado favorvel a no-violncia durante a atividade.
Um aspecto importante foi o grande nmero de indicaes sobre o ambiente da aula, que transcorreu agradavelmente, com humor, diverso e alegria, onde o prazer em realizar atividades fsicas era constante. Evidencia-se, ento, que a ludicidade, como fator preponderante que ocorreu na prtica, mostrou que o brincar um fator determinante para o desenvolvimento de valores no contexto educacional.
A credibilidade do docente sobre como a Educao Fsica pode contribuir para
a formao de uma cultura de paz tambm foi evidenciada de maneira unnime, o que permite entender que este tipo de proposta vivel para uma mudana de pensamento na rea educacional. Porm, por serem teorias recentes, ainda h difi cul-dade de colocar em prtica este tipo de trabalho.
Essa nova possibilidade de trabalhar os jogos pelo prazer da prtica, ao invs da preocupao com a vitria, merece desta-que, nesta concluso, por ser uma sada para a Educao Fsica, se esta pretende ter um perfi l menos voltado para o sucesso de poucos talentosos e mais ligado participao inclusiva do aluno na atividade fsica. Dessa forma, o participante no se expe a situaes de fracasso; ao contrrio, ele participa do contexto escolar, contribuindo para o mesmo, de acordo com seus limites e virtudes.
A concluso a que este estudo chega sobre o pensamento dos professores, que o brincar possibilita o desenvolvimento dos valores atravs do ldico durante as aulas de Educao Fsica. Assim, contribui para uma mudana de pensamento na Educao frente violncia, desde que exista intencionalidade do professor em enfocar a tica e os princpios cooperativos na proposio de atividades ldicas durante a aula de Educao Fsica.
BIBLIOGRAFIA
BADEIA, M. tica e Profi ssionais da Sade. So Paulo: Santos, 1999.
BARDIN, L. Anlise de contedo. Lisboa: Edies 70: 1977.
BERESFORD, H. Valor: saiba o que . Rio de Janeiro: Shape, 2000.
BROTTO, F. O. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exerccio de convivncia. Santos, SP: Projeto Cooperao, 2001.
_____. O (im)possvel mundo onde todos podem venSer. Festival de Jogos Cooperativos, Livro de Boas Memrias. Taubat, 1999.
BROWN, G. Os jogos cooperativos: teoria e prtica. Festival de Jogos Cooperativos, Livro de Boas Memrias. Taubat, 1999.
BUSTAMANTE, G. O. Por uma vivncia escolar ldica. In SCHWARTZ, G. M. (org). Dinmica ldica: novos olhares. Barueri, So Paulo: Manole, 2004.
CAPRA, F. A teia da vida: uma nova compreenso cientfi ca dos sistemas vivos. Trad. Newton Roberval Eichemberg. So Paulo: Cultrix, 1996.
CARVALHO, N. Criana, escola e ludicidade: alguns aspectos que permeiam e difi cul-tam esta relao. In Coletnea do IX ENAREL org: WERNECK, C et al. Belo Horizonte: UFMG/EEF/CELAR, 1997.
CUNHA, M. S. V. e. Para um novo paradigma do saber e... do ser. Coimbra: Ariadne editora, 2005.
_____. Para uma epistemologia da motricidade humana. 2 ed. Lisboa: Compendium, 1994.
FEIJ, O. G. Psicologia para o esporte: corpo e movimento. 2 ed. Rio de Janeiro: Shape Ed., 1998.
FREIRE, J. B. Dimenses do corpo e da alma. In DANTAS, E (org). Pensando o corpo e o movimento. Rio de Janeiro: Shape, 1994.
MARCELLINO, N. C. Ldico e lazer. In: _____ (org.). Ldico, educao e educao fsica. Iju: Uniju, 1999.
MARTINELLI, M. Aulas de transformao: o programa de educao em valores humanos. So Paulo: Peirpolis, 1996.
_____ . Conversando sobre educao em valores humanos. So Paulo: Peirpolis, 1999.
MORIN, E. A cabea bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Traduo de Elo Jacobina. 9ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
ORLICK, T. Vencendo a competio. So Paulo: Crculo do Livro, 1989.
PAES, R. R. Pedagogia do esporte: um jogo possvel para todos. Festival de Jogos Coo-perativos, Livro de Boas Memrias. Taubat, 1999.
SANTIN, S. Educao fsica: uma abordagem fi losfi ca da corporeidade. Rio Grande do Sul: UNIJUI, 1987.
SCHWARTZ, G. M. Atitude e conduta ldicas: a emoo em jogo. In _____ (org). Dinmica ldica: novos olhares. Barueri, SP: Manole, 2004.
VELSQUEZ CALLADO, C. Educao para a paz: promovendo valores humanos na escola atravs da educao fsica e dos jogos cooperativos. Trad. Maria R. B. de Veiga. Santos, SP: Projeto Cooperao, 2004.
WALLON, H. Psicologia e educao da infncia. Trad. Ana Rabaa. Lisboa: Estampa, 1975.
56 Fit Perf J, Rio de Janeiro, 5, 1, 56, jan/jeb 2006