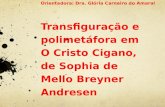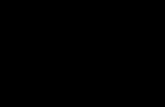DIREITOS INDÍGENAS E AS CERCAS DO JUDICIÁRIO: A … · caracteriza a transfiguração étnica sem...
Transcript of DIREITOS INDÍGENAS E AS CERCAS DO JUDICIÁRIO: A … · caracteriza a transfiguração étnica sem...
DIREITOS INDÍGENAS E AS CERCAS DO JUDICIÁRIO: A PERMANÊNCIA DO
VELHO PODER TUTELAR NA COLONIALIDADE DA JUSTIÇA
Igor Henrique da Silva Santelli1
Resumo
O trabalho aborda a relação entre a Justiça brasileira e os povos indígenas, dedicando especial
atenção para os problemas do acesso à justiça, num sentido substancial, e da satisfação dos
direitos territoriais. Para tanto, analisa, criticamente, o processo de lutas indígenas em face do
poder tutelar, marca de feição ambígua da política indigenista brasileira, caracterizada pela
declarada finalidade protetora, mas exteriorizada de modo conformador e disciplinar da
autonomia cultural indígena. Analisa, ainda, como a conquista do movimento indígena de um
Estado Pluriétnico, por meio da Constituição de 1988, assegurou grandes avanços no tratamento
normativo da territorialidade indígena que, no entanto, não se dotaram de efetividade, em
função de entraves político-econômicos determinados pela hegemonia da razão neoliberal na
contemporaneidade. Expõe e analisa qualitativamente julgados que demonstram um padrão de
atuação da Justiça brasileira em face da diversidade cultural e dos direitos territoriais indígenas.
Trata do alcance reduzido das propostas geradas em torno do “novo enfoque do acesso à
justiça”, que se tornou questão central no Direito Processual Civil desde a década de 1980, mas
não teve o condão de democratizar, de fato, a Justiça. Aponta a colonialidade do poder como
determinante da projeção ideológica do poder tutelar sobre a Justiça brasileira, sobretudo em
relação aos conflitos acerca de terras indígenas.
Palavras-Chave: Acesso à Justiça Descolonial. Terra Indígena. Racismo Institucional.
Resumen
Este trabajo aborda la relación entre la Justicia y los pueblos indígenas, con especial atención a
los problemas de acceso a la justicia y la satisfacción de los derechos territoriales. Para tanto,
analiza, críticamente, el proceso de las luchas indígenas en vista del poder tutelar, marca de
característica ambigua de la política indígena de Brasil, que se caracteriza por el objetivo
declarado de protección, pero se exterioriza en la conformación y la disciplinarización de la
autonomía cultural indígena. También se analiza cómo la conquista del movimiento indígena
de un Estado multiétnico, a través de la Constitución de 1988, se aseguró un gran avance en el
tratamiento legal de la territorialidad indígena que, sin embargo, no se hizo efectivo, debido a
las barreras político-económicas determinadas por la hegemonía de la razón neoliberal actual.
Expone y analiza cualitativamente casos juzgados que demuestran un estándar de desempeño
1 Mestre em Direito Processual e Cidadania pela Universidade Paranaense e Especialista em Direitos Humanos e
Cidadania pela Universidade Federal da Grande Dourados. Professor do Curso de Direito da Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul – Unidade de Naviraí. Advogado. E-mail: [email protected]
de la justicia brasileña en vista de la diversidad cultural y los derechos indígenas a la tierra.
Trata del reducido alcance de las propuestas generadas en torno al "nuevo enfoque del acceso
a la justicia", que se ha convertido en el tema central del Derecho de Procesal Civil desde los
años 1980, pero no hubo poseído el poder para democratizar efectivamente la justicia. Indica la
colonialidad del poder como determinante de la proyección ideológica de el poder tutelar sobre
la Justicia, principalmente en relación con los conflictos sobre tierras indígenas.
Palabras Clave: Acceso a la Justicia De-Colonial. Tierra Indígena. Racismo Institucional.
1 Introdução
Há quase dois séculos livre do velho colonialismo, mas longe de se libertar da lógica
colonial, o Brasil do século XXI expõe graves injustiças que mantêm o alcance da “cidadania
a todos indiferentemente estendida” reduzido ao plano da pura formalidade. Os assujeitados de
hoje são – ainda – como estrangeiros nativos, destituídos de uma real cidadania dentro do
espaço físico do próprio Estado. Entre as fronteiras que os separam estão, notadamente, cercas,
muros e barragens, os limites territoriais da propriedade imobiliária, urbana e agrária, e de um
desenvolvimentismo capenga, insustentável de todos ângulos que seja visto. Nega-se aos
explorados a territorialidade, o direito ao espaço próprio, familiar ou comunal. Mas, nas
representações herdadas do processo colonizador, marginalizados tornam-se invasores: assim
são vistos os sem-teto, os sem-terra, os quilombolas e os indígenas. Ideologicamente, mascara-
se o que são de verdade: os expropriados. Expulsões de suas terras, ameaças de extermínio,
criminalização, ofensivas armadas de grupos paramilitares, remoções compulsórias: a
calamitosa “falta de espaço” para eles há muito tempo se escancara como um problema de
poder, pouco tendo a ver, em rigor, com a demografia do campo ou da cidade. A distribuição
gritantemente díspar da territorialidade entre sujeitos estabelecidos e os outsiders do
capitalismo resulta da permanência de uma estrutura de contradições que passa ao largo de
qualquer “desenvolvimento” das últimas décadas e que, com uma democracia cada vez mais
tornada impotente pela hegemonia da razão neoliberal, não conta com um horizonte próximo
favorável a mudanças operadas dentro da institucionalidade convencional. Nesse cenário,
chama a atenção a situação dos povos indígenas brasileiros. Resistentes ao incessante genocídio
biológico e cultural iniciado há mais de quinhentos anos, são dotados de uma gigantesca
diversidade étnica, embora com algumas modificações acerca do imaginário tradicional que
incide sobre elas, por conta, obviamente, das mudanças provocadas pelo contato com não
indígenas e das próprias estratégias indígenas de resistência cultural à hostilidade, o que bem
caracteriza a transfiguração étnica sem a perda da indianidade a que se referia Darcy Ribeiro
(1979). Os mais importantes problemas que se colocam para os indígenas no Brasil atual giram
em torno do acesso a suas terras tradicionais. Por um lado, há a falta das demarcações devidas
e as ameaças de expulsões em áreas de disputas entre indígenas e proprietários rurais; por outro,
avanço do desmatamento, mineração e grandes empreendimentos que geram danos irreparáveis
a recursos naturais e deslocamentos compulsórios de terras tradicionais, quase sempre feitos
sem nem mesmo a consulta prévia das comunidades atingidas. Criam-se para os indígenas do
Brasil dramas que dificilmente se repetem com tamanha intensidade para outros grupos sociais.
O mais grave quadro, não obstante muitas violações sérias em todas as regiões do país, é o dos
indígenas de Mato Grosso do Sul, com a configuração de um confinamento humano, que torna
a vida indígena miserável tanto do ponto de vista das satisfações materiais quanto da reprodução
cultural, o que afeta, sobretudo, os Guarani Kaiowá (BRAND, 1997). A violência tornou-se um
relevante componente dessa condição: nos conflitos locais pelas terras tradicionais travados
com ruralistas, os massacres são rotina há décadas. A omissão ou atuação morosa e ineficaz das
instituições administrativas e o acirramento dos conflitos no campo social não sugerem uma
perspectiva de soluções com a emergência que o contexto demanda. E os sujeitos envolvidos
promovem a judicialização massiva das disputas. Ações judiciais são ajuizadas em
absolutamente todas as disputas em torno das terras indígenas. O “acesso à justiça” tornou-se
um imperativo; assumiu ares de inevitabilidade nesses conflitos. É nesse ponto que a presente
pesquisa se lança: considerado o acesso à justiça não apenas enquanto acesso formal ao Poder
Judiciário, mas sim como garantia de que o processo e a Justiça sejam instrumentos capazes de
viabilizar o acesso a uma ordem justa, a uma justiça substancial, qual é a condição atual do
acesso à justiça dos povos indígenas no Brasil? Mesmo com os avanços geralmente apontados
pelas conhecidas três “ondas renovatórias” do acesso à justiça – ampliação do acesso à justiça
dos pobres, promoção da tutela dos direitos coletivos e implementação de mecanismos
extrajudiciais de resolução de conflitos e outros meios “modernizadores” do processo –, no que
diz respeito à tutela dos direitos dos Povos Indígenas, a Justiça brasileira atua com que bases
normativas e discursivas? Qual é o horizonte ideológico do Judiciário nestas demandas? Quais
são suas lógicas de ação? A Justiça brasileira se mostra, na prática, apta a produzir resultados
justos? E como interagem com a Justiça os sujeitos dos conflitos reais?
2 Poder Tutelar e Desilusões Constitucionais
Há, evidentemente, um longo acumulado de defesas e revoltas históricas dos indígenas
desde a origem do processo colonizador, nas quais cada grupo étnico se organizou com as
alianças e estratégias peculiares às suas tramas sociais (OLIVERA; FREIRE, 2006). Mas, sem
desconsiderar a importância de resistências mais longínquas, houve um ponto de inflexão na
ação dos indígenas que abalou as representações que sobre eles se construíram a partir de uma
ótica hegemônica: um fenômeno em curso que é mais percebido desde a década de 70 do século
XX, quando comunidades indígenas se articulam, organizam-se e despontam no cenário
político, com o claro intuito de recuperar a ausência imposta desde o início da ocupação
colonizadora e de afirmar seus direitos nos conflitos que as afetam (TELLES, 1987; BRITO,
2011; ALBERT, 2000; BENITES, 2014; NEVES, 2010). Isso se intensifica na década de 1980
e, na medida em que a política brasileira tornava-se naquele período menos repressora, avança
para espaços institucionais onde sua presença era, até então, absolutamente inexistente
(OLIVEIRA; FREIRE, 2006).
Não obstante, a insurgência indígena contra o assujeitamento não encontrou
receptividade pacífica. O choque da emergência do movimento indígena com as representações
tradicionais sobre o índio foi acompanhado de reações violentas, de articulações anti-indígenas
poderosas e da insistente intenção de invisibilizá-los sempre que seu reconhecimento entrasse
em rota de colisão com privilégios e interesses econômicos sedimentados regional e
nacionalmente. O maior percalço para os indígenas tornou-se sepultar o poder tutelar. Tratava-
se – e ainda se trata – de enfrentar a ideologia assimilacionista e integracionista, que, embora
presente no ideário colonizador europeu desde os primórdios da dominação europeia na
América e onde quer que se tenha instalado, ao longo do século XX foi internalizada de forma
rígida na composição jurídica e administrativa do Estado. Ainda hoje, encontra-se legalizada
por meio do antiquado Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973) e preservada como fio estruturante
das próprias agências públicas que intermedeiam a relação entre índios e o Estado, notadamente
a Fundação Nacional do Índio (Funai), na condição de herdeira do Serviço de Proteção Indígena
(SPI) – sem embargo de mudanças que exigem reconhecimento entre a extinção de um e a
instituição da outra (LIMA, 1995).
A ideologia assimilacionista e integracionista tem como pressuposto da relação entre
Estado e indígenas a compreensão de que os indígenas, entre “primitivos” e “em aculturação”,
seriam seres socialmente inferiores, do que decorre a solução jurídica da incapacidade civil:
pelo simples fato de serem indígenas, são incapazes e, por conseguinte, necessitam de tutela.
Esta assume, no plano do discurso jurídico, o significado de um poder “paternal” que o Estado
declaradamente teria para representá-los, falar por eles, defender seus interesses (OLIVEIRA;
FREIRE, 2006).
Concebidos como inferiores, mas “em evolução” em função do contato com a cultura
dominante, haveria a necessidade de que esta tutela viabilizasse a sua integração à “comunhão
nacional”, como se a condição indígena fosse algo transitório, cujo destino, inevitavelmente,
seria civilizar-se de acordo com o padrão europeu trazido e imposto pelos colonizadores. Esse
caráter de transitoriedade, a propósito, viria a sistematizar-se tecnicamente mais tarde, no
Estatuto do Índio, precisamente no ponto em que classifica os indígenas em “isolados”, “em
vias de integração” e “integrados”, discriminação que repercute sobre o nível de tutela a ser
provida pelo Estado.
Embora a tutela tenha sido já antes um instituto reconhecido no ordenamento colonial
e que seria reafirmado no Código Civil de 1916, o qual inclusive traria uma definição jurídica
do índio, ela se materializou, de fato, no marco inaugural da política indigenista brasileira, que
se dá com a criação do SPI, em 1910, com o Decreto 8.072, sob inspiração dos trabalhos de
contato pacífico e comando direto de Candido Rondon (LIMA, 1995).
O SPI trazia a marca assimilacionista e integracionista em seu nascedouro. Foi
imaginado como órgão encarregado de levar a efeito a política indigenista no país, com a
finalidade de atender, em síntese, às propostas de: criar concretamente uma relação pacífica do
poder estatal com os indígenas; assegurar que os indígenas sobrevivessem frente ao contato
violento com os não indígenas; manter a fixação deles às terras em que habitavam, mas ao
mesmo tempo buscar assegurar que se pudesse produzir nelas tudo quanto interessasse do ponto
de vista econômico nacional, com o uso do trabalho indígena para intensificar essa produção;
alimentar nos indígenas a estima por fazerem parte da nação brasileira; habituá-los aos modos
da civilização (LIMA, 1995). As orientações normativas do SPI e também sua atuação prática
mantinha o firme propósito de tornar o indígena um trabalhador incorporado à nação, mesmo
que para isso se tivesse que dispor de métodos de educação de padrão militarizado, que muito
serviam à ideia de homogeneizá-los. Objetivos não declarados, mas atingidos, eram os de
manter o controle sobre as ações dos grupos indígenas, a fim de que permanecessem
inofensivamente atrelados à “nação”, de modo que não ameaçassem a integridade territorial do
país, e, além disso, deter o poder sobre suas terras (OLIVEIRA; FREIRE, 2006). A vida
indígena passava, então, a ser administrada pelo poder estatal. O caráter disciplinar do SPI
evidenciava-se na prática: não havia reconhecimento e diálogo com o Outro, mas sim
manifestações de “processos contínuos e ininterruptos que sujeitam os corpos, dirigem os
gestos, regem os comportamentos”, bem nos moldes de disciplinarização através das
“extremidades do poder” teorizados por Foucault (1984, p. 184).
As tensões entre a promessa protetiva, de espírito fraternal, e a ação real do poder
tutelar se apresentavam fortemente. O declarado fim pacificador e provedor da política
indigenista convivia, portanto, com a conversão prática de suas ações em dominação. Não que
o poder estatal restasse, na realidade, completamente esvaziado de suas funções declaradas,
mas estas, além de ineficazes e com o vício da orientação ideológica assimilacionista e
integracionista, somavam-se a outras que davam ao conjunto da ação essa duplicidade de
sentidos, um anseio tuitivo coexistindo com uma espécie de violência conformadora. E é
justamente nesse contraste que reside o traço mais marcante da política indigenista brasileira: a
ambiguidade (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 117).
O SPI definhou, mas deixou no gene da política indigenista brasileira aquilo que foi o
fio condutor de sua atuação, que é o traço assimilacionista e integracionista. Em seu lugar,
criou-se a Funai, que levou à frente seu dúbio papel tutelar, de proteger e silenciar, defender e
disciplinar (LIMA, 1995). A Funai nasceu com a formação burocrática que se seguiu ao Golpe
de 1964 e nada de significativo nesse sentido mudaria até o fim do regime (OLIVEIRA;
FREIRE, 2006, p. 131-132).
Poucos anos mais tarde, um outro grande passo de consagração do poder tutelar e a
formatação que este adquirira com toda a histórica atuação do SPI se deu com a aprovação do
Estatuto do Índio, a Lei 6001/1973, que juridicizou e sistematizou tecnicamente toda a ideologia
assimilacionista e integracionista, mas reforçando a atenção para um ponto em especial da
relação entre indígenas, sociedade e Estado, que era justamente a questão do domínio sobre as
terras indígenas (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 133). Instituído o grande marco normativo do
poder tutelar, o aparato administrativo da Funai passava a ter uma missão especial. Com a
inquietação dos indígenas diante do quadro de ingerências culturais, silenciamento e usurpação
de suas terras que predominava, o órgão indigenista assumia, deliberadamente, o papel de
sufocar o crescente movimento indígena, que mesmo assim resistiu e se estabelecia
irrefreavelmente em torno sobretudo da luta pela terra e da autodeterminação (OLIVEIRA;
FREIRE, p. 193-194).
É a partir da afirmação e da autodefesa indígena que um contexto de ruptura político-
jurídica passa a se impor ao longo da década de 80. E é aí que as tensões entre indígenas e
interesses anti-indígenas começam a ficar mais abertas, evidentes, e a violência também estrema
seu espaço quando lideranças indígenas sofrem perseguições, ameaças e ataques. Foi o caso do
assassinato, numa emboscada, de Marçal de Souza Tupã’i, em Mato Grosso do Sul, no ano de
1983, episódio que causou grande impacto no movimento indígena brasileiro, mas que o
impulsionaria, dando-lhe mais visibilidade e mais adesão de organizações sociais apoiadoras
(OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 134).
Promover uma mudança nos rumos jurídicos e políticos do indigenismo no sentido do
reconhecimento da autodeterminação e do efetivo direito à terra: foi essa a principal bandeira
da luta indígena que atingiu seu ápice de repercussão nos trabalhos da Assembleia Constituinte
de 1987, o que resultou nas conquistas impressas na Constituição de 1988. Foi este o ponto de
inflexão, de consagração do Estado pluriétnico, do abandono, ao menos no plano jurídico-
constitucional, da ideia de “nação uniforme”, do reconhecimento formal do protagonismo
indígena em suas próprias causas, enfim, o término de um regime jurídico que demandava
intermediários para a interlocução entre índios e o Estado ou entre índios e a sociedade não
indígena (PEREIRA, 2002, p. 41-43).
Desejava-se nesse marco formalizar o intento democrático de ruptura com o velho
sistema tutelar. A constituição expressou a rejeição à idealização do índio “dócil”, “não
trabalhador”, “quase extinto” ou “pobre”. O indígena foi tomado, enfim, como sujeito; as
comunidades indígenas foram concebidas em sua pluralidade étnico-cultural. A diferença da
condição indígena afirmou seu espaço e, dali em diante, impunha-se ao poder estatal não mais
defini-la, mas sim respeitá-la (PEREIRA, 2002, p. 45). Nessa linha, a importância de a
Constituição ter assegurado, em um capítulo especial, a cultura própria dos indígenas como um
direito do qual não pode ser vista separadamente a plena ocupação territorial das terras em que
habitam (art. 231). Foram muitos os avanços jurídicos conquistados na Carta Cidadã, os quais
vão da autonomia cultural à legitimidade para ingressarem diretamente em juízo em defesa de
seus direitos. Mas, em meio a tantas e significativas mudanças, é a forte transformação
configurada pelo tratamento especial da terra indígena que se destaca e é nela que se encontra
a chave concreta do reconhecimento da diversidade dos povos indígenas e de sua maior
liberdade em face do poder tutelar.
Porém, passados quase trinta anos da Constituição de 1988, a conquista formal de um
Estado Pluriétnico está longe de ser consumada. Apesar de avanços no período imediato ao pós-
1988, isso se deu de forma concentrada, quase que com exclusividade no Norte do país. Grande
parte dos povos indígenas do Brasil amarga um abismo entre a norma e a realidade, um abismo
que não só permanece o mesmo do período pré-constitucional, como, em importantes aspectos,
tem crescido.
De um modo geral, não restrito aos indígenas, a distribuição de terras, velho problema
brasileiro, tem cada vez mais escancarado graves distorções ligadas ao domínio produtivo da
propriedade rural, a concentração do poder econômico e os conflitos ideológicos suscitados por
essas forças. Com a hegemonia neoliberal, a reforma agrária, por exemplo, desde a década de
1990, tem passado por um processo de despolitização, e isso por uma conformação político-
econômica, expressada inclusive por um padrão de recomendações pretensamente
desenvolvimentistas do próprio Banco Mundial, que impulsiona o empenho governamental dos
países em desenvolvimento para o fomento ao “livre mercado de terras”. Uma das vias de
concretização desse processo dá-se a partir da disponibilização de linhas de crédito individuais
para a aquisição de imóveis rurais, deslocando-se a questão do “social” para o “comercial”,
assumindo o Estado a posição de veiculador de empréstimos para sacramentar relações de
“compra e venda” de terras entre sujeitos antes explorados e seus exploradores (PEREIRA,
2013).
Em rigor, esse tipo de ideologia rege a política agrária brasileira daquele período até
hoje, sob a justificativa de que a “pacificação” no campo pode dar-se pela via do mercado
(SAUER, 2004), assim como, de resto, a pacificação social, num sentido amplo, poderia dar-se
pela estratégia de conciliação que se verifica no implemento de políticas sociais compensatórias
simultaneamente à manutenção da estrutura de privilégios da economia capitalista, uma das
marcas dos governos Lula e Dilma, desde 2003 (DELGADO, 2013).
É grande a frustração das expectativas criadas pela Constituição de 1988. Os processos
demarcatórios não são realizados no volume e com a urgência que as situações demandam. A
influência do poder econômico fica evidente se se reparar que 98% das terras demarcadas são
situadas na chamada Amazônia Legal, onde há maiores restrições legais à expansão agrícola. E
mesmo essas terras demarcadas encontram-se, como já dito, sob forte ameaça da mineração –
pelo menos um terço das terras indígenas se encontra sob ameaça atual direta desta atividade
(BRESSANE; BARROS; BARCELOS, 2016) – e dos grandes empreendimentos de parceria
público-privada, como as hidrelétricas.
Se, por um lado, a esmagadora maioria das demarcações ocorreram na chamada
Amazônia Legal, por outro, as áreas hoje em processo de demarcação enfrentam uma estrutura
fundiária mais complexa, com o poder crescente, articulado e cada vez mais influente do
agronegócio – esse poder se revela, aliás, na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 215,
que propõe a transferência da competência da última fase do procedimento demarcatório para
o Legislativo Federal, que, como é notório, conta com forte representação da bancada ruralista
e teria força para criar mais obstáculos.
É fato que a Constituição deu um impulso a demarcações no período imediatamente
posterior a sua promulgação, mas se percebe com clareza uma desaceleração delas conforme a
sucessão dos governos federais: de 1985-1990, Sarney homologou 67 terras indígenas; de 1990
a 1992, Collor homologou 112; de 1992 a 1994, Itamar homologou 16; de 1995 a 2002,
Fernando Henrique Cardoso homologou 145; de 2003 a 2010, Lula homologou 87; de 2011 a
2016, Dilma homologou míseras 21 terras indígenas. A diminuição sistemática não se explica
pela redução de terras a serem demarcadas: em 2013, de um universo de 1.046 terras
individualizáveis então ocupadas por comunidades indígenas, 348 eram reivindicadas sem
qualquer ação do governo; 335 estavam em alguma fase de morosos procedimentos de
demarcação; e apenas 363 eram, de fato, regularizadas, isto é, efetivamente demarcadas,
embora isso por si só não assegure que estejam livres de conflitos (MOREIRA, 2014).
Em um Executivo descompromissado com a função que a Constituição lhe conferiu,
que tende a assumir contornos mais “puramente conservadores” e ainda mais determinados pela
força do capital com o impedimento de Dilma Rousseff, com um Congresso sem perfil para o
respeito a direitos indígenas, financiado em grande parte pelas forças que dominam o
agronegócio e, por fim, com proprietários rurais e grandes empreendimentos cada vez mais
dispostos a empregar suas influências institucionais para desequilibrar a disputa direta de terras
com indígenas, tem incumbido ao Judiciário, sempre acionado nesses conflitos, certo poder de
redimensionar os rumos da política indigenista brasileira. Porém, isso tem ocorrido num sentido
não “para além da tutela”, mas para a perpetuação do ocultamento da diversidade indígena.
3 O poder tutelar na colonialidade da Justiça e os direitos indígenas
Há um paradoxo no pós-1988 brasileiro: a Constituição Cidadã, no mesmo sentido de
importantes tratados e convenções internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é
parte, criou um cenário jurídico que admite a pluriculturalidade e a plurietnicidade (PEREIRA,
2002). Todavia, o que se seguiu a esse marco jurídico, especialmente por parte do Judiciário,
foi quase sempre a negação da diversidade dos povos indígenas e a consequente frustração dos
direitos que, para a proteção dessa diversidade, deveriam ser reconhecidos (CASTILHO, 2014).
Moreira (2014) procedeu a levantamentos que tomam como objeto não apenas a
postura do Judiciário em relação às terras, expandindo a análise para o exame do respeito ou
desrespeito à diversidade e aos direitos indígenas em geral, delimitando sua pesquisa a julgados
do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Regional Federal de
1ª e 3ª Regiões e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, coincidente, portanto, com a
proposta do presente trabalho.
O maior número de demandas envolvendo indígenas, ou melhor, “direitos indígenas”
assim denominados pelas ementas jurisprudenciais – denominação que, de certo modo,
determina os limites das pesquisas de julgados pelos portais eletrônicos dos referidos tribunais
– diz respeito à judicialização das demarcações ou, de uma forma mais abrangente, ações
possessórias em torno de terras indígenas (MOREIRA, 2014).
Porém, tem ganhado relevância o fato de, dividindo espaço com essas questões, haver
um enorme número de processos penais envolvendo os indígenas, o que reflete o problema cada
vez maior da criminalização dos indígenas, em especial em Mato Grosso do Sul (SANTELLI;
BRITO, 2014).
Outro problema comum enfrentado pelos indígenas em sua relação com a Justiça,
relativo não apenas aos casos criminais, mas que principalmente nestes se verifica, é o do
desvirtuamento da perícia antropológica. Julgadores que mantém suas concepções atreladas ao
paradigma assimilacionista ou integracionista, adotam ou dispensam a perícia antropológica
desvirtuando-a, pois a vinculam à aferição, basicamente, do quanto o indígena é desenvolvido
mentalmente ou simplesmente capaz de entender a ilicitude de sua conduta. Trata-se de
reproduzir o dogma da “inferioridade cultural” dos indígenas (MOREIRA, 2014). Igualmente,
tradutores são com frequência dispensados quando se verifica que o indígena sabe, ainda que
de forma limitada, expressar-se na língua portuguesa. Esquece-se de que o propósito da
tradução está, nessas hipóteses, em viabilizar que culturas diferentes dialoguem sem hierarquia
e que os indígenas manifestem suas versões a partir de seus próprios padrões culturais, que
podem despertar no julgador uma sensibilidade distinta para a compreensão e julgamento
(MOREIRA, 2014).
Esse cenário de indiferença pela condição dos indígenas ou mesmo de tratamento
discriminatório que se constata nas causas penais converge com outra preocupante situação,
que é a já mencionada criminalização dos indígenas, fenômeno forte que cresce mais nos locais
em que se nota, de uma forma generalizada, avanço da violência e da exclusão dos povos
indígenas, notadamente em Mato Grosso do Sul (SANTELLI; BRITO, 2014). A postura da
Justiça é parte fundamental dessa criminalização ascendente, mas as instituições policiais agem,
nas extremidades do fenômeno da criminalização secundária (SANTELLI; BRITO, 2014), de
forma agressiva e violadora de direitos humanos (HECK, 2010, p. 24-25). Até na celeridade
das condenações de indígenas a atuação da Justiça de Mato Grosso do Sul se destaca, o que cria
um cenário escandaloso de descompasso com a morosidade verificada em investigações e
processos criminais que apuram violência contra as comunidades indígenas locais (HECK,
2010, p. 25). A criminalização se compõe por um lado de ação repressora, mas por outro, não
menos importante, constitui-se também de omissões das agências criminais, especialmente as
judiciais, no que diz respeito à apuração e punição dos crimes praticados contra os indígenas
(SANTELLI; BRITO, 2014).
Estas omissões, em Mato Grosso do Sul, são bastante significativas. Além de se
entrelaçarem com as ações propriamente repressoras dos indígenas, associam-se com as demais
violações processuais, como as constantes negações de tradutores e desvirtuamento de perícias
antropológicas, integrando um contexto de racismo institucional (BONIN, 2010 p. 17-18).
Com isso já se pode entender que a Justiça brasileira opera em constante violação dos
direitos indígenas em geral, como desconhecedora e ocultadora da identidade cultural diversa.
Os obstáculos aos direitos territoriais indígenas situam-se dentro desse grande campo de
violações, mas nele ocupam um grande espaço.
Com o novo referencial do Estado pluriétnico da Constituição de 1988 e tratamento
normativo específico sobre o dever de demarcação das terras indígenas, o Judiciário adquiriu a
importante missão de concretizar esses ditames jurídicos (PEREIRA, 2002). Entretanto, a
inovação constitucional encontrou obstáculos na própria dificuldade da prática judiciária em se
compreender os direitos territoriais indígenas. A cultura jurídica, não obstante o lapso temporal
que já tenha transcorrido, tem passado ao largo do real significado dessa especial modalidade
de territorialidade (DUPRAT, s/d). A forma como se debatem judicialmente os direitos
territoriais indígenas denota esse desconhecimento.
O que aparece como mais evidente na linguagem empregada para “solucionar” os
conflitos judiciários é o esforço pela equiparação dos institutos da propriedade privada com o
território indígena. É recorrente, no Judiciário, que estas categorias jurídicas distintas sejam
tratadas, da perspectiva processual, como se fossem iguais. É nessa linha que se prolifera o
ajuizamento de ações possessórias, assim como a própria concessão, nelas, das tutelas de
urgência em favor de possuidores ou proprietários rurais que se encontram em terras indígenas,
sobretudo na Bahia, em Roraima e em Mato Grosso do Sul (DUPRAT, s/d, p. 2-4).
Há, como já dito, um número elevado de procedimentos demarcatórios em curso. E há
tempos cresce, vertiginosamente, a judicialização desses procedimentos demarcatórios: em
Mato Grosso do Sul, por exemplo, todos os que se encontram em curso contam com alguma
espécie de questionamento judicial. Não há fase do procedimento demarcatório que não seja
questionada por proprietários ou possuidores rurais na Justiça. Há quem veja como
providenciais as crescentes intervenções judiciais, mas quem assim as vê logo revela uma
tendência defensiva da propriedade privada, mesmo que custe a ineficácia direitos territoriais
de natureza diversa consagrados na Constituição. Assim se percebe a defesa de Tavares Filho
(2011, p. 8), que se ressente de uma suposta atuação dolosa da Funai em delimitar espaços
territoriais maiores do que os – também supostamente – necessários para os indígenas
habitarem. E cita alguns desenlaces judiciais como demonstrativos de “boas revisões” dos
estudos demarcatórios, notadamente das que privilegiam a força probante dos títulos formais
de propriedade sobre os estudos que identificam e delimitam as áreas tradicionalmente
ocupadas, de fato, pelos indígenas (TAVARES FILHO, 2011, 8).
O constante argumento de que os laudos são feitos a partir de entrevistas com os
indígenas nada mais é senão uma repetida forma de deslegitimar os estudos antropológicos.
Afinal, como seria possível um trabalho técnico multidisciplinar, mas que tem na análise
antropológica, obviamente, seu cerne, a não ser a partir de contato direto e informações com os
sujeitos envolvidos? E mais: os documentos de títulos das propriedades são, sim, levados em
conta, mas compõem o conjunto maior de estudos. Não poderiam ser, como pretende referido
autor, assim como os próprios ruralistas titulados, absolutamente determinantes ao resultado
dos estudos; do contrário, evidentemente, esvaziado estaria o trabalho dos antropólogos, que
sempre e inevitavelmente conjugam análises culturais com os levantamentos ambientais,
geográficos e históricos.
Alguns casos emblemáticos que se situam nesse debate e são reveladores da postura
do Judiciário brasileiro em relação aos direitos territoriais indígenas, apurando o papel dos
sujeitos inseridos nesse conflito, os fins e os resultados da judicialização dos conflitos em torno
da territorialidade indígena, fenômeno que encontra sua ocorrência mais emblemática,
complexa e também mais farta sobre as terras indígenas localizadas no estado de Mato Grosso
do Sul.
A proliferação de ações possessórias em todo o judiciário brasileiro que tenha
competência sobre locais com ocupação indígena é nítida. Mas o ingresso das questões
incidentes sobre as terras indígenas na Justiça não se resume a ações possessórias. O
questionamento das demarcações passou a ser uma ferramenta de protelação dos procedimentos
administrativos quando já não bastam, por si sós, as ações possessórias que visam a inibir
retomadas territoriais por indígenas ou, depois da consumação das retomadas, quando é o caso,
à reintegração de posse. A suspensão das demarcações ou a declaração de alguma nulidade
incidente em seus procedimentos são as principais pretensões dos proprietários rurais. Em Mato
Grosso do Sul, isso não é diferente.
Nos últimos anos, verifica-se a ação coordenada de dezenas de entidades de classe dos
agricultores e sindicatos rurais, liderados pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato
Grosso do Sul (Famasul), que por sua vez é imediatamente ligada à Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em conjunto com o Governo do Estado e com
municípios sul-mato-grossenses, principalmente os localizados no cone-sul do Estado, como
Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Juti, Maracaju, Naviraí, Rio Brilhante, Sete Quedas e
Tacuru, em cujas bases territoriais se situam terras indígenas ainda não demarcadas. Sindicatos,
todos estes municípios citados, o Governo do Estado e proprietários rurais figuram no mesmo
polo de diversas ações e por vezes ajuízam ações isoladamente, todas objetivando, de algum
modo, suspender ou anular atos administrativos dos procedimentos demarcatórios executados
pela Funai. Maior do que o número de partes é, a propósito, o espantoso número de ações
propostas por elas, conforme levantamento de Moreira (2014).
Com esse movimento, nos últimos anos, o Poder Judiciário substituiu o Executivo em
sua função demarcatória. Os conflitos em torno das terras indígenas foram, em Mato Grosso do
Sul, por exemplo, todos eles, judicializados. O Judiciário interfere intensamente nos
procedimentos demarcatórios de terras indígenas, a ponto mesmo de assumir o papel de
protagonista dos conflitos subjacentes.
Esse papel de proeminência da atuação judicial, não apenas em Mato Grosso do Sul,
mas em todo o Brasil, tornou-se bastante evidente com a repercussão do julgado de maior
referência no cenário jurídico pátrio, que teve como objeto a demarcação da terra indígena
Raposa Serra do Sol (Petição 3388/RR), que, longe de pacificar as discussões em torno dos
conflitos em torno das terras indígenas, teve o efeito de ampliar a sua judicialização.
Não obstante os avanços reconhecidos a partir dessa demanda (BRITO, 2011), o STF
inovou com duvidosa legitimidade a interpretação da diretriz normativa constitucional a
respeito das terras indígenas e impôs condições que, mesmo não sendo vinculantes, foram
autodeclaradas pelo STF como paradigmas em razão da autoridade moral das decisões da corte.
Aplicadas a outros casos, sobretudo os do Mato Grosso do Sul, as condicionantes forneceram
mais argumentos de protelação dos procedimentos demarcatórios e de contestação dos
parâmetros neles até então adotados pela Funai, propiciando, com isso, a emergência de uma
nova “corrida ao Judiciário” por parte de proprietários rurais (SANTANA, 2015).
O objetivo desse movimento que contribui decisivamente para a judicialização, já há
muito tempo existente, mas significativamente aumentada nos últimos anos, é basicamente
impedir que os indígenas retomem suas áreas ou que se mantenham nelas. Isso tem sido
conseguido com êxito perante o Judiciário, que, com sua postura de estabelecer entraves à
operação da Funai, soma-se à sólida aliança do agronegócio com a parte mais local da própria
estrutura estatal, isto é, governos estadual e municipais.
Não surpreende, nesse desenrolar, que defensores da tutela processual voltada para a
proteção da propriedade privada e acusadores da suposta desnecessidade de “muita terra para
poucos índios” – preconceito tão disseminado quanto infirmado antropologicamente – cheguem
a formular uma proposta de alteração da competência de demarcações, para que deixem de ser
do Poder Executivo Federal, com a participação preponderante da Funai, como a Constituição
e a legislação atual determinam e regulamentam, para passar a ser do Judiciário. Tavares Filho
(2011, p. 9), por exemplo, defende exatamente isto e faz alusão a posição semelhante defendida
pelo STJ, ou seja, que a demarcação seja atribuição conferida ao Judiciário, taxando a Funai de
“órgão tutelar” dos indígenas e acusando-a de parcialidade.
A jurisprudência fica cada dia mais repleta de entendimentos ideologicamente
orientados no sentido anti-indígena. Há decisões graves e algumas até indisfarçavelmente
estranhas. Como representativa desse grupo de decisões, verifica-se a existência de concessões
de liminares para assegurar a permanência de particulares que se afirmam proprietários em
terras indígenas já demarcadas, isto é, com procedimento administrativo já concluído, com
decreto homologatório da Presidência da República. É o caso, por exemplo, do Mandado de
Segurança 25.463, em que o STF, pela simples preexistência de ação judicial postulando a
nulidade do processo demarcatório então em trâmite, deferiu pedido de liminar para que os
particulares permanecessem em terra da indígena Guarani Kaiowa no município de Antonio
João, em Mato Grosso do Sul. O argumento invocado na decisão gera perplexidade, pois apenas
uma determinação judicial cautelar que, de fato, impedisse o curso do processo de homologação
teria o condão de legitimar a permanência da posse dos supostos proprietários nessa situação.
Na ausência de uma decisão assim, a mera existência anterior de uma ação judicial apresenta-
se na fundamentação acima transcrita, sem dúvida alguma, somente como um pretexto
utilizado, à falta de qualquer plausibilidade jurídica, para assegurar o domínio dos particulares
sobre uma área territorial que já não lhes pertencia desde a homologação da demarcação pelo
decreto presidencial.
E a observação de outros casos aponta que não se trata de ato decisório excepcional
nesse sentido. A atuação da mais alta corte judicial do país reflete bem a atuação do Judiciário
brasileiro em seus diferentes graus. E não é apenas na figura do julgador que se encontram
“erros” desse tipo. As pretensões apresentadas em juízo são fundamentadas com argumentos
incompatíveis com a ordem material de valores implantada juridicamente pela Constituição. O
judiciário demonstra receptividade aos interesses de uma aliança poderosa política e
economicamente, composta de estados, municípios, representações coletivas da classe ruralista,
enfim, todos os que se unem aos proprietários rurais nessas lides e com eles incorrem,
corriqueiramente, em vulgaridades jurídicas no bojo desses processos que (re)discutem os
procedimentos demarcatórios da Funai. No corpo desses processos, a lógica etnocêntrica dessa
aliança contrária à efetivação dos direitos territoriais indígenas se expõe. É comum, por
exemplo, que os proprietários rurais instruam suas ações com laudos técnicos feitos sob
encomenda para deslegitimar a ocupação tradicional caracterizadora das culturas indígenas
locais. Nesses laudos, não raramente, expõem-se discriminações étnicas absurdas e que
nenhuma relação guardam com a territorialidade indígena. É o caso do laudo historiográfico
carreado aos autos 2007.60.00.006004-0 da 1ª Vara Cível da Justiça Federal, subseção
judiciária de Campo Grande – MS, p. 73, que tem como objeto a validade de processo
demarcatório da Terra Indígena Cachoeirinha, localizada na região de Miranda e Aquidauana.
O laudo, também citado por Moreira (2014, p. 188), faz uma absurda associação da redução
demográfica dos indígenas a um suposto “abandono” voluntário de terras e, pior ainda, a
supostas práticas abortivas e infanticídios. Além disso, tenta incutir no juízo a ideia de que os
indígenas da etnia Terena não seriam brasileiros, mas paraguaios, o que reflete uma dupla
discriminação, tão entrelaçadas quanto comuns na localidade: uma ligada diretamente ao
etnocentrismo, contra os indígenas, e outra à xenofobia, contra os paraguaios.
Os indígenas passaram a perceber como cada vez mais presente e determinante a
atuação da Justiça, e isso demandou deles que tentassem compreender a lógica da operação
judicial para que com ela pudessem interagir (BENITES, 2014) para também buscar ativá-la
em seu favor (VIEIRA; AMADO, 2016).
Os resultados, entretanto, como já se pode deduzir, não foram bons. Mas isso não se
deve à falta de mobilização dos indígenas, cada vez maior, mais autônoma e organizada. Os
resultados são ruins porque, apesar de terem o acesso formal à justiça, falta-lhes o acesso
substancial. E o acesso à justiça substancial para os indígenas, para ser compatível com a
plurietnicidade constitucional, exige especificidades até agora ignoradas pela Justiça; exige a
sua descolonização.
5 Conclusões
O tratamento das questões indígenas em geral e das terras indígenas em particular é
francamente marcado por uma ocultação da diversidade cultural indígena, etnocentrismo e
negação da autonomia conferida normativamente pela Constituição de 1988. Visões privatistas
da propriedade territorial ainda se sobrepõem ao modelo de ocupação territorial coletivo e
tradicional indígena. Além disso, as brechas conceituais abertas pelo STF são exploradas
vorazmente e não raramente de forma distorcida pelas frentes anti-indígenas em juízo.
Processos demarcatórios são suspensos injustificavelmente e laudos antropológicos são
contestados constantemente por meio de simples oposição à titularidade documentada da
propriedade individual da terra, algo que a própria Constituição pretendeu resolver de forma
terminativa ao negar a indenização da “terra nua”. Por mais que os indígenas também façam
uso de ações judiciais para buscar a efetividade de direitos territoriais seus, as respostas, por
padrão de julgamentos observados, são lesivas a esses direitos. O acesso à justiça, para os
indígenas, é assim puramente formal. A evolução proposta a partir das reformas institucionais
e processuais motivadas pelo enfoque do acesso à justiça no Direito Processual Civil não se
consumou. A concretização do acesso à justiça é distante tanto porque foram insuficientes as
reformas projetadas, como porque, mesmo na parte em que realizadas, têm reduzido alcance
em função do horizonte ideológico liberal-individualista e excessivamente normativista da
cultura do Judiciário. Nem para sujeitos historicamente excluídos em geral tampouco para os
indígenas o grau de acesso à justiça oferecido se mostra satisfatório a ponto de se caracterizar
como emancipatório. O acesso à justiça emancipatório só poderá ser atingido com uma
revolução democrática da Justiça. E uma revolução democrática da Justiça exige o
reconhecimento e superação de sua vinculação com a colonialidade do poder. A colonialidade
do poder é o que motiva a existência do poder tutelar no indigenismo posto em prática pelo
poder estatal brasileiro. Ao encampar as pautas políticas da luta pela terra, o que ocorre com a
judicialização dos conflitos em torno do direito à terra indígena, o Judiciário acabou por
assumir-se enquanto instituição que também exterioriza o sentido do poder tutelar. O poder
tutelar é expressão da colonialidade. O poder tutelar, apesar de pretensamente extinto no plano
normativo com a consagração da constitucionalidade pluriétnica, projeta-se ideologicamente
sobre as instituições e, a partir do exame da relação do Judiciário com os povos indígenas, é
possível concluir que orienta também a atuação da Justiça, marcada profundamente pela
colonialidade do poder. Um acesso à justiça descolonial, assim, só pode ser possível se o
Judiciário deixar de atuar sob a as determinações do poder tutelar colonial.
Referências Bibliográficas
BENITES, T. Rojeroky Hina Ha Roike Jevy Tekohape (Rezando e Lutando): o movimento
histórico dos Aty Guasu dos Ava Kaiowa e dos Ava Guarani pela recuperação de seus tekoha.
Rio de Janeiro: UFRJ/MN/PPGAS, 2014.
BRAND, A, 1997. O Impacto da Perda da Terra Sobre a Tradição Kaiowá/Guarani: os
difíceis caminhos da Palavra. Porto Alegre: PUCRS, 1997.
BRITO, A. J. G. Direito e Barbárie no (i)mundo moderno: a questão do outro na
civilização. Dourados: UFGD, 2013.
______. Direitos indígenas nas Nações Unidas. Curitiba: CRV, 2011.
BRESSANE, C.; BARROS, C. BARCELOS, I. Em Terra de Índio, a Mineração Bate à
Porta. 2016. Pública – Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo. Disponível em:
http://apublica.org/2016/06/em-terra-de-indio-a-mineracao-bate-a-porta-2/ Acesso em: 20 jun.
2016.
CASTILHO, E. W. V. Diversidade Cultural, esquecida da Justiça. 2014. Disponível em:
http://outraspalavras.net/brasil/diversidade-cultural-esta-esquecida-da-justica/. Acesso em: 20
abr. 2014.
CAPPELLETTI, M.; GARTH, B. Acesso à Justiça. Trad. NORTHFLEET, E. G. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988.
CAVALCANTE, T. L. V. Colonialismo, Território e Territorialidade: A luta pela terra dos
Guarani e Kaiowá em Mato Grosso do Sul. São Paulo: Unesp, 2013.
DELGADO, G. Economia do Agronegócio (anos 2000) como Pacto do Poder com os Donos
da Terra. Revista Reforma Agrária, edição especial, p. 61-68, Jul. 2013.
DUPRAT, D. Terras Indígenas e o Judiciário. s/d. Disponível em: <
http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-e-publicacoes/artigos/docs_artigos/ terras_indigenas_
e_o_ judiciario.pdf>. Acesso em 05 mar 2015.
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
HECK, E.D. 2010. Criminalização dos povos indígenas: a nova face do velho colonialismo.
In Violência contra os povos indígenas no Brasil – Relatório 2009. Brasília, Centro
Indigenista Missionário, p. 23-26. Disponível em:
http://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1280418665_Relatorio%20de%20Violencia%20cont
ra%20os%20Povos%20Indigenas%20no%20Brasil%20-%202009.pdf. Acesso em: 20 jan.
2014.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). 2011. Indígenas:
gráficos e tabelas. Disponível em: http://indigenas.ibge.gov.br/graficos-e-tabelas-2. Acesso
em: 30 Abr. 2014.
LIMA, A. C. de S. Um Grande Cerco de Paz: poder tutelar, indianidade e formação do
Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1995.
MOREIRA, E. M. Onhemoirõ: o Judiciário frente aos Direitos Indígenas. UNB/Programa de
Pós-Graduação em Direito: Brasília, 2014.
______. Os Direitos Indígenas frente aos Conflitos no Campo em 2013. In CANUTO, A.;
LUZ, C. R. da S.; LAZZARIN, F. Conflitos no Campo - Brasil 2013. Goiânia: CPT
Nacional, 2014.
OLIVEIRA, J. P.; FREIRE, C. A. R. A presença indígena na formação do Brasil. Brasília:
MEC e Laced/Museu Nacional, 2006.
PEREIRA, J. M. M. A Luta Política em torno da Implementação do Modelo de Reforma
Agrária de Mercado durante o Governo Cardoso. In.: STEDILE, J. P. A Questão Agrária no
Brasil: debate sobre a situação e perspectivas de reforma agrária na década de 2000. Editora
Expressão Popular. São Paulo, 2013.
PEREIRA, D. D. de B. O Estado Pluriétnico. In: LIMA, A. C. de S.; BARROSO-
HOFFMANN, M. (Org). Além da Tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio
de Janeiro: Contra Capa e Laced, 2002.
QUIJANO, A. Colonialidade do poder e classificação social. In SANTOS, B. de S.;
MENESES, M. P. (org). Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.
RIBEIRO, D. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil
moderno. Petrópolis: Vozes, 1979.
SANTANA, C. R. Direitos Territoriais Indígenas: o Poder Judiciário contra a Constituição.
IV Encontro Nacional de Antropologia do Direito, 2015. Disponível em:
http://www.enadir2015.sinteseeventos.com.br/simposio/view?ID_SIMPOSIO=18 Acesso em
24 dez. 2015.
SANTELLI, I. H. da S.; BRITO; A. G. G. Da Sociologia do Desvio à Criminologia Crítica: os
Povos Indígenas de Mato Grosso do Sul como outsiders. Revista de Ciências Sociais
Unisinos. n. 50, Jan/Abr. 2014.
SANTOS, B. de S. Para uma revolução democrática da justiça. 3.ed. São Paulo: Editora
Cortez, 2007.
SAUER, S. A terra por uma cédula: estudo sobre a “reforma agrária de mercado”. In
MARTINS, M. D. (Org.). O Banco Mundial e a terra: ofensiva e resistência na América
Latina, África e Ásia. São Paulo: Viramundo, 2004.
TAVARES FILHO, N. Ainda a Raposa-Serra do Sol. Terras indígenas, segurança jurídica e
propriedade privada. Revista de Direito Privado, Vol. 45, p. 15. Jan. 2011.
VIEIRA, A. C. A.; AMADO, L. H. E. Projetos institucionais em disputa: Direito, terras
indígenas e conflitos fundiários no Brasil. Legal Scholarship Network: Legal Studies
Research Paper Series, v. 3, p. 39-78, 2016. Disponível em
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2677859 Acesso em: 1 Abr. 2016.
______. Pluralismo Jurídico: um espaço de resistência na construção de direitos humanos. In
WOLKMER, A. C. (Org.). Pluralismo Jurídico: os novos caminhos da contemporaneidade.
São Paulo: Saraiva, 2010.