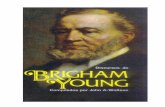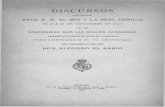DISCURSOS À VOLTA DO REGIME DE PROPRIEDADE DA TERRA EM MOÇAMBIQUE
-
Upload
jzcarrilho -
Category
Documents
-
view
253 -
download
0
description
Transcript of DISCURSOS À VOLTA DO REGIME DE PROPRIEDADE DA TERRA EM MOÇAMBIQUE
-
DISCURSOS VOLTA DO REGIME DE
PROPRIEDADE DA TERRA EM MOAMBIQUE Uacitissa Mandamule
N 332
Setembro 22015
Doc
umen
to d
e T
raba
lho
Obs
erva
dor
Rur
al
-
O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) uma publicao do Observatrio do Meio Rural. uma publicao no peridica de distribuio institucional e indi-vidual. Tambm pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR (www.omrmz.org). Os objectivos do OBSERVADOR RURAL so: x Reflectir e promover a troca de opinies sobre temas da actualidade moambicana e
assuntos internacionais. x Dar a conhecer sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexes sobre
temas relevantes do sector agrrio e do meio rural. O OBSERVADOR RURAL um espao de publicao destinado principalmente aos investigado-res e tcnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela rea objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicao outros cidados nacionais ou estrangeiros. Os contedos so da exclusiva responsabilidade dos autores, no vinculando, para qualquer efeito ao Observatrio do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL esto em forma de draft. Os autores agradecem contribuies para aprofundamento e correces, para a melhoria do documento final.
-
1
DISCURSOS VOLTA DO REGIME DE PROPRIEDADE DA TERRA EM MOAMBIQUE
Uacitissa Mandamule1
1. Introduo
H duas questes sobre a terra em Moambique que todos conhecem (...) mas quase nunca so assumidas. A primeira que a terra em Moambique pertence ao Estado e tambm queles que fazem parte e controlam este aparelho. A segunda grande questo que por lei a terra no pode ser vendida, mas (no entanto) ela comprada, por vezes com a cumplicidade mesmo de quem deveria garantir que isso no acontecesse2.
A citao em epgrafe no pode no ser significativa. Ela refere-se, no somente desordem poltica e social (Chabal e Daloz, 1999) na qual o pas est mergulhado desde a independncia, caracterizada por uma gesto, em grande parte (neo-)patrimonial e clientelista do Estado e dos seus recursos naturais (Mdard, 1991), mas tambm ao facto paradoxal de a terra constituir propriedade ltima do Estado3 que no reconhece a propriedade privada sobre a mesma, muito menos a sua venda, ainda que, na hora actual, e de maneira (in)formalmente e generalizada, esta exista, envolvendo diferentes actores, a diferentes nveis (central e local) da hierarquia poltico-administrativa e social, e assumindo dimenses inquietantes. Estado frgil, com um centro de poder bem delineado, graas ao papel das elites, sobretudo do partido no poder desde a independncia nacional em 1975 (Frelimo), Moambique um pas de grandes desigualdades sociais que tm estado na origem de descontentamentos da sua populao, assim como de lutas de poder, inclusive no seio das elites que integram os sistemas do poder. Situado na frica Austral, com uma populao de cerca de 25 milhes de habitantes e uma superfcie total de 801.590 km, o pas ainda considerado um dos mais pobres do mundo4, com mais de metade (54%) da sua populao vivendo em situao de pobreza absoluta (menos de 1$/dia). Para muitos, os 16 anos de guerra civil (1976-1992), que opuseram a Frelimo e a Renamo, so em parte responsveis por esta situao uma vez que, com a guerra, a administrao pblica foi destruda, o que precipitou o aumento dos nveis de pobreza e provocou a deslocao de milhares de habitantes de uma regio para outra (Wit, 2002) e para o estrangeiro. Actualmente, dentre as questes que tm sido objecto de debate no que concerne questo da terra em Moambique algumas ainda que de forma mais ou menos recatada encontram-se: (i) o Estado como nico proprietrio da terra e a impossibilidade de transaccion-la, monetria e formalmente no mercado; e (ii) A natureza do poder poltico e administrativo e a implementao da lei de Terras no que se refere ocupao costumeira e por boa-f.
1 Uacitissa Mandamule, mestre em Cincia Poltica e Assistente de Investigao no OMR. Docente na Universidade Politcnica e no Instituto Superior de Administrao Pblica. 2 Declarao recolhida junto a um campons no distrito de Monapo, provncia de Nampula, regio setentrional de Moambique, em 11/11/2014. 3 Artigo 109 da Constituio da Repblica de Moambique (CRM). 4 O ndice de Desenvolvimento Humano para 2014 coloca Moambique na 178 posio, num total de 187 pases. Embora tenha melhorado 6 lugares em relao classificao de 2013 (184), o pas continua na lista dos 10 pases com o mais baixo IDH, segundo a classificao do PNUD.
-
2
A questo da garantia de segurana de posse da terra, sobretudo para os mais de 80% da populao que tm na agricultura a base da sua subsistncia e na terra o seu maior recurso, tem igualmente assumido uma importncia crescente, sobretudo no actual contexto de grande procura de terras em frica. Esta apetncia pelas terras resultou em parte do grande crescimento populacional5 em frica e no mundo6 e, sobretudo, da crise financeira e alimentar de 2007/2008 que provocou graves consequncias a nvel da segurana alimentar e energtica dos pases de origem dos investidores, sendo Moambique um dos destinos preferenciais dos investimentos estrangeiros. O nosso objectivo no presente artigo compreender os discursos volta do regime de propriedade da terra em Moambique e os efeitos do land grabbing no acesso e segurana de posse da terra no meio rural, partindo duma anlise das abordagens sobre a administrao e gesto da terra. Especificamente pretendemos identificar os mecanismos de acesso e segurana de posse da terra em Moambique; mapear os discursos e posicionamentos volta do regime de propriedade da terra em Moambique e descrever os efeitos da corrida pela terra no meio rural. Com maior acuidade, iremo-nos questionar sobre as vantagens e inconvenientes da privatizao e legalizao dos mercados de terra num Estado frgil, como Moambique, onde, conforme anteriormente referimos, mais de metade da populao tem na agricultura a base da sua subsistncia e, portanto, na terra o seu principal bem e nica garantia material. Questionamos igualmente que modelo ou opo poltica de gesto se revela apropriado para assegurar um desenvolvimento econmico e social estrutural e que considere os interesses do Estado, dos investidores e novos ocupantes sem, no entanto, prejudicar as populaes locais e os pequenos e mdios produtores. 1.1 Metodologia Nesta pesquisa qualitativa comeamos pela reviso bibliogrfica de obras gerais e especializadas sobre a matria, e pelo recurso a entrevistas exploratrias com pesquisadores especializados na nossa rea de pesquisa. Como referem Quivy e Campenhoudt (1988:60), a leitura e as entrevistas exploratrias so importantes pois elas ajudam-nos a fazer o balano dos conhecimentos relativos ao problema de partida, contribuem para descobrir os aspectos a ter em conta e alargam ou rectificam o campo de investigao das leituras. Portanto, este procedimento ajudou-nos na formulao da nossa problemtica, na identificao das abordagens tericas e na definio dos objectivos e conceitos-chave para a nossa pesquisa. A necessidade de responder s questes colocadas pela pesquisa bibliogrfica e de complementar as informaes contidas na documentao escrita conduziram-nos realizao do trabalho de campo, que se desenvolveu, numa primeira fase, em Novembro de 2014 e, numa segunda fase, em Maro e Abril de 2015 nas provncias de Maputo e Nampula. A escolha destes locais prende-se ao facto de actualmente estas regies constiturem focos de interesse privilegiado por parte de novos investidores, pelos crescentes conflitos que se tm registado envolvendo Estado, comunidades e investidores nestes locais, e tambm pela necessidade de verificar at que ponto as questes culturais (sociedade patrilinear e matrilinear respectivamente) influenciam o acesso terra e as formas de garantia de segurana de posse.
5 Segundo Guengant (2009), de 1960 a 2010, a populao total do continente africano passou de 285 milhes a mil milhes de habitantes, o que significa que multiplicou-se por 3,6. 6 Segundo o relatrio sobre a Situao da Populao Mundial 2011 do Fundo das Naes Unidas para a Populao (FNUAP), o rpido crescimento da populao mundial teve incio na dcada de 1950 com a reduo da mortalidade nas regies desenvolvidas, o que resultou numa populao estimada em 6,1 mil milhes no ano 2000, 2,5 vezes a populao de 1950. Actualmente, a populao mundial de cerca de 7 mil milhes de habitantes, nmero que poder atingir os 9 mil milhes de habitantes at 2050, o que representa, um crescimento de 0,33% por ano.
-
3
No que concerne recolha de dados e instrumentos de pesquisa, recorremos observao no-participante e s entrevistas semi-estruturadas junto a informantes-chave tais como (i) funcionrios do Governo, tcnicos dos servios de cadastro e extensionistas, (ii) investidores privados, (iii) comunidades locais, autoridades tradicionais, organizaes da sociedade civil, consultores e pesquisadores na rea agrria. Este procedimento permitiu-nos identificar os mecanismos de acesso, apropriao e garantia de segurana de posse da terra a nvel local, observar as relaes de poder no meio rural (populao, autoridades administrativas e tradicionais locais) e sua influncia na atribuio de ttulos de DUAT, analisar as relaes entre investidores e populao local e identificar as causas dos conflitos de terra registados. De facto, as entrevistas permitiram-nos conhecer as dinmicas locais, criar relaes de proximidade com membros das comunidades e, sobretudo, analisar o fenmeno do land grabbing atravs de uma observao no terreno. Para a seleco da amostra, utilizmos o mtodo de purposive sampling7 que consiste na escolha deliberada das pessoas a incluir na pesquisa, em funo da natureza da sua actividade, objectivos e especificidades. Este mtodo procura seleccionar pessoas que tenham as caractersticas desejadas e pertinentes para a pesquisa, permitindo, assim, racionalizar o tempo, tornar a pesquisa mais flexvel, ainda que eventualmente alguns actores relevantes possam, eventualmente, ser deixados fora da pesquisa (Cohen e Manion, 1994). O difcil acesso a algumas informaes, documentos e locais importantes para o nosso estudo constituiu um verdadeiro constrangimento. Visto tratar-se de um assunto capaz de ferir certas sensibilidades, supe-se que o medo de represlias por parte de funcionrios da administrao pblica e de alguns membros das comunidades locais tenha influenciado as respostas dadas por aqueles e tambm na relativa fraca circulao de informao.
2. Entre bem comum e mercadoria: as teorias sobre a gesto e administrao de terras As teorias sobre a gesto e administrao da terra estavam bipolarizadas, at meados dos anos 1980, entre a teoria da colectivizao (bem comum ou dos direitos naturais de acesso) e a teoria dos direitos de posse e propriedade e sua variante evolucionista (Negro, 2011). 2.1 A terra como um bem comum Vrias so as acepes que a expresso bem comum pode assumir, indo desde o conjunto de elementos oferecidos naturalmente a todos os seres humanos, ou seja, a terra, a gua, os minerais, rios, mares, vento, sol, clima, atmosfera, biodiversidade, entre outros, (Flahault, 2011), s simples relaes sociais (materiais ou imateriais) que se estabelecem sobre aqueles recursos (Lipietz, 2010) 8. Deve-se, particularmente, a Garrett Hardin (1915-2003) a notoriedade da discusso sobre os bens comuns, com a publicao do seu artigo The tragedy of the Commons (1968). Partindo do exemplo de um campo de pastagem aberto ao uso de todos, Hardin explica que daquele somente se poder esperar que cada pastor procure aumentar a rea ocupada pelo seu rebanho, sem se importar com as reas ocupadas pelos outros usurios. A concluso a que chega Hardin no seu artigo que, tendo em conta a natureza limitada do mundo (recursos), o livre uso dos bens comuns conduz runa de todos, na medida em que, cada indivduo procura, de maneira desmedida e ilimitada, aumentar os seus recursos, antes que os outros faam o mesmo.
7 Amostragem por escolha propositada, em traduo livre. 8 Para uma discusso mais aprofundada sobre os bens comuns vide: OSTROM, E. La gouvernance des biens comuns: pour une nouvelle approche des ressources naturelles. Bruxelles: De BOECK, 2010.
-
4
No entanto, Ostrom (1990) pe em causa a teorizao de Hardin pois, segundo ela, esta no corresponde aos verdadeiros bens comuns, tal como eles so geridos pelas colectividades ao longo dos anos (cf. Smouts, 2005). Ou seja, enquanto para Hardin os bens comuns so unicamente os recursos disponveis, para Ostrom (1990), cf. Crosnier (2010), estes so, antes de tudo, lugares de negociao geridos por indivduos que comunicam entre si e, de entre os quais, pelo menos uma parte no movida por um interesse imediato, mas por um sentimento colectivo. s autoridades pblicas caber o papel de obrigar os membros da colectividade a participar da produo daquele bem, visto que, em certos casos, os utilizadores tm interesse em se comportar como passageiros clandestinos9. S assim o bem ser produzido em quantidade ptima. Aplicadas terra, as teorias da colectivizao fortemente seguidas nos anos 1980 pelos pases de orientao socialista (como Moambique) defendem a ideia segundo a qual a terra um bem colectivo que, no tendo sido criado pelo homem, no deve ser vendido nem por este transformado (Berthoud, 2008). Ao Estado caberia a gesto deste bem, atravs da construo de infra-estruturas e alojamento em contrapartida dos quais os cidados pagariam uma taxa de uso e aproveitamento (Negro, 2011). A teoria dos direitos de propriedade e sua variante evolucionista Para a teoria dos direitos de propriedade, de fundamento neoclssico, o crescimento demogrfico e a crescente mercantilizao da agricultura levam escassez de terra, passando esta a ter um valor econmico e transformando-se progressivamente em um bem comercializvel e aproprivel individualmente (Badouin, 1974). Nestas circunstncias, a ausncia de propriedade privada prejudicial pois as exploraes no so feitas de maneira ecologicamente sustentvel e, por sua vez, os investimentos no conservam nem melhoram a qualidade dos solos e da produo, provocando desta forma importantes externalidades (Lavigne-Delville, 1998). J na sua variante evolucionista, a teoria dos direitos de propriedade salienta que, sujeitos ao crescimento demogrfico e do mercado, as sociedades humanas tendem a evoluir espontaneamente em direco a uma generalizao da propriedade privada, individual e familiar, da terra, ao mesmo tempo em que assistimos ao enfraquecimento e desaparecimento do papel das autoridades tradicionais. A persistncia da gesto comunitria em algumas extenses de terra, a resistncia venda de terras para fora da comunidade de pertena, o carcter reversvel das vendas de terras e a persistncia de relaes clientelistas entre autoridades-comprador e vendedor, etc., so sinais de um perodo transitrio, antes do desenvolvimento de um verdadeiro mercado de terras (Platteau, 1998). A essas situaes, os governos devem responder atravs duma inovao institucional sob forma de ttulos de propriedade e direitos registados junto a uma agncia central especializada (Platteau, 1998). Tal interveno, embora de carcter no obrigatrio, necessria na medida em que flexibiliza a determinao dos preos de venda e compra de terras (Negro, 2011), assegura a posse da terra, permite o acesso ao crdito que, por sua vez, contribui para o aumento da produtividade, e pe fim aos conflitos que tendem a aumentar quando a terra se torna objecto de concorrncia (Lavigne-Delville, 1998).
9 Para alm da abordagem de Hardin, as anlises de Ostrom so influenciadas por dois outros modelos: a teoria do dilema do prisioneiro e o modelo da lgica de aco colectiva de Mancur Olson (1965). a este ltimo que Ostrom empresta o termo free riders (passageiros clandestinos) que corresponde aos indivduos inseridos num determinado grupo, que, face necessidade de levar a cabo uma aco colectiva, deliberadamente no mobilizam nenhum recurso para a consecuo daquela pois, independentemente do seu engajamento, a aco ser levada a cabo pelos outros integrantes do grupo.
-
5
2.2 As abordagens neoinstitucionalistas sobre a terra Duas outras correntes dedicaram-se anlise do estatuto e valor da terra. So elas a teoria de inovao institucional e as abordagens neoinstitucionalistas para as quais a criao da propriedade privada da terra (transformao da terra em um bem comercializvel) resultado de um processo histrico que no resulta da simples evoluo dos regimes de posse de terra locais. A propriedade privada resulta, com efeito, duma interveno voluntarista do Estado que deve construir o quadro jurdico e administrativo (servios de cadastro, emisso de ttulos) necessrio e estabelecer um modelo de desenvolvimento (Lavigne-Delville, 1998). Estas abordagens reconhecem a existncia de diferentes modos de apropriao e de gesto dos recursos e defendem a constituio de instncias legtimas aos olhos das populaes e reconhecidas pelo Estado, encarregues de definir os direitos de cada um e arbitrar os conflitos, mesmo se em certos casos isto pode ser acompanhado por outras formas de arranjos, de tipo clientelistas ou patrimoniais (Lavigne-Delville, 1998:35). Como se pode depreender das abordagens acima descritas, em cada momento histrico e em cada contexto poltico e social, os modos de gesto e administrao da terra reflectem a complexidade de interesses, representaes e recursos (materiais ou simblicos) que os diferentes actores (Estado, investidores, comunidades) envolvidos no land game (Chaveau, 1998) possuem e mobilizam. Tal complexidade reflecte-se igualmente ao nvel das foras de poder existentes nas sociedades, exigindo daqueles actores a adopo de diferentes estratgias com vista a garantir a segurana de posse de terra e fazer passar os seus interesses nos centros de deciso, excluindo ou integrando outros concorrentes pelo acesso terra e seus recursos. Esta discusso patenteia igualmente que a terra pode estar, e est, na origem de vrias lutas e conflitos de normas (estatais e consuetudinrias) que tendem a se opor e sobrepor umas s outras no que concerne aos mecanismos de acesso, controlo e gesto (costume ou direito estatal), por um lado, e ao valor (sagrado ou mercantil), significado e finalidades de uso (subsistncia ou comercializao), por outro lado. Estas diferentes significaes so influenciadas pela natureza dos sistemas polticos que condicionam as polticas de governao e que, por sua vez, repercutem-se ao nvel das escolhas polticas e de polticas de governao e administrao da terra que os diferentes pases adoptam. A posse da terra como recurso representa sempre relaes sociais e de poder de uma sociedade aos seus diferentes nveis. Assim sendo, as decises e enquadramentos legais institudos representam, em cada momento, essas relaes em permanentes reconfiguraes. As mudanas institucionais, enquanto um conjunto de normas reguladoras, podem alterar-se em funo de alteraes na composio do poder e dos interesses neles representados. Em Moambique, em particular, o Estado reconhece o poder das autoridades e notveis comunitrios (chefes tradicionais, secretrios de bairro ou de aldeia, rgulos, etc.) como sendo os legtimos representantes das comunidades. Aquelas participam atravs de instituies de participao e consulta comunitrias (Comits, Conselhos, Fruns) na gesto dos recursos naturais, tal como veremos de seguida. A Lei 19/97 representa necessariamente a composio dos interesses polticos e econmicos de momento, assim como o compromisso com um dos propsitos centrais da libertao da terra e dos homens num passado recente.
-
6
3. Os discursos volta do acesso, posse e propriedade da terra em Moambique 3.1 Procedimentos de acesso terra e DUATs Em sociedades maioritariamente rurais, como a moambicana 10 , alm de constituir a fonte primeira de subsistncia das famlias, a terra tem um valor e significados sagrados determinados, por um lado, pela ligao que esta cria com os ancestrais e, por outro lado, pelo poder que ela confere a quem , legal ou tradicionalmente, o legtimo responsvel pela sua gesto. As normas de reciprocidade enraizadas e partilhadas pelos indivduos envolvidos na relao com a terra, atravs do cultivo, produo, habitao ou culto aos ancestrais, criam uma certa ordem e estabilidades, que harmonizam a convivncia em sociedade e facilitam a aceitao das normas e a configurao do poder criadas pela organizao do espao. Considerado um direito natural dos indivduos, o acesso terra no meio rural, bem como o sentimento de apropriao, so relativamente fortes pois a terra e todos os recursos que dela provm so considerados pertena das famlias que os gerem segundo normas e prticas costumeiras adquiridas, apropriadas, reproduzidas e transmitidas rotineiramente de gerao em gerao, conferindo-lhes, assim, maior aquiescncia, relevncia e segurana. Estas normas so igualmente aceites e respeitadas pelos Estados africanos, que, em alguns contextos, so os legais proprietrios da terra, mas no o seu legtimo usufrutrio. Por isso, alguns pases como o Senegal, Guin-Equatorial, Costa do Marfim, Burquina Fasso, por exemplo, optaram pela combinao entre o direito dito moderno e o direito tradicional (Mathieu, 1996), incorporando, reconhecendo e reforando a legitimidade deste ltimo, sobretudo no meio rural. Moambique tambm faz parte dos pases que adoptaram um regime de dualismo jurdico, sobretudo no que concerne gesto dos recursos naturais, ainda que factualmente antecedido de perodos de prticas administrativas excessivamente centralizadas. De facto, a independncia nacional em 1975 e o aparecimento da 1 repblica no mesmo ano (Constituio da Repblica Popular de Moambique) trazem consigo a nacionalizao de todos os recursos naturais, incluindo a terra, transformando-se esta em propriedade unicamente Estatal. Apesar do ideal de libertao da terra e dos homens, no houve no Moambique ps-independncia, como referiu Norton (2005), uma redistribuio justa da terra pelas famlias rurais. Pelo contrrio, assistiu-se a uma dpendance au sentier11 (Gazibo e Jenson, 2004) marcada pela reproduo das prticas administrativas da antiga potncia colonizadora, transformao das propriedades agrcolas privadas em machambas estatais, socializao do campo nas cooperativas e aldeias comunais, e confiscao das terras dos camponeses e pequenos produtores privados (Cahen, 1987). A primeira lei de Terras aprovada em 1979 (Lei n 6/79 de 3 de Julho) que, em decorrncia da constituio de 1975, igualmente consagrava a propriedade estatal sobre a terra. Uma legislao suplementar aprovada em 1987 (Decreto n 16/87 de 15 de Julho) que determina que a terra no pode ser vendida. Esta disposio reforada, quer na Constituio de 1990 (art. 46) como na actual Constituio de 2004 (art. 109), que simultaneamente determinam que a terra propriedade do Estado. A terra no pode ser vendida, ou por qualquer outra forma alienada, nem
10 De acordo com a Estratgia de Desenvolvimento Rural (2011), mais de 95% da superfcie total de Moambique (801.590 km) corresponde ao espao rural que, por sua vez, abriga cerca de 2/3 dos cerca de 25 milhes de habitantes, ou seja aproximadamente 17 milhes. O sector agrrio ainda responsvel por cerca de 25 a 30% do produto interno bruto (PIB) e proporciona 80% das actividades econmicas e emprego para a populao economicamente activa. 11 Dependncia da trajectria em portugus e Path dependance em ingls.
-
7
hipotecada ou penhorada. Como meio universal de criao da riqueza e do bem-estar social, o uso e aproveitamento da terra direito de todo o povo moambicano. O Estado determina as condies de uso e aproveitamento da terra12. A actual Lei de Terras (Lei n 19/97 de 1 de Outubro) aprovada em 1997 e entra em vigor em Janeiro de 1998, aps um enorme trabalho de auscultao levado a cabo por organizaes da sociedade civil junto s comunidades locais, num processo por muitos considerado dos mais democrticos at ento vividos no pas (Hanlon, 2002). Esta lei prev as seguintes formas de acesso terra: (i) pelo reconhecimento da ocupao13 segundo normas e prticas costumeiras; (ii) por ocupao de boa-f; e; (iii) por meio da autorizao pelo Estado de um pedido de uso e aproveitamento da terra. No acesso terra por ocupao segundo as normas e prticas costumeiras, cuja origem so as linhagens e as famlias, tem-se como base os laos que ligam essa linhagem ou segmento de linhagem a um determinado territrio. Assim, considerando o carcter sagrado e inalienvel da terra no meio rural, qualquer venda, doao ou transmisso de terrenos no efectuada de acordo com os usos e costumes tradicionais, constitui uma violao grave dos princpios comunitrios locais e motivo de muita contestao e at excluso (Quadros, 2004). J a ocupao por boa-f pressupe que as pessoas singulares nacionais estejam a utilizar (habitao ou produo) a terra h pelo menos dez anos; s nesta condio elas podero adquirir o direito de uso e aproveitamento sobre as terras por si ocupadas. Outro mecanismo de acesso terra por via da autorizao dos pedidos de uso e aproveitamento da terra feitos pelos interessados (nacionais e estrangeiros), aos quais o Estado pode responder atravs da emisso de um ttulo escrito, dito Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT), autorizando a utilizao e explorao da rea solicitada. O DUAT emitido pelos Servios de Geografia e Cadastro, quer a nvel central ou local, aps consulta s comunidades e parecer das autoridades administrativas locais, com o objectivo de confirmar a existncia, ou no, de ocupantes na rea pretendida e evitar conflitos futuros. Nos casos em que a rea solicitada se destina ao desenvolvimento de actividades econmicas, o DUAT exige a apresentao de um parecer tcnico emitido pelos servios responsveis pela actividade econmica que se vai desenvolver, e um plano de explorao que inclua, para alm da identificao do requerente (pessoa singular ou colectiva), a localizao e dimenso do terreno requerido, uma descrio das actividades a serem desenvolvidas e um comprovativo do pagamento das taxas referentes autorizao provisria. O objectivo do plano de explorao garantir que os requerentes tm capacidade para explorar as reas pretendidas, olhando, sobretudo, para as actividades, as garantias financeiras e a calendarizao apresentadas. Em caso de aceitao do pedido de DUAT, uma autorizao provisria emitida, com durao de 5 anos para os nacionais e 2 anos para os estrangeiros. Aps o cumprimento do plano de
12 A Frelimo, partido que conduziu independncia do pas, assumiu-se durante o seu 3 congresso em 1977, como um partido de vanguarda marxista-leninista, o que influenciou as decises polticas e as polticas desenhadas nesse perodo. A ttulo de exemplo, a Lei de Terras moambicana inspirou-se no Decreto sobre a terra do II congresso dos sovietes dos deputados trabalhadores e soldados (1917) que afirma O Direito de propriedade privada da terra abolido para sempre; a terra no pode ser vendida nem comprada, no pode ser concedida em arrendamento, nem hipotecada, nem sujeitada a qualquer outra forma de alienao. Enquanto a primeira Lei de Terras (6/79 de 3 de Julho) fazia referncia proibio do arrendamento, a actual Lei de Terras de Moambique no faz meno questo da possibilidade de arrendar a terra. 13 Por ocupao a lei de terras (19/97 de 1 de Outubro) entende a forma de aquisio de direito de uso e aproveitamento da terra por pessoas singulares nacionais que, de boa -f, estejam a utilizar a terra h pelo menos dez anos, ou pelas comunidades locais.
-
8
explorao, uma autorizao definitiva emitida14, com durao de at 50 anos, susceptvel de renovao, por igual perodo, mediante apresentao de um novo pedido pelo requerente15. Portanto, para alm das provas escritas, a Lei de Terra moambicana reconhece a importncia e validade das prticas costumeiras de acesso terra, permitindo, inclusive, a existncia de DUATs comunitrios, ou seja, direitos de propriedade registados em nome da comunidade e no em nome individual. Os membros das comunidades locais podem obter ttulos de uso e aproveitamento da terra individualizados, sendo condio que estes se desmembrem do terreno das reas da comunidade de que faziam parte, significando isto que os DUATs comunitrio e individual no se sobrepem. No entanto, apesar destes avanos, alguns cenrios so ainda pouco animadores, como, por exemplo, o acesso diferenciado terra pela mulher em relao ao homem. Em relao a este specto, no meio urbano e, principalmente, no meio rural, o papel da mulher no desenvolvimento das famlias , em alguns casos, secundarizado e o acesso aos recursos condicionado pela natureza falocntrica que caracteriza as sociedades africanas, no geral, e a moambicana, em particular, tal como testemunharam as nossas observaes e entrevistas. Embora as mulheres representem mais da metade dos produtores agro-pecurios nacionais (53%), na maioria dos casos, quem tem direitos sobre a terra e decide sobre a gesto e finalidades dos rendimentos da produo so os homens, mesmo em sociedades matrilineares como os emcua e elomu16, na provncia de Nampula onde a terra pertence geralmente mulher, embora em alguns casos haja co-titularidade no registo do DUAT. Tradicionalmente, os casamentos neste tipo de sociedades so matrilocais, o que significa que o casal fixa residncia nas terras da famlia da mulher, ou nas proximidades daquelas. A transmisso do poder sobre as terras e todos os bens das famlias igualmente feita por via de sucesso matrilinear17, passando do tio materno para sobrinho ou sobrinha; ao contrrio, no sul do pas (Inhambane, Gaza e Maputo) a transmisso do poder por sucesso patriarcal, ou seja, de pai para filho mais velho ou de irmo mais velho para mais novo18. As normas tradicionais das sociedades matrilineares tm vindo a transformar-se em resultado do contacto com outros povos e culturas, migraes rural-urbanas procura de melhores condies de vida, e tambm do crescimento populacional que leva a uma interpenetrao e integrao de novos aspectos culturais. Em determinados casos, embora a sociedade seja de natureza
14 Nas reas que no correspondem s autarquias municipais, compete aos Governadores Provinciais a aprovao de pedidos de uso e aproveitamento da terra de reas cujo limite mximo de 1 .000 hectares. J os pedidos de uso e aproveitamento para reas compreendidas entre 1 .000 e 10.000 hectares ou que ultrapassem os 10.000 hectares so autorizados pelo Ministro que superintende a rea da Agricultura e Pescas e pelo Conselho de Ministros, respectivamente (art. 22 lei 19/97 de 1 de Outubro). O prazo para obteno do DUAT de 90 dias, no mximo, embora, em termos prticos, este se estenda por muito mais tempo, condicionando os investimentos e as actividades dos requerentes. 15 De acordo com a lei de terras (art. 18), o no cumprimento do plano de explorao ou projecto de investimento nos prazos estabelecidos, sem apresentao de nenhuma justificao, leva automaticamente extino do DUAT e reverso das terras para o Estado, ainda que o titular tenha pago todos os impostos. 16 Declarao recolhida a 09/11/2014 em Nampula junto a um voluntrio da Sociedade Civil. 17 Os rgulos ou as rainhas so as figuras que representam o poder tradicional nestas sociedades. Eles representam, juntamente com os secretrios de bairro, as autoridades tradicionais de 1 escalo. Fazem parte das autoridades tradicionais de 2 escalo os cabos de povoao , enquanto os chefes de povoao representam as autoridades tradicionais de 3 escalo. Os rgulos colaboram com as autoridades administrativas locais na gesto e resoluo de conflitos e no processo de mobilizao das comunidades para participarem nas consultas comunitrias. 18 Sobre os sistemas costumeiros da terra existentes em Moambique vide Negro (2000).
-
9
matrilinear, as prticas que actualmente prevalecem so tpicas das sociedades patrilineares, ou seja, se inicialmente as mulheres permaneciam nas terras familiares aps o matrimnio, actualmente h uma maior mobilidade destas que, ao contrair matrimnio, mudam-se para as terras do marido de quem passam a depender e onde passam a produzir. Ademais, verifica-se uma crescente diferenciao do trabalho sendo que as mulheres continuam a dedicar-se produo agrcola, os homens para alm da actividade agrcola, ocupam-se pelo comrcio informal ou pelo trabalho nas empresas privadas. Na orla, os homens dedicam-se com maior intensidade actividade pesqueira, enquanto os jovens praticam cada vez mais a minerao artesanal (garimpo), sobretudo em algumas das regies visitadas como Memba, Nacala-a-Velha e Nacala-Porto, por exemplo. Devido sua localizao estratgica, aos recursos (minerais e pesqueiros) e paisagem peculiar, estas regies tm atrado a ateno de vrios investidores com interesses, sobretudo, nas reas turstica e industrial. S em Nacala Porto, entre 2009 e 2015 foram aprovados pelo GAZEDA19 15 projectos de investimento na rea turstica, cujos principais pases de origem dos investimentos foram Portugal, Itlia, frica do Sul, Emirados rabes Unidos e alguns capitais nacionais. Nas zonas localizadas nas proximidades das grandes empresas industriais, estabelecimentos tursticos ou das minas (garimpos), verifica-se um abandono, pelas famlias, da produo de culturas para venda no mercado, transformando-se estas em trabalhadores assalariados das empresas. Noutros casos, os camponeses produzem culturas de rendimento promovidas pelas empresas, como o algodo, a soja e o tabaco, ou, ento, concentram-se no ramo da extraco mineira artesanal. Portanto, a agricultura, que inicialmente representava a principal actividade das comunidades, torna-se cada vez mais uma actividade secundria, de fim-de-semana, sendo priorizadas as outras actividades acima mencionadas. Embora esta migrao de uma actividade econmica para outra resulte, em certos casos, numa melhoria significativa do padro de vida das famlias, traduzida pela posse de casas melhoradas (alvenaria) e de outros bens pessoais como motorizadas, aparelhos de energia solar e outros electrodomsticos, esta traz algumas implicaes no negligenciveis ao nvel da segurana e soberania alimentares das famlias na medida em que estas j no produzem o que consomem, passando a consumir produtos agricultados por terceiros e/ou o que o mercado oferece. A migrao da mo-de-obra jovem, masculina, camponesa para a minerao artesanal tambm preocupante, no s porque as minas so exploradas ilegalmente, mas tambm porque o garimpo feito sem nenhum tipo de cuidado, representando um enorme risco para a sade de quem pratica a actividade e um dano para o meio ambiente.
19 O Gabinete das Zonas Econmicas de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA) uma instituio do governo criada em 2007, sob tutela pelo Ministrio da Planificao e Desenvolvimento , cujo objectivo gerir e promover o desenvolvimento das Zonas Econmicas Especiais (ZEE) e Zonas Francas Industriais (ZFI). Uma ZEE uma rea geogrfica regida por um regime aduaneiro especial, cujo objectivo promover o desenvolvimento das regies, gerar benefcios econmicos, divisas e postos de trabalho para o pas. Todos os distritos de Nacala-Porto e Nacala--Velha (1307 km no total) constituem a Zona Econmica Especial de Nacala, gerida pelo GAZEDA.
-
10
Figura 2: Residncia de um garimpeiro em Memba. Em cima da cadeira est um painel solar.
3.2 Consultas Comunitrias Um dos principais avanos da actual Lei de Terras foi o reconhecimento do papel das comunidades na gesto dos seus prprios recursos naturais, resoluo de conflitos, e no processo de consulta comunitria, que antecede qualquer nova concesso de terras, quer para a realizao de actividades econmicas ou para fins de atribuio de espaos a novos ocupantes que no pertenam a uma determinada comunidade. Incorporando esta dimenso da consulta comunitria20, a lei de terras moambicana reconhece, igualmente, como pressuposto fundamental, a necessidade de continuamente conciliar as normas tradicionais e as normas modernas, como forma de preservar os direitos de acesso terra pelas comunidades locais e categorias sociais mais vulnerveis e evitar conflitos com os novos ocupantes, permitindo que, localmente, as pessoas se apropriem do processo de desenvolvimento, identificando e resolvendo os seus prprios problemas. A consulta comunitria uma reunio pblica realizada na presena de membros e representantes das comunidades locais, autoridades administrativas locais, investidores ou requerentes e outros interessados. A consulta consiste na apresentao, discusso e auscultao das comunidades em relao ao seu interesse, ou no, na implantao de um determinado projecto de investimento dentro dos limites da rea que corresponde s terras comunitrias. A consulta pretende ainda identificar a existncia, ou no, de ocupantes ao longo da extenso requerida pelos novos ocupantes, para que, uma vez aceite o projecto de investimento, possam ser discutidas as condies de indemnizao ou compensao dos membros cujos bens (casas, culturas, animais, campas, etc.) esto na rea pretendida. A consulta comunitria obrigatria e pode ser realizada numa nica ou em vrias sesses, dependendo do nvel de resistncia ou aceitao que as comunidades manifestem, visto que estas tm a prerrogativa de aceitar ou refutar a chegada de novos ocupantes s suas comunidades (Remane, 2009). Caso a comunidade concorde, uma acta assinada por um mnimo de trs e um mximo de nove homens e mulheres representantes desta e tambm pelos ocupantes de terrenos prximos mesma.
20 Art. 13 nmero 3, lei 19/97 de 1 de Outubro.
Figura 1: Residncia de um campons em Memba.
-
11
No entanto, embora as disposies para a realizao da consulta comunitria estejam uniformizadas na lei, existe um desfasamento entre os mecanismos formais previstos e as prticas efectivas dos actores. Os arranjos e alianas de poder e com o poder poltico, por vezes margem das normas, feitos pelos actores a todos os nveis levam a que as decises tomadas nas consultas e as actividades executadas sejam feitas em benefcio dos actores em posio privilegiada (altos funcionrios do Estado a nvel central e local, membros influentes do sistema do poder, funcionrios intermdios, funcionrios dos servios de cadastro, autoridades comunitrias, etc.), em detrimento das comunidades locais. Os exemplos colhidos nas reas estudadas mostram que muitos dos conflitos de terra envolvendo comunidades, investidores e Estado resultam da falta de realizao da consulta comunitria ou ainda da pouca clareza nas informaes transmitidas durante a mesma, gerando diferentes interpretaes e expectativas entre as populaes. De uma reunio pblica, a consulta comunitria , por vezes, reduzida a uma conversao ordinria entre requerentes e indivduos com informao ou posies privilegiadas, onde a populao , de seguida, persuadida a ceder as suas terras a favor dos novos ocupantes, sem a sua compreendo do que esto a ceder e para qu. A ocupao de cargos de liderana e chefia dentro do sistema de poder (a todos os nveis) confere aos actores implicados nos arranjos ou negociaes com novos ocupantes privilgios prestgio e outros tipos de benefcios (materiais e simblicos), o que, por sua vez, permite-lhes legitimar o seu poder e perpetuar a sua dominao. Quanto mais importante for o cargo que os indivduos ocupam na hierarquia de poder, maior ser a sua influncia nos processos de negociao e maior ser a tendncia de excluso de outros actores, inferiormente colocados na estrutura de poder, como os rgulos ou outras autoridades tradicionais. Estes ltimos reduzem-se, portanto, a meros legitimadores de quimeras processuais, tal como referiu um rgulo21:
Existe uma coordenao nossa (rgulos) com o Governo na parte das terras; mas (esta coordenao) no geral. H coisas que o Governo faz na minha rea sem que eu, como dono e responsvel das terras, saiba (...) S acompanho que este stio j foi vendido ou que algum ocupou aquele lugar (...) Por exemplo, um investidor foi ocupar um terreno...negociou com o Governo e o dono do terreno, sem meu conhecimento; s ouvi que devia ir fazer a consulta comunitria. Chamaram-me somente para assinar o papel (acta). Por lei no devia assinar; mas, para afastar barulho e por respeito s estruturas (administradora) que l estavam, aceitei assinar.
3.3 Land grabbing e segurana de posse da terra Nos actuais debates sobre a terra em Moambique, e noutros pases em desenvolvimento, a questo da segurana de posse assume, junto com o acesso terra, uma importncia crescente, quer para os camponeses, principais utilizadores do recurso terra, quer para os Estados, Organizaes da Sociedade Civil, acadmicos e consultores, que se tm concentrado nos melhores mecanismos de proteco dos direitos terra. A segurana de posse da terra corresponde ao conjunto de regras e normas (formais e informais) que regulam o acesso, uso e gesto da terra, e que atribuem a quem a explora direitos sobre o seu uso e ocupao, bem como autonomia de produo e comercializao, independentemente da fonte (Estado ou tradio) de que emanam tais normas (Diop, 2007). Considerada pelos camponeses o garante da estabilidade social, econmica, cultural e antropolgica das famlias, a segurana de posse da terra permite que, na disponibilidade de recursos, conhecimento e meios tcnicos necessrios, os camponeses possam investir de forma contnua na terra, aumentando,
21 Declarao recolhida em 04/18/2015.
-
12
desta forma, a sua produo e produtividade, garante melhores condies de negociao em caso de deslocaes e oferece maior garantia para as iniciativas de investimento empresarial. Segundo Mathieu (1996), a segurana de posse depende da existncia de trs condies fundamentais: x Um espao disponvel para colocar os novos requisitantes ou para onde mudar as
comunidades, caso necessrio; x Comunicao entre os membros da comunidade ou grupo para a troca de bens,
significaes e negociar as condies da sua convivncia; e, x Uma autoridade forte e respeitada, capaz de arbitrar as competies que possam
emergir.
Os conflitos de terra que acontecem na hora actual resultam do facto de que as condies acima descritas no so observadas, quer pelos Estado e suas administraes (autoridade) assim como pelos novos requisitantes (espao) e comunidades (Mathieu, 1996). Estes actores, na tentativa de maximizar a concretizao dos seus interesses, mobilizam diferentes recursos e capitais (Bourdieu, 1987) gerando, desta forma, graves oposies e de difcil resoluo onde, na maioria dos casos, os indivduos bem posicionados socialmente, letrados e com poder financeiro conseguem facilmente fazer aprovar os seus interesses, em detrimento dos menos privilegiados quer em termos de escolaridade, informao assim como de recursos [Chaveau, 1998; Mathieu, 1996]. O grande crescimento populacional, o investimento crescente no agronegcio com a comercializao de commodities (cana-de-acar, soja, etc.) e o fenmeno de aquisies de grandes reas de terra nos pases em desenvolvimento esto entre os factores que concorrem para a instaurao de um sentimento de insegurana de posse nas populaes destes pases, dos quais Moambique faz parte, sentimento este que se traduz, entre os nossos entrevistados, pelo medo de perder as suas terras. Embora antigo, o Land grabbing, accaparement des terres, ou usurpao de terras 22 tem actualmente assumido propores colossais escala mundial e uma preocupao crescente para os pases afectados que, com as crises alimentar e financeira de 2007/2008, viram uma parte significativa de seus recursos fundirios passarem para as mos de (i) Estados que procuram assegurar a sua segurana alimentar (Arbia Saudita, ndia, China, Japo, etc.); (ii) grandes corporaes financeiras com interesses especulativos; e (iii) de outros operadores agroindustriais com interesses no progresso tecnolgico e na segurana energtica dos seus pases [Cotula et al., 2009; Borras et al., 2010; Liberti, 2013]. Moambique o terceiro dos onze pases mais afectados pelas transaces fundirias em frica (56,2 milhes de hectares), a seguir ao Sudo e Etipia (Anseeuw, et. al, 2012), tendo j sido transferidos para pases e investidores (estrangeiros e nacionais) cerca de 2,7 milhes de hectares
22 As expresses usadas para dar conta deste fenmeno so diversas e, isso, segundo a anlise de cada grupo de autores. O Banco Mundial fala em aquisio de terras em grande escala, as organizaes da sociedade civil e camponesas em neocolonialismo agrrio ou pirataria alimentar; gegrafos e estudiosos em novo imperialismo, presses comerciais sobre a terra ou realocao agrcola. Essas expresses pretendem, em comum, dar conta do fenmeno de compra ou aluguer (50 a 99 anos) de grandes extenses de terra, destinadas produo agrcola comer cial e/ou industrial pelos governos ou investidores privados de pases desenvolvidos e emergentes, junto aos governos dos pases do Sul e que, no exerccio das suas actividades, excluem outros potenciais beneficirios (FIAN, 2010). O Land Grabbing pode igualmente resultar da aco dos Governos dos pases-alvo ou envolver outros indivduos nacionais integrantes dos sistemas de poder.
-
13
de terras do total de 36 milhes hectares arveis de que Moambique dispe [Cotula et. al., 2009; Deininger et. al, 2010]23. Os elevados ndices de ociosidade das terras concessionadas (cerca de 50%) deixam antever, por um lado, as agendas ocultas dos pases ocupantes (especulao ou privatizao futura) e, por outro lado, a fraca capacidade institucional e estrutural do pas para fiscalizar o cumprimento dos planos de explorao submetidos aos servios de cadastro, bem como a sua pouca operncia na reverso daquelas terras a favor do Estado24. Para alm da aquisio de novas extenses de terra, o Land Grabbing em Moambique assume a forma de recuperao de propriedades de colonos abandonadas por estes aps a nacionalizao das terras com a independncia e o incio da guerra civil. Algumas das terras destas propriedades foram intervencionadas transformando-se em grandes machambas estatais e outras deixaram de produzir por causa da guerra e ainda pelo fraco investimento no sector agrrio no perodo ps-independncia, a falta de tecnologias e os fracos nveis de investigao em matria agrcola (Rosrio, 2012). A guerra civil termina em 1992 e, ento surge um movimento de pessoas que, tendo abandonado as suas terras, procuravam regressar e reocupar os seus espaos. Este processo de assentamento das pessoas e das comunidades camponesas resultou, no s na ocupao das terras familiares, como tambm das terras das antigas machambas estatais25 e das propriedades dos antigos colonos que tinham falhado no seu propsito (no caso das primeiras) ou sido abandonadas (no caso das segundas). Com a valorizao da terra nas ltimas dcadas, vrios so os antigos proprietrios colonos que procuram territorializar-se, reclamando os seus direitos sobre as terras ocupadas pelas comunidades locais por falta de uso, desterritorializando estas ltimas, legtimas proprietrias, por boa-f, das terras disputadas 26 . Quanto s terras das antigas machambas estatais, estas constituem grande parte das terras actualmente atribudas aos investidores pelas autoridades administrativas, mesmo nos casos em que j existam ocupantes h pelo menos dez anos que, ao abrigo da lei, passaram a beneficiar de direitos de uso e aproveitamento sobre as mesmas:
As nicas reas que ns disponibilizamos para estas grandes empresas, so reas que no tempo colonial foram usadas como farmas, so antigas machambas grandes (...) Ento, o que ns fazemos em reas de antigas grandes empresas como estas, quando no h um projecto ou um investidor como estes, nos dizemos s comunidades que podem fazer machambas de
23 Segundo o relatrio Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South (2012), j foram efectuadas cerca de 1217 transaces fundirias em todo o mundo, ou seja, 83,2 milhes de hectares de terras transaccionados, o que equivale a 1,7% da superfcie agrcola mundial. Deste total, mais de metade aconteceu nos pases em desenvolvimento, sendo a frica a regio mais afectada (56,2 milhes de hectares) comparada sia (17,7 milhes de hectares) e Amrica Latina (7 milhes). No entanto, esses dados devem ser considerados com cautela pois, como nota Pearce (2012), muitas das transaces so realizadas secretamente o que significa que os nmeros vo alm dos dados apresentados nos relatrios. 24 Dentre os pases de origem do investimento que j adquiriram grandes extenses de terra em Moambique figuram Portugal, Brasil, frica do Sul, Reino Unido, Estados Unidos da Amrica e Ilhas Maurcias. As concesses destinam-se produo de biocombustveis, agricultura, florestas e fazendas de bravio. 25 As machambas estatais eram empresas de produo basicamente para exportao cujas terras, abandonadas pelos colonos, tinham inicialmente pertencido aos camponeses, das quais foram expulsos pelo poder colonial portugus. Portanto, as machambas estatais resultaram da nacionalizao das terras dos camponeses aps a independncia. Com o fracasso da poltica agrria do partido Frelimo na sua fase de transio socialista (1977-1983), estas foram recuperadas e ocupadas pelos camponeses (Bowen, 2000). 26 Sobre territorializao e desterritorializao vide Fernandes, et al. (2014).
-
14
culturas anuais porque para ns importante conseguirmos investidores para aquelas reas de modo que tambm criem alguns postos de trabalho e alguns melhoramentos como energia, por exemplo27.
As concesses so justificadas nos discursos, quer dos investidores, quer das autoridades administrativas, como sendo uma soluo para o desenvolvimento nacional e modernizao das comunidades, que podero, deste modo, recuperar dos muitos anos de precariedade e atraso de crescimento em que se encontram. No entanto, os interesses dos investidores no consideram as necessidades de outros usufrutrios, como o caso das comunidades que dependem da terra para a sua subsistncia. Estas so excludas dos processos de negociao, privadas do seu direito natural de acesso terra e, por vezes, afastadas de parte ou totalidade das terras por elas ocupadas costumeiramente, como referiu um campons:
A comunidade sempre teve terras aqui em Nacololo que foram deixadas pelos nossos antepassados. Toda a populao desta rea cultiva aqui. Mas esse senhor sul-africano veio e j comeou a arrancar as nossas machambas. Quando ele chegou no houve consulta comunitria; s alguns lderes que receberam dinheiro. Ele j tem DUAT de mais de 1000 hectares (...) e, mesmo assim, quer ocupar as nossas terras para cultivar soja (...) sem, pelo menos, dar emprego s pessoas da comunidade. (Ns) temos medo de perder as nossas terras. Nossa nica confiana essa terra; se no tivermos terra, onde vamos cultivar? O que vamos comer?28
Portanto, procura de terra e insegurana de posse esto correlacionadas. O aumento da primeira cria uma presso que leva necessariamente ao surgimento da segunda, o que significa que crescente demanda de terras contrapem-se a insegurana e os conflitos resultantes, em grande medida, das deslocaes que os projectos de investimento provocam para a implantao dos seus empreendimentos e da no-significao com os novos lugares para onde as populaes so transferidas. Disto se pode depreender que no , portanto, a disponibilidade do espao (Mathieu, 1996) a principal causa da insegurana de posse, mas sim as condies geolgicas, infra-estruturais e antropolgicas finais para onde so deslocadas as comunidades transferidas, que no se equiparam e muito menos superam as condies iniciais em que aquelas estavam instaladas. Os solos so de baixa (ou menor) qualidade produtiva, a habitao melhorada mas de fraca qualidade e sem considerao do tamanho e tipo de famlias (monogmicas ou poligmicas), os novos mercados localizam-se longe dos centros habitacionais dos produtores, as vias de acesso so construdas, porm, sem servios de transporte, e os servios de sade e educao no tm profissionais especializados devido falta de atractividade das regies onde se localizam estes novos reassentamentos. O reassentamento no obedece aos aspectos culturais, antropolgicos, hbitos e costumes das
27 Entrevista com um funcionrio da administrao local de Monapo, em 13/11/2014. 28 Declarao recolhida junto aos camponeses da localidade de Nacololo, distrito de Monapo, provncia de Nampula, em 23/04/2015. A comunidade est em conflito h mais de dois anos com a empresa Alfa Agricultura, pertencente a um investidor sul-africano. A empresa obteve um DUAT de 1000 hectares numa rea de uma antiga propriedade colonial ocupada pela comunidade depois dos acordos de paz em 1992. A rea concedida coincide com algumas ocupaes da comunidade e, embora alguns membros desta tivessem DUAT individual, a empresa vedou o acesso s machambas comunitrias. Outra empresa, igualmente em disputa com a comunidade em Monapo, a Amarula Farms, de origem Mauriciana. Esta empresa obteve o DUAT duma rea de 700 hectares, destinada ao desenvolvimento da agricultura. No entanto, a empresa pretende ocupar 10 hectares adicionais para construo de infraestruturas, numa rea onde h residncias e culturas familiares.
-
15
comunidades que tm na terra um elemento de ligao e adorao aos antepassados. Ainda que as famlias sejam compensadas pelas benfeitorias (culturas, rvores, casa, etc.), elas no o so pelos elementos no tangveis (sepulturas, por exemplo), gerando assim resistncia e conflitualidades. Onde existe, a insegurana de posse resulta igualmente da falta de confiana nas instituies, resultado da fraca capacidade institucional e operacional destas em monitorar os processos, assegurar o cumprimento das promessas feitas pelos novos ocupantes (escolas, casas melhoradas, emprego, hospitais, etc.) e resolver conflitos. A dimenso destes ltimos, a forma por vezes violenta com que acontecem e os seus efeitos no modo de vida e estruturao das comunidades, tm servido para reproduzir, em escalada, o sentimento de insegurana, mesmo em comunidades distantes da conflitante, onde a chegada de qualquer ocupante externo quela , a priori, considerada uma ameaa potencial29. Para evitar a usurpao de terras pelos novos ocupantes e garantir a segurana de posse, as comunidades camponesas optam pelo associativismo e excluso de novos concorrentes pelo acesso terra. Organizando-se em associaes, as comunidades camponesas conseguem controlar de forma ordenada o acesso s suas terras, aceder ao crdito e dialogar com o Governo e outras Organizaes da Sociedade Civil (OSCs). A organizao em blocos de produo permite responder falta de factores de produo, tecnologias e insumos agrcolas, garantindo uma partilha de esforos e de benefcios. Ademais, com a crescente concorrncia pela terra, a pertena a uma associao permite aces de proteco dos direitos dos membros, como a identificao de novos ocupantes e a excluso destes, caso os projectos por si apresentados constituam um risco para a segurana de posse de terra das famlias, o que individualmente seria pouco eficaz. A segurana de posse tambm garantida por meio das provas testemunhais ou pelo registo dos direitos dos ocupantes. No entanto, embora reconhecidas, as provas testemunhais, orais, so provisrias, insuficientes e, por vezes, vazias sobretudo em contextos de grande presso sobre a terra como o actual. As normas escritas prevalecem sobre as orais e, com isto, a posse de um ttulo registado junto aos servios de geografia e cadastro - o DUAT-, embora no evite que os seus detentores percam suas terras, como se tem registado, permite melhores condies de negociao e compensao30 em casos de reassentamento ou tentativas de usurpao de terras, inclusive por membros da prpria comunidade que se aliam aos poderes financeiros:
As pessoas que procuram terra no so daqui. Elas se aliam s pessoas influentes naturais daqui. Da que este natural conhecido procura os lugares como sendo ele o interessado. Ele negoceia com as famlias, promete
29 O reassentamento realizado pela empresa Vale Moambique e que resultou, em 2012, num grave conflito envolvendo as comunidades, investidor e Estado, teve repercusses em vrias partes do pas, o caso mais mediatizado. Esta empresa que explora carvo mineral em Moatize, transferiu cerca de 760 famlias que residiam nas proximidades da mina de para Cateme, uma localidade situada a 40 km da vila de Moatize onde construiram casas modelo. A falta de cumprimento das promessas feitas pela empresa, entre as quais, acesso a gua, construo de escolas, proviso de empregos e a mudana para locais prprios prtica da agricultura levaram ecloso de um conflito que culminou com a paralisao da circulao na estrada e na linha frrea e uma represso policial aos manifestantes. 30 A compensao pode ser monetria ou material (reassentamento), dependendo da escolha do visado. Nos dois casos, tem-se em conta as benfeitorias (culturas, infraestruturas) encontradas dentro do espao pertencente s famlias. Identificadas as benfeitorias, so feitos os clculos com base na tabela aprovada pelo Ministrio da Agricultura e Segurana Alimentar, em anexo, e/ou atribudo famlia o valor para a aquisio de um novo espao, construo da habitao e reposio das culturas, ou, ento, o investidor identifica, com ajuda da administrao, um local para inst alar a famlia e construir a respectiva habitao.
-
16
financiar (compensar) coisas, cajueiros (...) porque sabe que imediatamente ter aquele terreno.31
Factores como o grande desconhecimento da lei, a falta de informao para que as pessoas possam defender os seus direitos, e a corrupo de alguns membros influentes das prprias comunidades concorrem para que muitas comunidades no tenham os seus direitos registados junto administrao do Estado, colocando-as, assim, numa situao de vulnerabilidade e risco de perder seus espaos. A falta de informao sobre a lei maior nas regies do hinterland (interior), onde as vias de acesso e a rede de infra-estruturas so deficientes e a aco de organizaes de advocacia e defesa dos direitos das comunidades limitada. Nas regies melhor servidas, em termos de infra-estruturas sociais, e prximas do litoral, visvel um certo conhecimento sobre os assuntos ligados terra articulado com uma maior insegurana devido aos projectos tursticos e industriais em expanso e, portanto, uma maior resistncia por incluso de novos ocupantes. 3.4 Sobre a privatizao da Terra O debate sobre a privatizao da terra em Moambique est profundamente ligado ao regime de propriedade da terra em vigor em Moambique desde a independncia nacional, altura em que o pas nacionalizou a terra e determinou a propriedade estatal sobre todos os recursos naturais. A privatizao da terra corresponde a um processo de passagem do regime de propriedade pblica da terra para um regime de propriedade privada, um cenrio que ope diferentes grupos de actores, nacionais e outsiders, quanto ao seu enquadramento jurdico, sua pertinncia e as suas modalidades no contexto moambicano. Com uma viso colectivizadora, encontramos a administrao do Estado (Ministrio da Agricultura), organizaes camponesas e OSCs que actuam na rea de advocacia e defesa dos recursos naturais que, em conjunto, consideram a terra um bem comum que deve ser gerido pelo Estado. Este se encarregar de garantir o direito de acesso terra a todos os indivduos e fixar as condies de sua utilizao considerando sempre os direitos dos grupos sociais mais vulnerveis. Estes stakeholders defendem que uma mudana para um regime de propriedade privada da terra em Moambique conduziria concentrao de grandes extenses de terras nas mos de elites, nacionais e estrangeiras, com forte capital financeiro e, paralelamente, levaria excluso dos grupos socialmente desfavorecidos. Com a privatizao retirar-se-iam as melhores terras das mos dos seus principais utilizadores, isto , dos camponeses, que deixariam de poder produzir para a sua subsistncia, resultando numa grande insegurana alimentar, migraes rural-urbanas, e exrcitos de pessoas sem terra, como referiu a UNAC32:
Retirar a propriedade da terra do Estado para o controlo de um outro sector (...) privado, pode criar uma anarquia e um uso pouco responsvel da terra. A terra, numa situao de privatizao, se transformaria num bem transaccionvel e, que traria benefcios financeiros imediatos; mas que a longo prazo traria efeitos nefastos pois este o nico recurso que as famlias no meio rural possuem. Interessa ao campesinato que a terra continue propriedade do Estado e os cidados e outros interessados adquiram o direito de uso e aproveitamento que, indiretamente, permite uma apropriao pelos prprios camponeses.
Embora coincidentes com a administrao do Estado no que concerne manuteno da propriedade deste sobre a terra, as organizaes camponesas consideram o papel do Estado na gesto e administrao da terra ainda incipiente, pouco eficaz na gesto e resoluo de conflitos
31 Entrevista a um rgulo no distrito de Memba em 18/04/2015. 32 Unio Nacional dos Camponeses. Entrevista realizada em 12/03/2015.
-
17
e enfraquecido por prticas pouco transparentes como a corrupo, clientelismo e nepotismo. Consideram ainda estar em curso um processo de acumulao de terras por parte de capitalistas emergentes, com alianas ou posies estratgicas dentro do prprio Estado, que adquirem grandes extenses de terra que permanecem ociosas, na perspectiva de especulao e de, uma vez satisfeitos os seus interesses de acumulao, levantar o debate da privatizao e, posteriormente, colocar aquelas terras venda. Alguns acadmicos, com uma viso mais evolucionista, defendem que numa economia capitalista, como a Moambicana, a privatizao da terra seria a direco natural para a qual caminharia o pas, que permitiria maior iniciativa de investimentos e flexibilizaria o acesso ao crdito pois a terra seria usada como um colateral. Ademais, a privatizao conferiria maior segurana de posse visto que os ttulos de propriedade seriam mais valorizados e permitiriam que os proprietrios das terras pudessem decidir sobre o uso e finalidade das suas terras, assim como assumir os custos da sua utilizao. Ao Estado caberia regular, arbitrar e gerir as relaes entre os utilizadores, garantir o respeito pelos direitos das comunidades, integrando-as no processo de negociao com os novos ocupantes. A privatizao resultaria numa mudana e desenvolvimento institucionais pois o Estado melhoraria os servios de cadastro e criaria instituies vocacionadas no mapeamento das terras ocupadas, como referiu um dos entrevistados:
J h espao para o privado, mas (...) h uma diabolizao da privatizao. No me parece que seja possvel estruturar uma economia de mercado harmonizada como acontece num pas mais desenvolvido, se ns no definirmos os direitos de forma clara. A privatizao obrigaria o Estado a desenvolver instituies vocacionadas para estruturar e gerir os direitos de apropriao, no mais como proprietrio, mas, sim, como regulador33.
Com uma abordagem neoinstitucionalista, encontramos as associaes econmicas e consultores no sector agrrio que defendem a possibilidade de se adoptar um modelo de semi-privatizao da terra em Moambique. Neste modelo, identificar-se-iam algumas categorias de terras com alto potencial produtivo exceptuando espaos que constituem as zonas de proteco total (reas de conservao da natureza e de defesa do Estado) e especial que poderiam ser concessionadas para fins de investimento agrcola ou industrial. Estas regies possuiriam um estatuto diferente das outras pois estas seriam susceptveis de apropriao privada, enquanto as outras permaneceriam propriedade do Estado. Os interessados poderiam negociar entre si, transaccionando direitos sobre a terra e seria reconhecido o arrendamento como forma de garantir que os grupos socialmente desfavorecidos no percam as suas terras:
No iria por uma privatizao geral e absoluta da terra pois os fundamentos que ditaram o princpio da no-privatizao prevalecem. Talvez haja espao para que algumas categorias de terras possam ser transferidas para o domnio da propriedade privada, excepto reas de conservao, reservas de terras de domnio pblico, ou de outro tipo de domnio pblico (...) H espao para considerarmos um regime de propriedade de terra que nos permita categorizar diferentes situaes e (...) assegurar que os mais pobres e vulnerveis no percam as suas terras aliciados por somas de dinheiro e que no tenhamos pessoas sem-terras.34
Visto que a continuidade da propriedade estatal depender das relaes de fora polticas e eco-nmicas no seio do poder e das alianas econmicas ou da presso do capital e de algumas orga-
33 Entrevista realizada em junto a um acadmico em 19/03/2015. 34 Entrevista recolhida junto a um consultor na rea agrria em 23/03/2015.
-
18
nizaes internacionais (Mosca, 2014: 5), as trs concepes apresentadas consideram impor-tante, apesar da divergncia nas suas abordagens, a necessidade de proteger os direitos das comu-nidades locais e outros grupos socialmente desfavorecidos. 3.5 Sobre a mercantilizao da terra Nos actuais debates sobre a terra em Moambique, a emergncia de um mercado de terras uma das mais importantes questes discutidas. O conceito de Mercado de terras refere-se, no s ao conceito economicista de local fsico de encontro para fins de compra e venda (Polanyi, 1983), mas tambm s transaces de bens e de direitos adquiridos sobre a terra realizadas atravs de um acordo voluntrio entre dois indivduos ou grupos de indivduos (Negro, 2004). A mercantilizao da terra corresponde, portanto, a um processo de transformao desta em uma mercadoria susceptvel de venda e alienao (Lavigne-Delville e Karsenty, 1998). Para que a terra seja considerada um bem de capital transaccionvel, duas condies se impem: primeiro, esta deve ter um valor monetrio de troca determinado no mbito do mercado e, segundo, ela deve ser susceptvel de ser apropriada e alienada discricionariamente visto que a propriedade impe o facto de dispor das coisas da maneira mais absoluta (Le Roy, 1995). Em Moambique a terra no tem um valor monetrio de troca na medida em que a lei probe a sua venda, alienao, hipoteca ou penhora, mas possui um valor de uso determinado pelas suas qualidades intrnsecas ou atributos naturais (qualidade do solo, localizao, dimenso, interesse social e cultural), que concorrem para a converso do valor de uso em valor de troca e, portanto, transformao desta num bem transaccionvel. O processo de liberalizao econmica, o aumento populacional e a pauperizao crescente de uma parte desta, a promoo de grandes investimentos na rea do agronegcio e da indstria extractiva com o objectivo de modernizar e acelerar o desenvolvimento dos pases, contribuem para acelerar e difundir os processos de mercantilizao da terra, uma vez que os grupos mais vulnerveis da sociedade podem ser conduzidos a vender as suas terras como forma de responder aos baixos rendimentos e falta de proteco social (Lavigne-Delville & Durand-Lasserve, 2009). Uma tendncia recorrente em muitos pases que ainda que a compra e venda da terra no sejam formalmente permitidas, estas existem e constituem preocupao para muitas Oganizaes da Sociedade Civil, populaes e administraes de Estados como o Burquina Fasso, Mali, Ruanda, Costa do Marfim e Moambique, por exemplo (Le Roy, 1995). Em relao a este ltimo, o estudo realizado por Negro (2004) sobre os mercados de terras urbanas no pas mostra que, embora proibidos por lei, existe um pouco por todo o pas um mercado de terras quer entre as elites urba-nas como entre as elites periurbanas e rurais. O valor da terra nesses mercados influenciado pela presena, ou no, de um ttulo de cadastro e pelos custos de acesso, sendo os preos nos mercados de terras rurais os mais baixos. Como referiu Negro, 2000 cf. Hanlon (2002: 15):
A terra nas comunidades rurais arrendada, vendida, cultivada a meias e transferida de vrias maneiras. Em geral, as rvores tm dono e, constituindo um bem importante, so compradas e vendidas; por vezes, a terra tambm transferida. Mas normalmente estas transferncias s ocorrem no seio da comunidade e no pem em perigo os bens essenciais do grupo; uma prova emprica disto o facto de, normalmente, o campons no vender a sua parcela de terra bsica.
Para o Banco Mundial a existncia dos mercados de terra desejvel visto que estes podem melhorar a eficcia das transferncias de terras e facilitar o acesso ao crdito para realizar investimentos. Reduzindo a assimetria de informao sobre a terra, as transaces de terra tornam-se menos custosas de implementar, aumentando assim a liquidez do mercado de terras e permitindo, assim, a transferncia das terras dos agricultores menos produtivos para os mais produtivos (Deninger & Binswanger, 1999).
-
19
No entanto, para os colectivistas, ainda que exista venda da terra, a legalizao dos mercados de compra e venda deste recurso resultaria na insegurana de posse para os camponeses que, na sua grande maioria, dependem da terra para a sobrevivncia. Os deficientes mecanismos de proteco dos direitos dos pequenos produtores resultariam numa grande massa de pessoas sem-terra e sem recursos financeiros, que se mudariam para as cidades, aumentando a criminalidade, o comrcio informal e trazendo problemas de insalubridade urbana:
Os camponeses numa situao de legalizao da venda da terra estaro inibidos de poder ter o direito que eles tm hoje e, a partir do momento em que ns teremos um cenrio destes, haver um processo de excluso no acesso e, esse processo de excluso, leva a uma situao de retirar o direito mais bsico (dos camponeses) que seria o direito alimentao, porque de l onde eles tiram seus alimentos. A UNAC est contra iniciativas de privatizao e os mercados de terra.35
J para os evolucionistas, h um mercado fundirio que poderia ser estruturado e valorizado em Moambique, sobretudo para a agricultura comercial. Para o seu funcionamento, definir-se-iam claramente as terras comunitrias e as reas comerciais, onde o Estado, no meio rural, ou as autarquias, no meio urbano, venderiam oficialmente a terra e as receitas reverteriam a favor daquelas instituies. Portanto, os mercados de terra criariam desenvolvimento pois as pessoas usariam a terra como colateral para aceder ao crdito, acelerariam o crescimento da agricultura, permitiriam maior transparncia nas transaces sobre a terra e confeririam maior segurana de posse. O importante neste processo de mercantilizao formal da terra fiscalizar os processos para evitar especulao, bem como proteger os direitos adquiridos por via costumeira, por forma a evitar o surgimento de camponeses sem-terra no pas:
H diariamente compra e venda da terra; a terra sempre teve um mercado (...) As autoridades municipais poderiam oficializar a venda de terra nas cidades e as receitas reverteriam a favor da autarquia (...) Dever haver zonas de expanso onde as pessoas de menos posse podero ter acesso terra, sem ter de pagar. No que respeita terra agrcola, o mercado de terra poderia criar desenvolvimento, as pessoas poderiam usar a terra como colateral para aceder ao crdito bancrio e, possivelmente, fazer crescer mais rpido da agricultura36.
Os (neo)institucionalistas consideram que o mercado de terras existente em Moambique assume a forma de mercado de benfeitorias pois estas, ao contrrio da terra, podem ser transaccionadas. O preo praticado por estas benfeitorias tem em conta, no o seu valor legalmente fixado, mas sim a localizao e dimenso do espao onde a benfeitoria est implantada, o tipo de infraestrutura ou actividade que se pretende realizar, e a existncia, ou no, de um ttulo de uso e aproveitamento da terra (DUAT). Estes defendem uma opo intermdia entre a legalizao e a no-legalizao dos mercados de terra, ou seja, o arrendamento. Com este sistema, os indivduos concederiam a ttulo temporrio precrio a sua terra a um arrendatrio, com a obrigao de pagar taxas ao Estado e rendas aos legtimos proprietrios da terra. Isto permitiria maior segurana de posse da terra, sobretudo no meio rural onde as pessoas j emprestam terras entre si. O reconhecimento do arrendamento permitiria ao Estado regular e tirar benefcios das transaces informais sobre a terra e impediria que as foras da procura e oferta determinassem discricionariamente o valor monetrio das benfeitorias e, portanto, da terra:
O mercado de terras existe indissocivel do mercado das benfeitorias. Uma
35 Entrevista a um dirigente da Unio Nacional dos Camponeses, realizada em 12/03/2015. 36 Declarao recolhida em 19/03/2015 de um membro das Associaes Econmicas.
-
20
parcela com atributos similares de solo, tamanho e forma tem preos (valores de troca) diferentes numa rea rural isolada, numa praia ou margem de rio ou no subrbio de uma cidade. Inclusive o regime de taxas segue esta lgica. A insistncia em no reconhecer esta realidade impede a regulao do mercado de terras, que no pode ser deixado simplesmente s foras da oferta e da procura, dada a sua natureza de bem apenas parcialmente substituvel com os esperados resultados perversos 37.
4. Concluso Os discursos e posicionamentos sobre o regime de propriedade da terra em Moambique so vrios e acompanham as estratgias de poder, interesses e ideologias dos diferentes actores, bem como as transformaes sociais, polticas e econmicas do pas. Se, por um lado, os discursos divergem quanto possibilidade de se privatizar a terra e legalizar os mercados de compra e venda deste recurso, por outro lado, estes so unnimes ao considerar que, independentemente do regime de propriedade que for adoptado (Estatal, privado ou semi-privatizao), necessrio definir claramente os mecanismos de proteco dos direitos das comunidades camponesas que dependem da terra para a sua subsistncia, por forma a evitar problemas de insegurana alimentar e excluso ou estratificao social. medida que o interesse pela terra e outros recursos naturais aumenta, maior a presso sobre a terra e para a formalizao dos direitos de posse das comunidades que acompanhada por outras estratgias de associao ou resilincia penetrao de novos ocupantes. Esta presso produz implicaes considerveis a nvel da segurana de posse de terra das famlias, que temem perder as suas terras, do Estado, que se v obrigado a reforar a sua capacidade institucional de gesto da terra, e, tambm dos prprios investidores, que retraem ou aumentam os seus investimentos em funo da estabilidade poltica, econmica e social do pas onde investem, e do quadro legal em vigor nestes. As mulheres, por representarem a maior percentagem dos produtores agrcolas e gozarem de menos direitos, so as que mais sofrem os efeitos da presso sobre a terra e, portanto, as mais vulnerveis perda das suas terras. H evidncias de que um enfoque numa governao participativa do recurso terra, atravs duma maior incluso das comunidades locais na gesto directa dos recursos e resoluo de conflitos, bem como o reconhecimento, pelo Estado, dos direitos costumeiros de ocupao da terra, pode permitir uma maior proteco dos direitos das comunidades em casos de tentativas de invaso. O registo dos direitos de ocupao costumeiro e de boa-f, aliado ao reforo do poder das autoridades a nvel local permitiro, igualmente, uma maior transferncia de competncias e obrigaes e um controlo efectivo dos direitos das comunidades, evitando o aambarcamento de terras e garantindo melhor negociao com terceiros. Perante o aumento do investimento no meio rural e, consequentemente, da presso para a a expanso do mercado da terra j existente, quais sero as possibilidades de vigncia ou de alteraes da actual lei? Se existirem alteraes, e com base nos diferentes posicionamentos reflectidos neste trabalho, ser possvel deduzir quais as foras polticas, econmicas e sociais que suportaro uma tal possibilidade. Do mesmo modo, ainda possvel prever o tipo de resistncias face a essa eventualidade e os riscos da decorrentes.
37 Declarao recolhida junto a um investidor na rea agrria, em 10/03/2015.
-
21
BIBLIOGRAFIA
Anseeuw, W. et al. (2012). Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South. Analytical report based on the Land Matrix Database, CDE, CIRAD, GIGA, GIZ, ILC. [Em linha] Disponvel em . Acesso em 04 Dezembro 2014. Berthoud, A. (2008) La Terre, notre bien commun, Dveloppement durable et territoires [Em linha], Points de vue, Disponvel em Acesso em 10 de Maro 2012. Badouin, R. (1974). Rgime Foncier et dveloppement conomique en Afrique intertropicale. Londres: Land Tenure Center-University of Wiscobsin-Madison N112-F. Borras Jr., et al. (2010) The politics of biofuels, land and agrarian change: editors' introduction, Journal of Peasant Studies, XXXVII (4). pp. 575-592. Bourdieu, P. (1987). Choses dites. Paris: Les ditions de Minuit. Bowen, M. L. (2000). The State against the Peasantry. Rural struggles in colonial and postcolonial Mozambique. Charlottes-ville : The University Press of Virginia. Cahen, M. (1987). Mozambique la Rvolution implose. Paris: l'Harmattan. Calle, A. (2007). Avec Karl Polanyi, Contre la socit du tout-marchand. Revue du Mauss. n 29. Paris: La Dcouverte. Chabal, P. & Daloz J.-P. (1999). LAfrique est partie! Du dsordre comme instrument poli-tique. Paris: Economica. Chaveau, J.-P. (1998). Quelle place donner aux pratiques des acteurs? In: Lavigne-Delville, P. (1998) (eds) Quelles politiques foncires pour l'Afrique rurale ? Rconcilier pratiques, lgitimit et lgalit. Paris: Karthala. pp. 35-42. Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research Methods in Education. 4 ed. Londres: Routledge Publishers. Cotula, L. et al. (2009). Land Grab or Development Opportunity? Agricultural Investment and International Land Deals in Africa, FAO, IIED, IFAD, [Em linha] Disponvel em , Acesso em 04 dezembro 2014. Crosnier, H. (2010). Une bonne nouvelle pour la thorie des biens communs. In: RITIMO, Les biens communs, modle de gestion des ressources naturelles . [Em linha] Disponvel em . Acesso em 13 fevereiro 2013. Daniel, S. & Mittal, A. (2009). The great land grab, Rush for world's farmland threatens food security. The Oakland Institut. [Em linha] Dsponvel em . Acesso em 18 Maro 2015. Deininger, K. & Binswanger, H. (1999). The Evolution of the Worlds Bank's Land policy: Principles, Experience and Future Challenges The World Bank Research Observer, XIV (2), Agosto. pp. 247-276. Deininger, et al. (2010). Rising global interest in farmland: can it yield sustainable and equitable
-
22
benefits? The World Bank, Washington DC, p. 216. [Em linha] Disponvel em . Acesso em 15 Dezembro 2013. Diop, M. (2007). Rformes foncires et gestion des ressources naturelles en Guine. Enjeux de patrimonialit et de proprit dans le Timbi au Fouta Djalon, Paris: Karthala. Fernandes, B. et al. (2014). Os Usos da Terra no Brasil. 1 ed. So Paulo: Cultura Acadmica. Flahault, F. (2011). O est pass le bien commun? Paris: Mille & Une Nuit. Gazibo, M. & Jenson, J. (2004). La politique compare. Fondements, enjeux et approches thoriques. Qubec: Les Presses de L'universit de Montral. Guengant, J.-P. (2009). Population et dveloppement en Afrique: faut-il acclrer la transition dmographique?, Banque africaine de dveloppement, Tunis. Grain (2008). Main basse sur les terres agricoles en pleine crise alimentaire et financire. [Em linha] Disponvel em . Acesso em 12 de Janeiro 2013. Hanlon, J. (2002). The land debat in Mozambique: will foreign investors, the urban elite, advanced peasants or family farmers drive rural development? Londres, Oxfam GB-Regional Management Center for Southern Africa. Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons, Science, New series. Vol. 162, N. 3859 (Dec. 13, 1968), pp. 1243-1248. [Em linha] Disponvel Acesso em 10 Fevereiro 2015. Hermele, K. (2012). Land Matters. Agrofuels, Unequal Exchange, and Appropriation of Ecological Space. Sweden: Media-Tryck/Lund University. Lavigne-Delville, P. & Karsenty, A. (1998). Des dynamiques plurielles. In: LAVIGNE-DELVILLE, P. (1998). (eds) Quelles politiques foncires pour l'Afrique rurale ? Rconcilier pratiques, lgitimit et lgalit . Paris: Karthala. pp. 200-230. Lavigne-Delville, P. & Durand-Lasserve, A. (2009). Gouvernance foncire et scurisation des droits dans les pays du Sud, Comit Technique Foncier et Developpement. [Em linha] Disponvel em Acesso em 2 Junho 2015. Le Roy, E. (1995). La scurit foncire dans un contexte Africain de Marchandisation Imparfaite de la Terre In: BLANC-PAMARD, C. & CAMBRZY, L. (1995). Dynamiques des Systmes Agraires. Terre, Terroirs, Territoires. Les Tensions Foncires, Paris: ORSTOM ditions. pp. 455-472. Liberti, S. (2013). Main basse sur la terre, Land grabbing et nouveau colonialisme. Paris: Rue de l'chiquier. Lipietz, A. (2010). Questions sur les biens communs. In: RITIMO, Les biens communs, modle de gestion des ressources naturelles. Paris. [Em linha] Disponvel em . Acesso em 13 Fevereiro 2015.
-
23
Mathieu, P. (1996). La scurisation foncire entre compromis et conflit: un processus politique? In: MATHIEU, et al. (1996). Dmocratie, Enjeux Fonciers et Pratiques Locales en Afrique. Conflits, Gouvernance et Turbulences en Afrique de L'ouest et Central, Paris: LHarmattan. Mdard J.-F. (1991). (eds.). tats d'Afrique noire: formation, mcanismes et crise, Paris: Karthala. Mosca, J. (2011). Polticas Agrrias de (em) Moambique (1975-2009). Maputo: Escolar Editora. Mosca, J. & Selemane T. (2011). El dorado Tete: os Mega Projetos de Minerao.Maputo:CIP. [Em linha] Disponvel em Acesso em 16 Janeiro 2015. Negro, J. (2000). Sistemas Costumeiros da Terra em Moambique. In SANTOS, B.S & TRINDADE, C. (2000) (eds.). Conflito e Transformao Social: uma Paisagem das Justias em Moambique. Maputo/Coimbra: CEA/CES. Vol.2. pp.10-43. Negro, J. (2004). Mercado de Terras Urbanas em Moambique. Maputo: IID. Norton, R. (2005). Politiques de dveloppement agricole. Matriel conceptuel et technique. Rome: FAO. Ostrom, E. (2010). Gouvernance des biens communs. Bruxelles: De Boeck. Platteau, J.-P. (1996). The Evolutionary Theory of Land Rights as Applied to Sub-Saharan Africa: a Critical Assessment UK, Development and Change. UK: Blackwell Publishers, XXVII, pp. 29-86. Pnud. (2014). Relatrio do Desenvolvimento Humano 2014. Sustentar o Progresso Humano: Sustentar as Vulnerabilidades e reforar a resilincia . Washington: PNUD. [Em linha] Disponvel em , Acesso em 4 Junho 2015. Quadros, M.C. (2004) (eds.) Manual de Direito da Terra. Maputo: CFJJ. Quivy, R. & Campenhoudt, L. V. (1988). Manuel de recherche en sciences sociales . Paris: Dunod. Remane, S. (2009). Guio do processo de consultas comunitrias. Um instrumento de apoio aos intervenientes no processo de consulta comunitria, Maputo: CTV. Rosario, D. (2012). From Negligence to Populism: An Analysis of Mozambiques Agricul-tural Political Economy Future Agriculture Consortium, Brighton, UK, 23 pp. Smouts, M. C. (2005). Du patrimoine de l'humanit aux Biens Publics Globaux. In: M. SALEM, (2005) (eds.). Patrimoines naturels au Sud, Territoires, Identits et Stratgies lo-cales. Paris: IRD ditions. Unfpa (2011). Relatrio sobre a situao da populao Mundial 2011. Pessoas e possibili-dades em um mundo de 7 blihes. [Em linha] Disponvel em , Acesso em 4 Maio 2015.
-
24
Wit, P. (2002). Land Conflict Management in Mozambique. Case study of Zambezia province, FAO. Legislao e outros documentos Conselho de Ministros. Estratgia de Desenvolvimento Rural. Setembro 2007. Constituio da Repblica de Moambique, 1990. Maputo. Constituio da Repblica de Moambique, 2004. Maputo. Decreto n. 14/93, de 21 de Julho (Estratgia de implementao da Lei dos investimentos) Decreto n. 66/98, de 8 de Dezembro (Regulamento da Lei de Terras). Decreto n. 55/2008, de 30 de Dezembro (Regulamento da lei do trabalho). Lei n. 19/97, de 1 de Outubro (Lei de Terras). Lei n. 08/2003, de 19 de Maio (Lei dos os rgos Locais do Estado).
-
Anexo 1- Principais discursos e posicionamentos sobre a privatizao da terra em Mo
Entrevistados
Privatizao da terra (Posicionamentos)
No-privatizao Privatizao
Estado
A terra no se pode privatizar, a Constituio da Repblica no d espao para a privatizao da terra. (...) Privatizar a terra vai colocar a populao na pobreza, muitos camponeses pobres vo ficar fora do sistema de produo, marginalizados como acontece no Brasil com os sem-terra. Eu penso que Moambique tem das melhores leis de terra que deve prevalecer at hoje.
Camponeses
(...) A terra a estabilidade social e econmica das famlias; privatizar a terra matar as pessoas; vamos arrancar uma nova guerra. Este nem pode ser o plano de Moambique - privatizar a terra. Ns temos exemplos muito simples do Brasil, onde at hoje h pessoas que esto nos contentores, esto por baixo de pontes, porque no conseguem ter terra. Eu acho que no pode ser esse o nosso desafio.
Acadmicos evolucionistas
No me parece que seja possvel estruturar uma economia de mercado harmonizada como acontece num pas mais desenvolvido, se ns no definirmos os direitos de forma clara, e neste caso a maior dificuldade porque o Estado se arroga do direito de ser nico proprietrio (...) A privatizao obrigaria o Estado a desenvolver instituies vocacionadas para estruturar os direitos de apropriao e para gerir no mais como proprietrio mas regulador. As pessoas ficariam responsabilizadas e assumiriam custos. O ttulo de propriedade passaria a ter validade e seria reconhecido.
-
Associaes econmicas
O invcriadevmapzone oestrprosintnecond
Consultores e pesquisadores nas reas do
Sector Agrrio
Nequeestrefeiissocomumcomsua
-
Anexo 2 - Principais discursos e posicionamentos sobre a legalizao dos mercados de terra e
Entrevistados
Legalizao dos mercados de terra (Posicionamentos)
Receitas para o Estado Flexibiliza os investimentos e os mercados Segurana de Posse e desenvolvimeinstitucional
Estado
Camponeses
-
Empresrios
Pode-se parcelar a terra definindo cla-ramente quais so as terras comunit-rias e quais as reas comerciais onde o Estado poderia at fazer leilo para as pessoas interessadas em utilizar a terra. Seria uma receita para o Estado, devendo-se portanto evitar o surgi-mento do movimento dos sem-terra no pas.
As autoridades municipais podiam vender oficialmente terra nas cidades e as receitas vo para a autarquia. Dever haver zonas de expanso onde as pessoas de menos posse podero ter acesso terra, sem ter de pagar. No que respeita terra agrcola, o mercado de terra poderia criar desenvolvimento, as pessoas poderiam usar a terra como colateral para aceder ao crdito bancrio e possivelmente fazer crescer mais rpido da agricultura.
H um mercado de terras que podeorganizado para a agricultura comerciapreciso ter cuidado de no cair especulao, para que tambm quem teque comprar aquele pedao possa fazeseus investimentos, no constituindo desenvolvimento da actividade empresaO mercado de terras permitransparncia e segurana de posse. preos variariam de zona para zona (comsem infra-estruturas, rural ou urbana, e um negcio informal, que movimmilhes.
Acadmicos evolucionistas
Nem tudo deve estar no mercadopreciso, primeiro, delimitar os espaoutilizao: reservas pblicas, para comerciais privados, comunitrios. Naqque seria a utilizao da terra para comerciais seria inaceitvel que as pesno tenham seus direitos claramdefinidos. A constituio como documme, deve ser consistente com o tiposociedade em que as pessoas so protegtanto na vida como naquilo que adqui(aquisio, venda e compra) .
Consultores e pesquisadores nas reas do
Sector Agrrio
Poderia se reconhecer, no a venda da terra, como um bem, mas a venda de ttulos. Seria uma forma do Estado tirar benefcios dessas transaces que envolvem muito dinheiro e esto fora do sistema fiscal e, por outro lado, isso iria confiar maior segurana s transaces entre as pessoas porque hoje no h.
Nem toda a terra ser colocada mercado. Nas zonas onde a dinmica moque se pode colocar a terra no mercado, tbem. Outra forma de no colocar a terrmercado o arrendamento, as pesdariam a ttulo temporrio as suas terrum arrendatrio com obrigao de ptaxas ao Estado. Isto iria permitir msegurana de posse no meio rural.
-
1
N
Ttulo
Autor(es) Data
31 Prosavana: discursos, prticas e realidades Joo Mosca e Natacha Bruna Agosto de 2015
30 Do modo de vida campons
pluriactividade impacto do assalariamento urbano na economia familiar rural
Joo Feij e Aleia Rachide Agy Julho de 2015
29 Educao e produo agrcola em
Moambique: o caso do milho
Natacha Bruna Junho de 2015
28 Legislao sobre os recursos naturais em Moambique: convergncias e conflitos na relao com a terra
Eduardo Chiziane Maio de 2015
27 Relaes Transfronteirias de Moambique
Antnio Jnior, Yasser Arafat Dad e Momade
Ibraimo Abril de 2015
26 Macroeconomia e a produo agrcola em Moambique