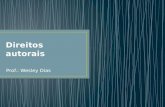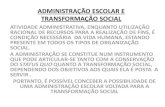DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL · 2012. 11. 14. · Paro (2001) refere-se à...
Transcript of DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITO AUTORAL · 2012. 11. 14. · Paro (2001) refere-se à...

UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES INSTITUTO A VEZ DO MESTRE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR: gestão democrática e a construção de práticas emancipadoras
Luzia Soares Leite Ferreira Machado
Orientador: Dr. Antonio Fernando Vieira Ney
Vitória/ ES, março/ 2010
DOCU
MENTO
PRO
TEGID
O PEL
A LE
I DE D
IREIT
O AUTO
RAL

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR: gestão democrática e a construção de práticas emancipadoras
Por
Luzia Soares Leite Ferreira Machado
Monografia apresentada à Universidade Cândido Mendes como condição prévia para a conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Senso em Administração Escolar.
Vitória/ ES, março/ 2010

RESUMO
O presente estudo, de natureza bibliográfica se insere no âmbito das políticas de gestão democrática na perspectiva de construção de práticas emancipadoras na escola. Inicialmente, através de literatura especializada e de documentos legais, discute a gestão escolar sob a ótica legal e paradigmática. A seguir aborda autonomia e a participação como condicionantes da gestão democrática; por fim, num contexto teórico-prático, mostra como a escola pode se constituir num local fértil às práticas emancipadoras. Os resultados mostram que a gestão para se constituir a partir do fundamento democrático, deve ter como princípios básicos: participação e autonomia, o que só ocorrerá de fato quando as práticas autoritárias, ainda presentes no ambiente escolar, ceder lugar aos processos de participação coletiva.
Palavras-chave: Gestão escolar. Participação. Práticas emancipadoras.

SUMÁRIO
RESUMO...................................................................................................................................ii
INTRODUÇÃO04
CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA................................06
1 BASES FUNDANTES DA GESTÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DA LITERATURA ESPECIALIZADA...................................................................................................................06
1.1 Dimensões conceituais e legais da gestão escolar democrática.........................................06
1.2 Paradigmas em gestão escolar............................................................................................13
1.3 Abordagem metodológica..................................................................................................17
CAPÍTULO II – A DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR.................................19
2 CONDICIONANTES DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRATICA.................................19
2.1 A autonomia .....................................................................................................................19
2.2 A participação...................................................................................................................22
CAPÍTULO III – PERSPECTIVAS TEÓRICO-PRÁTICAS................................................25
3 GESTÃO ESCOLAR NUMA VISÃO EMANCIPADORA..............................................25
3.1 A participação como princípio básico da gestão democrática..........................................25
3.2 A autonomia como fundamentos da concepção democrático-participativa da gestão escolar.....................................................................................................................................27
3.3 Práticas em gestão e práticas emancipadoras....................................................................30
CONCLUSÃO.........................................................................................................................35
REFERÊNCIAS.......................................................................................................................36

INTRODUÇÃO
A gestão democrática da escola tem sido pauta constante das agendas dos movimentos
sociais interessados em uma sociedade mais democrática e participativa. Considerada como
um processo de decisão, baseado na participação e na deliberação coletiva, a gestão
democrática é uma oportunidade de transformar a instituição de ensino em um espaço
público, onde diversas pessoas têm a possibilidade de articular suas idéias, e ponderar
diferentes pontos de vista. A gestão democrática é, portanto, num novo modo de administrar
a realidade escolar, sugerindo troca, cooperação, participação, diálogo. Além disso, é também,
uma forma de suprir a necessidade que o cidadão tem de querer ser ouvido, participar de
discussões públicas e das tomadas de decisão. Nesse sentido, é que a gestão escolar vem
suscitando discussões em torno tendências da reforma educacional.
Refletir sobre a gestão escolar implica discutir necessariamente algumas questões
legais, na qual gestão educacional foi adquirindo centralidade na agenda de política
educacional dos governos quer no âmbito federal, quer estadual e municipal. Nesse contexto
há que se reportar a Constituição Federal de 1988, que já apontava para modificações
imperativas na gestão educacional com vistas a imprimir-lhe qualidade. Assim, a partir do
conjunto dos dispositivos constitucionais sobre educação, orientado pelos princípios contidos
sobremaneira no seu artigo 206, é possível concluir que essa qualidade refere-se ao caráter
democrático, cooperativo, planejado e responsável da gestão educacional. Essa intenção
explicitou-se, como projeto nacional, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei nº. 9.394/96), ganhando maior visibilidade a partir do Plano Decenal de Educação (Lei n.
10.172/20001).
O presente estudo que tem como fio condutor a gestão escolar democrática como
instrumento para a consolidação de práticas escolares emancipadoras quer na sala de aula,
quer em outros diferentes espaços escolares, justifica-se na medida pretende contribuir com
informações e encaminhamentos que visem à construção de um ambiente escolar mais
democrático. Sua importância, portanto, está em propor alternativas viáveis e possíveis
capazes de, pelo menos minimizar, as práticas centralizadoras que permeiam a educação
escolar em favor de práticas emancipadoras como garantia da autonomia dos sujeitos nela
circunscritos.
Configurada como um estudo bibliográfico, esta pesquisa além de discutir a
organização escolar em suas múltiplas formas culturais construídas ao longo de sua história,

procura evidenciar o projeto político-pedagógico, enquanto trabalho coletivo, como forma de
mobilizar políticas que assegurarem autonomia pedagógica e administrativa da escola e,
também, mostrar os desdobramentos da reflexão coletiva na construção de uma nova cultura
na organização escolar (gestão e práticas escolares).
Teoricamente, o objeto deste estudo (a organização do trabalho escolar) será abordado
a partir de sua contextualização na escola pública estadual fundamental e média; como marco
temporal, sua delimitação vai ao encontro das atuais tendências da autonomia da organização
escolar e da construção de práticas escolares emancipadoras. Quanto ao marco teórico, dada a
sua natureza bibliográfica, o processo investigativo será balizado por uma literatura
especializada, cujo ponto de partida os estudos realizados por Bordignon (1993, 1996, 2004),
sob a perspectiva do Paradigma de Gestão da Escola Cidadã.
Partindo da hipótese de que a gestão democrática é uma fonte significativa de
mobilização para o exercício de práticas e valores rumo à construção de uma educação escolar
emancipadora, como possível resposta ao problema ─ A gestão democrática pode favorecer a
construção de práticas escolares emancipadoras? ─, o presente estudo pretende ser mais um
espaço que se abre rumo à consolidação da democratização da educação escolar, por isso
mesmo recomendado, principalmente, aos gestores.
Com vistas a viabilizar a investigação do referido problema, este estudo acha-se
dividido em dois capítulos. O primeiro, sob o título de “Fundamentação Teórico-
metodológica”, é estruturado a partir de uma revisão de literatura sobre as bases fundantes da
gestão escolar em suas dimensões conceituais, legais e paradigmáticas. Ainda, este capítulo
descreve o caminho metodológico seguido pelo estudo. No segundo capítulo são abordados os
condicionantes da gestão escolar democrática, ou seja, a participação e a autonomia; por fim,
no terceiro capítulo, a gestão escolar é discutida sob o ponto de vista das práticas
emancipadoras.
Espera-se que esta pesquisa possa suscitar nos seus leitores a vontade política de
transformar o ambiente escolar, no sentido de abrir caminhos que poderão viabilizar a
conquista de gestão participativa e democrática.

CAPÌTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
1 BASES FUNDANTES DA GESTÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DA LITERATURA ESPECIALIZADA
1.1 Dimensões conceituais e legais da gestão escolar democrática
Na literatura, há diversas concepções sobre o que significa gestão, contudo no
presente estudo assumimos a compreensão formulada por Bordignon (1993, 1996, 2001,
2004) em que a gestão democrática é um processo que envolve dinamismo,
comprometimento, autonomia e participação. Processo esse, que só “existirá na medida em
que forem desenvolvidas a autonomia e a participação de todos, num clima e numa estrutura
organizacional compatível com essa prática, visando à emancipação” (BORDIGON;
GRACINDO, 2004, p. 169).
Corroborando com este ideário Borguetti (2000, p. 115) afirma que:
é por meio da gestão democrática que os indivíduos avançam na conquista da cidadania, pois à medida que tomam decisões em conjunto, percebem e vivenciam seus direitos e deveres, aprendendo a respeitar limites e conviver com idéias divergentes.
Assim entendida, a gestão é definida como administração que dá autonomia. Atividade
essa em que meios e procedimentos são mobilizados para atingir os objetivos da organização.
Contudo, a gestão, deve ser entendida como processo político-administrativo contextualizado,
o que implica refletir sobre as políticas de educação. Isto porque, “há uma ligação muito forte
entre elas, pois a gestão transforma metas e objetivos educacionais em ações, dando
concretude às direções traçadas pelas políticas” (BORDIGNON e GRACINDO, 2004, p.
147). A Gestão democrática, portanto, compreende a gestão do sistema de ensino e da escola
como administração da elaboração e acompanhamento da qualidade que se deseja. Esta
proposta se fundamenta num modelo de homem e de sociedade que deve ser contemplado nos
planos governamentais de educação e no Projeto Político Pedagógico das escolas, que
definem a cidadania almejada, estabelecem as finalidades do sistema educacional e
apresentam especificidades da organização escolar.
Este mesmo entendimento é expresso Garcia (2007) que entende a gestão democrática
como um conjunto de ações articuladas entre diferentes esferas governamentais (Federal,
Estadual e Municipal), os quais compartilham responsabilidades solidárias quanto ao
oferecimento de uma escola pública de qualidade para todos.
Antunes (2002, p. 131) percebe a gestão democrática “como uma das formas de
superação do caráter centralizador, hierárquico e autoritário que a escola vem
assumindo ao longo dos anos”.

Cury (2002), afirma que a origem da palavra gestão advém do verbo latino gero,
gessi, gestum, gerere, cujo significado é levar sobre si, carregar, chamar a si, executar e
gerar. Desse modo, a gestão é a geração de um novo modo de administrar a realidade, sendo
então, por si mesma, democrática, pois traduz a idéia de comunicação, pelo envolvimento
coletivo, por meio da discussão e do diálogo.
Paro (2001) refere-se à gestão como uma prática social e política, e, por isso
contraditória e parcial, podendo gerar formas autoritárias ou participativas. No sentido restrito
da administração, seu caráter contraditório é reforçado pelo confronto dos interesses de classe
no interior dos processos de trabalho coletivo. O que vai definir o perfil de uma
administração, se autoritária ou democrática, se reiterativa e conservadora ou criativa e
progressista, será a qualificação de seus fins e a escolha dos processos utilizados.
Em se tratando de gestão escolar democrática são vários são os conceitos que lhes são
atribuídos. Segundo Libâneo (2005), as principais características de cada concepção de
organização e gestão escolar assumem diferentes modalidades, conforme a concepção que se
tenha das finalidades sociais e políticas da educação em relação à sociedade e a formação de
alunos. Nesse sentido, a gestão democrática pode ser vista nas seguintes perspectivas:
[...] na concepção sócio-crítica a gestão escolar é concebida como um sistema que agrega pessoas, considerando o caráter intencional de suas ações e as interações sociais que se estabelecem entre si e o contexto sócio-político, nas formas democráticas de tomada de decisões [...] na concepção autogestionaria baseia-se na responsabilidade coletiva, na ausência de direção centralizada e na acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da instituição [...] na concepção interpretativa as práticas organizativas são consideradas como uma construção social com base nas experiências subjetivas e nas interações sociais [...] a concepção democrático-participativa baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe. Acentua a importancia da busca dos objetivos comuns assumidos por todos. Defende uma forma coletiva de tomada de decisões [...] (LIBÂNEO; OLIVEITA; T, 2005, p. 328).
Como podemos observar nas diferentes perspectivas referidas pelo autor, a gestão
democrática implica participação, a qual requer autonomia, que “significa a capacidade das
pessoas e dos grupos para a livre determinação de si próprios, isto é, para a condução da
própria vida” (LIBÂNEO, 2005, p. 329). A autonomia é, pois, “o fundamento da concepção
democrático-participativa de gestão escolar” (2003, p. 333).
Para Ferreira e Aguiar (2004, p. 310):
[...] a gestão democrática da educação, enquanto construção cotidiana e coletiva da organização da educação, da escola, das instituições, do ensino, da vida humana, faz-se, na prática, quando se tomam decisões sobre todo o Projeto Político Pedagógico, sobre as finalidades e objetivos do planejamento dos cursos, das disciplinas, dos planos de estudo, do elenco disciplinar e os respectivos conteúdos, sobre as atividades dos professores e dos alunos necessárias para a sua consecução, sobre ambientes de aprendizagem, recursos humanos, físicos e financeiros necessários, os tipos, modos e procedimentos de avaliação e o tempo para sua realização.

Pertinente é observar, conforme esclarece Pimenta (2005), que a construção coletiva
refere-se à contribuição de todos, de modo que no trabalho coletivo as finalidades são comuns
a todos, portanto, esse trabalho deve ser constituído por uma relação de colaboração, na qual
cada participante contribui com o seu saber específico para alcançar objetivos em comum,
com vistas ao êxito da organização escolar
Ainda, Ferreira e Aguiar (2004), ao examinar os diferentes significados de gestão
escolar democrática afirmam que eles se afastam das concepções tayloristas e fordisdas da
administração clássica, na medida em que tais significados sugerem princípios como
fraternidade, solidariedade, justiça social e construção de um mundo mais humano. Desta
forma,
o novo sentido da gestão democrática da educação é na direção da humanização do sujeito [...] não é tarefa fácil, mas necessária [...] è um compromisso de quem toma decisões ─ a gestão ─, de quem tem consciência do coletivo ─ democrática ─, de quem tem responsabilidade de formar seres humanos por meio da educação. Assim, configura-se a gestão democrática da educação que necessita ser pensada e ressignificada na ‘cultura globalizada’, imprimindo-lhe um novo sentido (FERREIRA, 2004, p. 12-3).
Wittmann e Gracindo (2001) entendem a gestão democrática como uma prática
fundada em regras de colaboração, co-responsabilidade e solidariedade e advertem que a
“gestão escolar é parte integrante do movimento pedagógico-didático da escola, constituindo-
se por ações voltadas para a construção da prática pedagógica escolar, implicando respeito e
valorização de todos os envolvidos.
Dourado (2002, p. 79) define a gestão escolar democrática como
um processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de aprendizado do ‘jogo’ democrático e, consequentemente, do repensar das estruturas de poder autoritário que permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas educativas.
Importante é destacar que a gestão verdadeiramente democrática tem como base a
participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar no dia-a-dia da escola e,
especialmente, nos momentos de tomadas de decisões. Significativo também é observar que
esse modelo de gestão implica participação ativa de seus sujeitos, participação essa que
segundo Demo (1998, p. 26) “não é algo natural e, sim, um processo de conquista,
aprendizado e, sobretudo, de disputa com o poder dominante. Á medida que nos organizamos
para participar, estabelecemos uma disputa com o poder dominante e, com isso, criamos outra
forma de poder”.
Corroborando essas idéias, Bordignon e Gracindo (2004) garantem que a gestão
democrática é um processo que envolve dinamismo, comprometimento, autonomia e

participação. Processo esse, que só “existirá na medida em que forem desenvolvidas a
autonomia e a participação de todos, num clima e numa estrutura organizacional compatível
com essa prática, visando à emancipação” (BORDIGON; GRACINDO, 2004, p. 169). “É por
meio da gestão democrática que os indivíduos avançam na conquista da cidadania, pois à
medida que tomam decisões em conjunto, percebem e vivenciam seus direitos e deveres,
aprendendo a respeitar limites e conviver com idéias divergentes” (BORGUETTI, 2000, p.
115).
Nessa perspectiva, conforme esclarecem Bordignon e Gracindo (2004), o princípio da
gestão democrática da educação deve consagrar a ampliação dos canais de participação da
sociedade na gestão da escola pública o que constitui uma tentativa de romper com os níveis
hierárquicos de poder, cedendo lugar às estruturas horizontais, nas quais a participação da
comunidade se torna relevante nas decisões das políticas nacional e local o que, em última
instância, significa romper com antigos paradigmas que permeiam não somente a estrutura
escolar, mas também, as relações e as práticas pedagógicas que se estabelecem no seu interior.
Portanto,
A gestão da escola cidadã requer a reconstrução do paradigma da gestão. Para além da cidadania positivista, radicado na especificidade do ato pedagógico, essencialmente dialético, dialógico, intersubjetivo, o que implica agir nas especificidades das organizações educacionais, colocando a construção da cidadania e a questão da autonomia, ambos como processos indissociáveis e pré-requisitos para o resgate da escola pública de qualidade (BORDIGON; GRACINDO, 2004, p. 163).
Pertinente é observar que a gestão democrática para se constituir enquanto tal deve se
amparar num paradigma emergente que tem como características básicas uma concepção
dialética da realidade, o entendimento de que existe uma relação intersubjetiva entre sujeito e
objeto do conhecimento e que entende o homem como sujeito histórico que sofre os
condicionantes da realidade atual, mas que traz consigo a capacidade histórica de nela
intervir. Válido também é chamar atenção para o fato de que esse modo de conceber a gestão
escolar não intenciona minimizar a importância dos gestores no processo, uma vez que estes
são fundamentais no desempenho de suas práticas quer no sentido técnico quer social. Gestão
democrática é um ato compartilhado de liderança, ou seja,
é um processo de coordenação de estratégias de ação para alcançar os objetivos definidos e requer liderança centrada na competência, legitimidade e criatividade [...] por sua natureza, é um processo de coordenação de iguais, não de subordinados (BORDIGON; GRACINDO, 2004, p. 165).
A esse respeito, Vieira (2004) considera que a mudança de diretor para gestor decorre
do reconhecimento da escola enquanto instituição caracterizada por uma cultura própria
atravessada por relações de consenso e conflito marcadas por resistências e contradições:

[...] A retomada da constatação óbvia de que a escola tem papel fundamental na formação da cidadania, revela o caráter estratégico de uma gestão para desta função política e social. No âmbito da escola propriamente dita, passa-se de uma administração do cotidiano das relações de ensino-aprendizagem para a noção de um todo mais amplo, multifacetado, relacionado não apenas a uma comunidade interna, construída por professores, alunos e funcionários, mas que se articula com as famílias e a comunidade externa (VIEIRA, 2004, p. 141)
Diante das considerações observadas pela literatura, de A gestão democrática da
educação, hoje, um valor já consagrado no Brasil e no mundo, embora ainda não totalmente
compreendido e incorporado à prática social global e à prática educacional brasileira e
mundial. É incontestável sua importância como um recurso de participação humana e de
formação para a cidadania. Também é indiscutível sua necessidade para a construção de uma
sociedade mais justa, humana e igualitária, bem como sua importância como fonte de
humanização. Todavia, ainda muito se tem por fazer, pois, como nos ensina Dourado (2000,
p. 79): [...] convivemos com um leque amplo de interpretações e formulações reveladoras de
distintas concepções acerca da natureza política e social da gestão democrática e dos
processos de racionalização e participação, indo desde posturas de controle social (qualidade
total) ato perspectivas de participação efetiva, isto é participação cidadã.
A gestão democrática do ensino público foi garantida no Brasil pela Constituição
brasileira, em 1988, como fruto da luta perseverante do magistério em todo o País. Assim, no
âmbito legal, a gestão democrática acha-se amparada tanto pela Constituição, quanto pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n. 9.394 de20/12/1996), bem como
pelo Plano Nacional de Educação (PNE, Lei n. 10.127 de 09/01/2001). Destarte, a política de
gestão democrática do ensino ganhou destaque em termos de legislação a partir da
Constituição Federal de 1988, que a incorpora como um princípio do ensino público na forma
da lei. Porém, muito antes disso, já era estudada e reivindicada por alguns segmentos da
sociedade. Assim, a referida constituição refletiu a pressão da sociedade civil, que
reivindicava um país democrático, conforme esclarecem Adrião e Camargo (2001, p. 73):
[...] é interessante lembrarmos alguns embates que ocorreram nas comissões e subcomissões encarregadas de discutir a educação no processo constituinte (1987-1988) entre diferentes setores diante da questão da gestão democrática do ensino. Sucintamente, podemos identificar a existência de duas posições expressas por setores organizados da sociedade civil com representatividade no legislativo, que confrontaram o debate em torno do sentido que deveria ser atribuído à gestão da educação. O primeiro setor refere-se ao grupo identificado com as posições do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública constituído por entidades de caráter nacional cujo posicionamento no tocante à gestão da educação e da escola, refletia a defesa do direito à população usuária (pais, alunos e comunidade local) de participar da definição das políticas educacionais às que estariam sujeitos. [...] O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública apresentou à Comissão Constituinte encarregada das discussões sobre o capítulo da educação a seguinte redação para a formulação do texto constitucional: gestão democrática do ensino, com a participação de docentes, alunos, funcionários e comunidade. [...] De modo oposto, o segundo setor, ligado aos

interesses privados do campo educacional e composto, tanto por representantes ligados às escolas confessionais, contrapunham-se a tal formulação [...]
A Constituição Federal de 1988 trouxe perspectivas de mudanças para o ensino público,
na medida em que inseriu a gestão democrática como princípio da educação nacional: “[...] O
ensino será ministrado com base nos seguintes princípios [...] gestão democrática do ensino
público, na forma da lei [...] garantia de padrão de qualidade” (CF, 1988, art. 206, inc. VI e
VII, p. 128). Além disso, no seu artigo 214, a Carta Magna prevê o estabelecimento, por lei,
de um Plano Nacional de Educação.
Na LDB n. 9.394/96, o artigo 3º, inciso VIII corroborando o texto constitucional
contempla a gestão democrática explicitando que “[...] O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios: [...] VIII- gestão democrática do ensino público na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino [...]”; já no artigo 14 fica determinado que:
[..,] Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I- participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II- participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes; [...]
Ainda, os artigos de 12 a 15 da mesma lei reafirmam a autonomia pedagógica e
administrativa das unidades escolares, a importância da elaboração do Projeto Político-
Pedagógico da Escola, acentuando a importância da articulação com “as famílias e a
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola” (Art. 12, item VI).
[...] Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros [...] VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola [...] Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino [...] VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade [...] Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes [...] Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público [...]
Importante é alertar para o fato de que a questão da autonomia, mencionada no artigo 15, é
citada em dois âmbitos: pedagógico e administrativo. A esse respeito, Paro (2001, p.83-84) comenta
que:

[...] É preciso, entretanto, estar atento para, com relação á autonomia administrativa, não confundir descentralização de poder com desconcentração de tarefas, e, no que concerne a gestão financeira, não identificar autonomia com abandono e privatização. A descentralização do poder se dá na medida em que se possibilita cada vez mais aos destinatários do serviço público sua participação efetiva, por si só, ou por seus representantes, nas tomadas de decisão [...] No que concerne a autonomia pedagógica [...] ela deve se fazer sobre bases mínimas de conteúdos curriculares, nacionalmente estabelecidos, não deixando os reais objetivos da educação escolar ao sabor de interesses meramente paroquiais deste ou daquele grupo na gestão da escola.
Também, no artigo 87, parágrafo 1º da LDB em questão:
[...] Art. 87- é instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei. § 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.
Nesse sentido, a gestão democrática também foi objeto de regulamentação na Lei
10.127, de 9/1/2001, que estabeleceu o Plano Nacional de Educação com vigência para os
seguintes dez anos. Apropriada é a observação de Adrião e Camargo (2001) quando afirmam
que de maneira semelhante ao processo de discussão e aprovação da LDB, o processo
legislativo que levou à sanção da lei que estabelece o Pano Nacional de Educação teve a
participação ativa do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública.
Para Vieira (2006, p. 29): A Lei de Diretrizes e bases, por sua vez, mantem o espírito da Carta Magna, detalhando seus princípios e avançando no sentido de encaminhar orientações gerais para o sistema educacional. A importância de conhecer a base legal decorre do fato de que esta, embora por si não altere a fisionomia do real, indica um caminho que a sociedade deseja para si e quer ver materializado.
Importante é esclarecer que a Lei n. 10.172/2001 PNE (Lei n. 10.172/2001) reforça a
incumbência de cada sistema em planificar a gestão democrática, cuja concretização nos
sistemas de ensino será realizada através dos Conselhos de Educação e das unidades
educacionais, através da participação da comunidade educacional nos Conselhos Escolares.
Pertinente também é observar que a referida lei estabeleceu, em suas diretrizes, a gestão
democrática e participativa, a ser consolidada por políticas públicas educacionais,
especialmente voltadas à organização e fortalecimento de colegiados em todos os níveis da
gestão educacional.
Diante dessas observações, a gestão democrática deve ser entendida como decisão,
organização, direção e participação que se constrói coletivamente em todos os âmbitos da
escola, construção essa que “se faz na participação, ou seja, quando se compreende e se
incorpora que participar consiste em ajudar a construir comunicativamente o consenso, quanto

a um plano de ação coletivo. E isso só é possível mediante o diálogo e o respeito
(FERREIRA, 2006, p. 173).
Todas essas questões legais sugerem que na gestão democrática deve haver a reunião
de esforços coletivos em função dos fins da educação o que, em última instancia, exige a
definição clara dos conceitos de autonomia, democratização, descentralização, qualidade e
participação, que devem ser debatidos no interior das escolas. Deste modo, ainda que a
Constituição Federal e a LDB assegurem a democratização da gestão escolar, para a sua
efetivação, é necessário que a comunidade escolar assuma uma atitude de análise, reflexão e
discussão com vistas à construção de uma estrutura organizacional verdadeiramente
democrática. Para tanto, conforme sugere Vieira (2006) há que se recorrer a mecanismos de
participação como: eleição de diretores; constituição de conselhos escolares com participação
de pais, alunos, funcionários e professores, comissões de trabalho; assembléia por segmentos,
assembléia geral; orçamento participativo nas escolas; escola de pais; espaços de formação
dos conselheiros eleitos e outras experiências possíveis de constituição de espaços de
participação democrática.
Finalizando, é possível afirmar que a democracia escolar só se efetivará dentro
de um processo de gestão democrática capaz de superar a centralização do poder e
garantir maior participação e autonomia nas escolas, tendo em vista uma escola
pública de maior qualidade.
1.2 Paradigmas da gestão escolar
Proceder a uma análise dos construtos teóricos que fundamentam modelos de
organização do trabalho escolar implica, necessariamente, evidenciar os diferentes
paradigmas que, ao longo do tempo, tem orientado a organização do trabalho escolar.
Contudo, antes de tecermos considerações acerca desses paradigmas, pertinente é observar
que estes se referem a definições relacionadas ao modo básico de se perceber, pensar, avaliar
uma dada realidade. Neste sentido eles são “modelos de racionalidade ou orientação teórica,
comungados por uma comunidade de pensamento ou de ação durante certo tempo” (ROMÃO,
1995, p. 12).
Bordignon e Gracindo (2001) afirmam que paradigma é muito mais que um simples
modelo ou padrão. É, sim,
um conjunto de idéias que permite formular ou aceitar determinados padrões ou modelos de ação social. Paradigma, nesse sentido, representa uma visão de mundo, uma filosofia social, um sistema de idéias construído e adotado por determinado grupo social. Assim, paradigma diz respeito a idéias e valores assumidos coletivamente,

consciente ou inconscientemente, e representa o cenário da sociedade que temos ou queremos ter (BORDIGNON, 2001, p. 150).
Para Boog (2003) os paradigmas são determinantes em nossa forma de perceber o
mundo, pois tratam de um referencial teórico que nos ajuda e nos apoia. Os paradigmas são
uma forma de expressar valores, crenças, referencias e mitos que orientam nossas vidas,
dando consistências às nossas ações individuais, grupais e empresariais. Na educação escolar,
os paradigmas tem servido para fundamentar práticas pedagógicas e administrativas.
Vale mencionar que os sistemas educacionais organizam-se de acordo com as
concepções de ciência, assim, por um lado temos os paradigmas tradicionais, como é o caso
do paradigma mecanicista; por outro, os modernos, como o holístico. Importa ainda observar,
que embora o paradigma mecanicista tenha sido importante em um dado momento da
evolução científica, devido suas limitações, entrou em declinio, sendo suplantado pelo
paradigma holístico, contudo, algumas concepções mecanicistas, ainda permanecem
enraizadas em nossa práticas educativas. A este respeito Costa (1994, p. 142) tece o seguinte
comentario:
A prática administrativa no Brasil, em especial a administração escolar, apresenta-se continuamente conformada com a situação, fundamentando-se na imposição e na coação legal e burocrática. Essa tradição possui suas raízes no autoritarismo da sociedade política e nos interesses dominantes. Procura enfatizar a dimensão técnica-"neutra" da administração que tem orientado a ação administrativa em direção ao centralismo burocrático, ocultando sua dimensão política intencional, oposta ao trabalho participativo. Neste particular é importante destacar que o modelo de homem eficaz dentro da sociedade burocrática e planificada é este indivíduo destituído de qualquer qualificativo pessoal, sempre apto a funcionar como uma peça mecanizada na engrenagem econômico-administrativa.
Assim sendo, na perspectiva clássica (mecanicista) a relação pedagógica configura-se
num contexto em que “o educador é sujeito da ação, enquanto o educando é subordinado,
submetido e objeto, em relação ao ato educacional" (DAUSTER, 1996, p. 76). Não obstante,
na perspectiva moderna (holística) essa relação resulta “num processo de construção de um
conhecimento com qualidade, com um sujeito ativo, autor que elaborou e testa suas hipóteses
juntamente com professor, que media essa construção” (DAUSTER, 1996, p. 79). Para esse
modelo “o importante é desenvolver a competência, um conhecimento que leve o aluno a
pensar, a ser um membro crítico e participativo da comunidade” (DAUSTER, 1996, p. 81).
Nas práticas administrativas, a perspectiva clássica corresponde aos modelos
burocráticos (principalmente o taylorismo), fundamentados no paradigma da ciência
positivista. Nesses modelos
[...] a gestão acontece de forma centralizadora; é concebida no eixo das relações autoritárias e verticalmente hierarquizada [...] coerente com o paradigma iluminista da razão subjetiva que estabelece relações lineares e unívocas sujeito-objeto ordenadas em escalas de deveres e direitos, em que tudo é coisificado, produzido em série. O sujeito é poder, o objeto é subordinação (BORDIGNON, 1996, p.16).

O importante, portanto, é garantir a uniformidade do resultado, avaliado através de
instrumentos de medição e classificação. Deste modo, a gestão é caracterizada pela rotina o
que, em última instância, não permite inovações nem desafios. Segundo Bordignon (1996) o
líder dessa organização, tem seu perfil definido pelos princípios do poder, com autoridade e
competência técnica, comprometendo-se com a eficácia da organização, considerando-se o
dono da verdade e das vontades dos que dela participam.
Sob a ótica do paradigma moderno, que vai ao encontro de práticas administrativas
democráticas, ou seja, de modelos voltados para a formação de cidadãos atuantes criticamente
na sociedade, destaca-se o paradigma da Escola Cidadã, que segundo Bordignon (1996, p. 17)
refere-se a uma “nova escola que procura constituir-se pela construção da sua autonomia e
democracia. Isso ‘requer a reconstrução dos paradigmas de gestão para além da cidadania
positivista, fundada na concepção iluminista que estabelece a relação linear sujeito-objeto”.
Portanto, a questão fundamental na construção desse novo paradigma de gestão situa-se em
como superar a concepção hierarquizada de poder, por conseguinte, as relações verticais, do
sujeito para o objeto da ação, isto porque, “a verticalidade é incompatível com a
intersubjetividade, enquanto concebida como relação entre sujeitos, portanto iguais e
autônomos” (BORDIGNON, 1996, p.17).
Esse paradigma, denominado emergente ou crítico-dialético, na acepção Bordignon
(1996) considera o homem como ser social e histórico que, embora determinado por contextos
econômicos, políticos e culturais, é criador da realidade social e transformadora desses
contextos. Assim,
nas práticas sociais estabelecidas no interior da escola, o poder não se situa em níveis hierárquicos, mas nas diferentes esferas de responsabilidade, garantindo relações interpessoais entre sujeitos iguais e ao mesmo tempo diferentes. Essa diferença dos sujeitos, no entanto, não significa que um seja mais que o outro, ou pior, ou melhor, mais ou menos importante, nem concebe espaços para a dominação e a subserviência, pois estas são atitudes que negam radicalmente a cidadania. As relações de poder não se realizam na particularidade, mas na intersubjetividade da comunicação entre os atores sociais. Nesse sentido, o poder decisório necessita ser desenvolvido com base em colegiados consultivos e deliberativos. (BORDIGNON, 1996, p. 15).
Destarte, a base de organização da gestão da educação e da escola não será piramidal e
hierarquizada, mas adotará um desenho circular que pressupõe a inter-relação entre os atores
sociais e uma partilha de poder, o que implica co-responsabilidade nas ações da escola. Nessa
perspectiva de organização e gestão escolar, os diretores, coordenadores, professores, pais,
alunos, dentre outros participantes são considerados sujeitos ativos do processo, de forma que
sua participação no processo deve acontecer de forma clara e com responsabilidade. Não
obstante, o que acontece com a instituição escolar que, em algumas vezes, permanece presa

aos velhos padrões, embora saiba que não respondem às necessidades atuais. É preciso, pois,
conforme recomenda Xavier Filho (2005) abandonar os procedimentos tradicionais, a sala de
aula clássica, a distância entre professor e aluno, a competição selvagem, aliada à construção
de um ambiente e um contexto em que as pessoas possam exercitar processos criativos, e se
desenvolverem de fato.
Nesse sentido, a reestruturação da gestão educacional implica uma ruptura de modelos
tradicionais de administração, impondo mudanças no âmbito da unidade escolar, onde a co-
participação e responsabilização recriariam novas formas de organização, bem como, um
novo desafio de gestão escolar, imprimindo uma nova alternativa orientada para a eliminação
da centralização ou privatização do poder, surgindo uma nova concepção, ou seja, a da gestão
democrática.
Importa esclarecer que nesse novo modelo de administração o sujeito constrói
singularmente seu conhecimento e, é nesse espaço aberto de construção do saber que se
fundamenta a democracia. Nesse sentido Frigotto (1995, p.27) esclarece que
a administração da escola constitui um instrumento de mediação das relações de poder dentro dela. Quando administrada no sistema de co-gestão ou de quase-autonomia escolar, haverá lugar para a autoridade do professor, para a participação do aluno e para o envolvimento dos pais e da comunidade no seu processo de decisão.
Para Gadotti (1995), a gestão democrática supõe a descentralização do poder para a
instância da unidade escolar, eliminando as incontáveis instancias de poder intermediário.
Assim sendo, o papel dos dirigentes escolares é o papel de lideranças e agentes de mudanças.
Portanto, o diretor deve atuar tanto em termos pedagógicos quanto de gestão, para
impulsionar a escola enquanto organização fundamental para a cidadania e o avanço do
conhecimento. Esse contexto sugere como conceito central da cidadania, a emancipação, no
sentido da construção de sujeitos, não obstante,
[...] a condição de sujeito só ocorre na relação com o outro, não mais feito objeto, mas também sujeito, uma relação dialógica entre sujeitos emancipados. Não há cidadania no isolamento, sem o referencial do outro. Vivemos hoje imersos no social. O que penso, o que sei, aquilo em que acredito são construções pessoais nutridas na relação com o outro [...] Assim, na nova escola cidadã, o poder está no todo e é feito de processos dinâmicos construídos coletivamente pelo conhecimento e pela afetividade, constituindo-se em espaço aberto de criação e vivência. Mas não é um espaço desorganizado, sem objetivos e sem estratégias. É um espaço ocupado por atores com circunstâncias pessoais, papéis e responsabilidades distintas. Neste espaço há lugar e necessidade do líder, com conhecimento técnico e percepção política, mas um novo líder, não mais o dono do fazer e sim o animador dos processos, o mediador das vontades e seus conflitos (BORDIGNON, 1996, p.17).
Esse novo modelo de gestão começa a fazer parte das reflexões sobre a gestão
democrática da escola. Reflexões essas radicadas em diferentes percepções e leituras do
universo, (holismo, espiritualismo, física quântica), que segundo Bordignon confluem para a

compreensão da profunda interdependência, da ação comunicativa das pessoas entre si e
destas com a natureza. Essa compreensão constrói uma nova concepção de poder, não mais
situado na qualidade do sujeito, mas no agir comunicativo dos sujeitos.
Em síntese, essa perspectiva de trabalho de gestão democrática contempla paradigmas
educacionais que apostam na escola como espaço de união entre os diversos segmentos para
uma ação integrada e participativa para que a prática educativa seja responsabilidade de todos.
E ato, a ação ou efeito de gerir, gerenciar, administrar, governar. Regra geral a gestão escolar
é percebida como uma atividade que envolve aspectos gerenciais e técnico-administrativos.
1.3 Abordagem metodológica
Estudo delineado como bibliográfico, encaminhado a partir de uma revisão de
literatura relevante, cujo recorte temporal abrange o período compreendido entre os anos de
1993 a 2007. Literatura essa balizada por estudos significativos acerca do objeto investigado
(a organização do trabalho escolar e a construção de práticas emancipadoras sob o viés da
gestão democrática), cujo ponto de partida são estudos realizados por Bordignon (1993, 1996,
2001, 2004), sob a perspectiva do Paradigma de Gestão da Escola Cidadã. Também, autores
renomados ─ como Gadotti (1992, 1995); Gadotti e Romão (1993); Costa (1994); Frigotto
(1995); Romão (1995; Boog (1996); Dauster (1996); Demo (1998); Dourado (2000);
Borguetti (2000); Luck (2000); Wittimann e Gracindo (2001); Adrião e Camargo (2001);
Cury (2002); Antunes (2002) Ferreira (2004); Pimenta (2005); Libâneo (2005); Vieira (2006);
Garcia (2007) dentre outros ─, cujos estudos abordam com propriedade a democratização
escolar através de sua gestão, fundamentam esta investigação, que tem suporte legal na
Constituição Federal (1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e no
Plano Decenal de Educação (2001).
Seguindo os critérios propostos por Solomon (2004) encaminhamos este estudo rumo
à resposta ao problema proposto. Assim, na fase da preparação, após a seleção das fontes de
informação, procedemos a um levantamento bibliográfico, buscando o mais exaustivamente
possível toda a informação disponível na literatura científica que atendesse ao nosso objeto de
estudo. Ainda nesta fase procuramos identificar a literatura de interesse para a realização
desta pesquisa, por meio da leitura de resumos, sumários e/ ou introdução das publicações
escolhidas quando da realização do levantamento bibliográfico. Nesse momento, procedemos
à seleção provisória dos textos, que posteriormente foram localizados e recuperados.
Concluída a fase de preparação, passamos ao segundo momento da pesquisa
bibliográfica, ou seja, à fase de realização, implicando leituras das publicações selecionadas e

seus respectivos registros (fichas de leitura ou fichamento). Essas fichas foram constituídas
dos seguintes elementos: referência do documento em que procedemos à leitura de acordo
com da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 6023/agosto 2002,
seguida de resumo do texto ou alguma passagem completa que fosse de interesse para o
trabalho.
Uma vez, cumprida a segunda fase, chegamos ao momento da comunicação, que
segundo El-Guindy (apud SOLOMON, 2004, p.79):
é a coroação do trabalho de investigação científica, e ao mesmo tempo, o momento de maior realização do pesquisador. Nessa etapa ocorre a redação do trabalho científico por meio do produto científico já determinado de acordo com os propósitos da pesquisa. Entende-se como produto científico o veículo de comunicação em que se fará a apresentação do trabalho científico realizado por meio de canal impresso e/ou eletrônico. Assim, a pesquisa será comunicada pela elaboração de livros, capítulos de livros, dissertações, teses, monografias, trabalhos de eventos, seminários, patentes e artigos científicos. O produto científico abordado neste trabalho será a elaboração do artigo científico, enfocando sua definição, estrutura, normalização e redação científica.
Nesse momento procuramos realizar uma síntese mais completa possível das idéias de
diversos teóricos acerca no nosso objeto de estudo, além disso, acrescentamos as nossas
idéias, alinhavando-as e apurando-as de acordo com os nossos objetivos.
Oportuno é observar que as informações contidas nas publicações selecionadas
representam uma revisão completa de dados bastante significativos sobre gestão democrática
e a construção de práticas emancipadoras no ambiente escolar.

CAPÍTULO II – A DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR
2 CONDICIONANTES DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRATICA
2.1 A autonomia
Etimologicamente o termo autonomia origina-se dos vocábulos gregos autos (próprio,
por si mesmo, ele mesmo) e nomos (lei ou regra do compartilhar). Nesse sentido, “autonomia
significa propriamente a competência humana em “dar-se suas próprias leis” (SEGRE,
SILVA, SCHRAMM, 2008). Em outras palavras, significa ser dirigido por si mesmo,
referindo-se à capacidade do indivíduo de definir suas próprias regras e limites sem que estes
sejam impostos por outros.
Nos dicionários de Língua Portuguesa (HOUISS, 2001; MICHAELLIS, 2005) a
palavra autonomia é definida numa dimensão filosófica no sentido de liberdade moral e
intelectual, consistindo na qualidade de um indivíduo de tomar suas próprias decisões com
base em sua razão individual. Por conseguinte, conceito de autonomia, “está ligado à idéia de
autogoverno, onde os sujeitos se regulam por regras próprias” (BARROSO 2001, p. 24).
Também, a autonomia é um conceito relacional; somos sempre autônomos de alguém
ou de alguma coisa pelo que a sua ação se exerce sempre num contexto de interdependência e
num sistema de relações. A autonomia é também um conceito que exprime certo grau de
relatividade, na medida em que não somos totalmente autônomos, isto é, podemos ser
autônomos em relação a umas coisas e não o ser em relação a outras. A autonomia é, por isso,
uma maneira de gerir, orientar, as diversas dependências em que os indivíduos e os grupos se encontram no seu meio biológico ou social, de acordo com as suas próprias leis [...] a autonomia acontece quando a gestão das relações que tecem a nossa existência permite a afirmação do sujeito, nomeadamente na concretização de projetos (PINTO, 2000, p. 17)
Para Macedo (2000) a autonomia implica auto-organização. Segundo a autora,
“quanto mais são as trocas de energia, informação e matéria que um sistema estabelece com o
‘meio’, maior é a sua riqueza, a sua complexidade, as possibilidades de construção da
autonomia” (MACEDO, 2000, p. 132). Referindo-se à essência da autonomia da escola, ainda
a autora, afirma que esta sugere capacidade de efetuar trocas com os outros sistemas que
envolvem a escola. “A autonomia da escola não é algo adquirido, mas sim algo que se vai
construindo na interrelação, pois só assim a escola vai criando a sua própria identidade”
(MACEDO, 2000, p.134).
Refletindo sobre o conceito de autonomia da escola, Barroso (2001, 33) observa que
este envolve duas dimensões:

a jurídico-administrativa, e a socio-organizacional. A primeira dimensão corresponde à competência que os órgãos próprios da escola detêm para decidir sobre matérias nas áreas administrativas, pedagógica, e financeira. Na segunda dimensão a autonomia consiste no jogo de dependências e interdependências que uma organização estabelece com o seu meio e que definem sua identidade [...] Se é verdade que existe um sistema, são, contudo os diversos atores que interagem na escola que, com as suas possibilidades de escolha, alteram e criam novas regras; ou seja, também contribuem para a alteração do sistema.
Nesse sentido, pertinente é observar que a autonomia pressupõe o entendimento da
escola como tendo uma identidade própria, onde seus diversos integrantes interagem entre si.
Válido também é dizer que nesta perspectiva encontra-se a constatação, na prática, da
liberdade dos seus integrantes, da sua capacidade de escolher a sua conduta em função de
considerações de oportunidades entre um leque mais ou menos largo de condutas possíveis.
Vale ainda chamar atenção para o fato de que
a liberdade de ação daqueles que participam do ambiente escolar é limitada pelas condições materiais e sociais que prevalecem no seu contexto de ação e que são escoradas por um conjunto de estruturas e de regulações englobantes. Mas se todos estes elementos restringem o leque de escolhas dos atores, nem por isso eliminam a sua possibilidade de escolher. Assim, o seu comportamento nunca é redutível a tais estruturas englobantes e não pode, por conseguinte deduzir-se a partir delas (BARROSO, 2001, 34).
Desta forma, mesmo em um sistema escolar altamente estruturado e centralizado,
regrado por leis, “ator é o elemento central – aquele que, mesmo nas situações mais extremas,
conserva sempre um mínimo de liberdade que utilizará para bater o sistema” (LIMA, 2001, p.
148); uma espécie de “infidelidade normativa”, por parte das escolas às regras impostas que
pode passar pela reprodução total, parcial, ou a não reprodução dos conteúdos normativos.
Esta infidelidade a que se refere o autor, no que diz respeito às regras do sistema, deve-se ao
fato de seus integrantes interagirem entre si em função de seus objetivos, interesses, e
estratégias, permitindo que a escola assuma a sua identidade dentro do sistema em que está
inserida. Portanto, “a escola não será apenas uma instância hetero-organizada para a
reprodução, mas também uma instância auto-organizada para a produção de regras e tomada
de decisões” (BARROSO 2001, p. 35). Ainda, este autor esclarece que
as escolas variam entre a heteronomia absoluta e a quase completa anomia (ausência de normas claras e comprometedoras, vivendo as escolas numa absoluta rotina), existindo, todavia, muitas situações em que diversos estabelecimentos de ensino souberam construir uma real autonomia . Este autor assinala ainda a existência de diversas situações onde os órgãos de gestão ‘contornam’ certos preceitos legais que impedem (ou dificultam) a tomada de decisão em domínios considerados estrategicamente importantes (BARROSO, 2001, p. 38).
Este tipo de situação vai ao encontro da daquilo que Lima (2001) denominou de
infidelidades normativas.

Diante de tais posicionamentos teóricos a conclusão a que podemos chegar é a de que
no centro das propostas voltadas à autonomia escolar está o princípio da descentralização de
poder o que, em última instância, há que dar à escola autonomia para a sua gestão. Assim
posto e, a partir de diferentes formas de transferência de poderes, é que as escolas vão
construindo sua autonomia a nível decisório, financeiro, curricular e em termos de gestão de
recursos.
Pertinente é observar que a descentralização do poder se dá na medida em que se atribui
cada vez mais, aos educadores, participação efetiva nas tomadas de decisões em todos os setores da
organização escolar. Esta libertação do poder político burocrático, imposto às unidades escolares
pelas estruturas ultrapassadas, requer compromisso, competência e vontade dos educadores para
ocupação desses espaços abertos pelos novos paradigmas de educação. Assim, o poder de decisão
passa a ser partilhado ao nível de órgãos constituídos pelos diversos participantes da escola. Esta
descentralização tem como finalidade
Permitir que pessoas competentes nas escolas tomem decisões que favoreçam a aprendizagem; dar voz à comunidade escolar nas decisões cruciais; acentuar a prestação de contas das decisões; conduzir a uma maior criatividade na formulação dos programas; redirecionar recursos a fim de suportar os objetivos desenvolvidos em cada escola; permitir a realização de orçamentos realistas devido a pais e professores estarem mais cientes da situação financeira da escola, dos limites de duração e custo dos programas; melhorar o moral dos professores e ajudar a sua liderança a todos os níveis. (BARROSO, 2001, p. 42)
Não obstante, o autor supra alerta para o fato de que a autonomia da escola tem de levar em
conta a especificidade da organização escolar, sendo construída pela interação dos seus diferentes
integrantes, interação essa capaz de conduzir sempre a um resultado equilibrado de forças numa
escola. É nesse sentido que a autonomia da escola não se constrói por decreto; pelo contrário “esta
perspectiva retira sentido à tentativa de encontrar, a partir das chamadas ‘escolas eficazes’,
estruturas e modalidades de gestão que funcionem como padrão da autonomia para todas as
escolas.” (Barroso, 2001, p. 46). Desta forma, o autor considera que a autonomia da escola deve ser
construída e não decretada.
Em síntese, a autonomia da gestão escolar passa pela capacidade da mesma se identificar e,
por isso mesmo, de se diferenciar daquilo que a envolve. Mas, esta capacidade de se diferenciar
implica que seja capaz de se relacionar e interagir com o meio que a envolve. Autonomia não
significa independência, mas sim interdependência. Enfim, a construção de identidade própria
pressupõe a participação de todos num processo de interação. Torna-se, pois, necessário que a
escola seja envolvida por esta dinâmica de interação na perspectiva da de ação organizada para a
emancipação. Trata-se, pois, de uma mudança de percepção da escola como espaço de repetição,
para a noção da escola como lugar de produção e inovação. Mudança essa gerida através da

autonomia que nega a uniformização e celebra a diferença, valorizando a originalidade e o novo,
também buscando o intercâmbio com outras experiências sociais.
Concluído, concordamos com Gadotti (1995, p. 202) quando afirma que a:
descentralização e autonomia caminham juntos. A luta pela autonomia da escola
insere-se numa luta maior pela autonomia no seio da própria sociedade. Portanto, é
uma luta dentro do instituído, contra o instituído, para instituir outra coisa. A eficácia
dessa luta depende muito da ousadia de cada escola em experimentar o novo
caminho de construção da confiança na escola e na capacidade dela resolver seus
problemas por ela mesma, confiança na capacidade de autogoverna-se.
A descentralização e autonomia das escolas abrem espaço para participação e
democratização do sistema público de ensino. Estas formas práticas de formação para cidadania se
dão de modo privilegiado na participação, no processo de tomada de decisão dentro do colegiado da
escola.
2.2 A participação
O paradigma da Escola Cidadã (BORDIGNON, 1996) traz, junto com a autonomia, a
idéia e a recomendação de gestão colegiada, com responsabilidades compartilhadas pelas
comunidades interna e externa da escola. O novo modelo não só abre espaço para iniciativa e
participação, como exige isso da equipe escolar, alunos e pais. Ele delega poderes (autonomia
administrativa e orçamentária) para a diretoria da escola resolver o desafio da qualidade da
educação no âmbito de sua instituição.
Vale dizer que este tipo de gestão escolar expressa mudança de paradigmas após os
movimentos responsáveis, decorrentes da abertura política do país na década de 80. Não
significa, portanto, apenas mudanças de terminologia. É caracterizada pela importância da
descentralização e participação, consciente e esclarecida, das pessoas nas decisões sobre
questões substantivas inerentes ao campo de seu trabalho. Segundo Luck (2001), a gestão está
associada ao fortalecimento da idéia de democratização do processo pedagógico, entendida
como participação de todos nas decisões e na sua efetivação.
Diante dessas constatações, a participação constitui-se num dos principais formas de
se assegurar a gestão democrática da escola, na medida em que possibilita o envolvimento de
toda a comunidade escolar na tomada de decisões e funcionamento da instituição educacional.
È, pois, através da participação consciente e crítica daqueles que integram a comunidade
escolar que o maior conhecimento dos objetivos e metas, da estrutura organizacional e das
relações da escola com a comunidade será efetivado.

Motta (2000, p. 200) define a participação como “todas as formas meios pelos quais os
membros de uma organização, como indivíduo ou coletividade, podem influenciar os destinos
dessa organização”.
Em seu sentido pleno, Luck (2001, p. 27) afirma que a participação caracteriza-se por uma
força de atuação consciente, pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e assumem
seu poder de exercer influência na determinação da dinâmica dessa unidade social, de sua cultura e
de seus resultados, poder esse resultante de sua competência e vontade de compreender, decidir e
agir em torno de questão que lhe são afetas.
Sobre a participação, Freire (2003, p. 94) esclarece que “na perspectiva progressista, a
participação de todos (as) e todas as tarefas são importantes e devem ser respeitadas e dignificadas,
para o avanço da escola”.
Citando uma passagem de Paulo Freire, Rossi (2001) chama atenção para o fato de que
a participação sugere mudança e,
Mudar a cara da escola pública implica também ouvir meninos e meninas, sociedades de bairros, pais, mães, diretoras, supervisoras, comunidade científica, zeladores, merendeiras [...] É claro que não é fácil! Há obstáculos de toda ordem retardando a ação transformadora. O amontoado de papéis tomando o nosso tempio, os mecanismos administrativos emperrando a marcha dos projetos, os prazos pára isso, para aquilo, um deus-nos-acuda (FREIRE, 1991, apud ROSSI, 2001, p. 95)
Sobre a abordagem participativa na gestão escolar, Valerien (2002) esclarece que esta requer
maior participação de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os também
na realização das múltiplas tarefas de gestão. Esta abordagem também amplia a fonte de
habilidades e de experiências que podem ser aplicadas na gestão das escolas.
Paro (2001) entende a gestão escolar como sendo um processo de tomada de decisão que
envolve todos os membros que compõe a comunidade escolar. Participar significa atuar
conscientemente no contexto no qual se encontra inserido, mantendo-se informado ao buscar dados
necessários para fundamentar e possibilitar a elaboração de estratégias racionais, com boas chances
de êxito e tomando parte no ato de gerir. Ainda, este autor afirma que a participação na gestão da
escola será facilitada pela conquista de crescente autonomia pela escola nos domínios da gestão
financeira, pedagógica, administrativa e cultural.
Luck (2001) assegura que a gestão participativa assenta-se em vários pressupostos, valores
inquestionáveis subjacentes em todos os desdobramentos da gestão: a realidade e o conhecimento
são construídos socialmente, eqüidade entre os seres humanos, reconhecimento do valor potencial
em cada um deles, e reconhecimento da existência de grupos sociais pluralistas, constituindo será
trilhado pelos verdadeiros agentes de mudança. Além disso, a autora relata algumas estratégias para
facilitar a participação como: identificar as oportunidades apropriadas para a ação e decisão

compartilhada; estimular a participação dos membros da comunidade escolar; estabelecer normas
de trabalho em equipe e orientar a sua efetivação; garantir os recursos necessários para apoiar os
esforços participativos; prover reconhecimento coletivo pela participação e pela conclusão de
tarefas.
Diante de tais estratégias é possível dizer que a democratização da escola não se reduz
aos processos de escolha do diretor. A gestão democrática vai além, acena para uma mudança
na distribuição do poder no interior da escola, isso porque,
caracteriza-se pela participação coletiva das decisões substantivas, que definem a organização e funcionamento da escola. Pressupõe uma organização calcada na colaboração recíproca, na convivência sadia e no diálogo. Resulta, naturalmente, de concepções claramente definidas no Projeto Político-Pedagógico a partir da visão de Mundo, de Sociedade e do Homem. Estas concepções indicam caminhos, que direcionam os profissionais da escola a definirem a educação a ser oferecida e os procedimentos a serem desenvolvidos. Permitem romper com as imposições burocráticas que impedem a apropriação e reapropriação de decisões, ao atribuir uma multiplicidade de caminhos, definidos pelo coletivo dos educadores neste processo de participação, socialização de conhecimentos e ações. Os responsáveis pela gestão escolar devem criar um ambiente estimulador dessa participação. (VALERIEN, 2000, p. 43).
Concluindo, bastante adequado é tomar as palavras de Demo (1999, p. 18) quando diz que:
Participação é conquista para significar que é um processo, no sentido legítimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, sempre se fazendo conquista processual. Não existe participação suficiente, nem acabada. Participação que se imagina completa, nisto mesmo começa a regredir.
Portanto, a participação no contexto escolar só existe na medida em que seus
integrantes a conquistam, ou seja, se interessam pelas suas atividades e tomam iniciativa de
participar do trabalho que é realizado nesse espaço. Desta forma acabam conquistando outros
espaços e inserindo-se como membros efetivos daquela comunidade. È preciso, pois, abrir
espaços à participação, primeiro no âmbito escolar e, posteriormente como cidadão em todas
as instâncias sociais.

CAPÍTULO III – PERSPECTIVAS TEÓRICO-PRÁTICAS
3 GESTÃO ESCOLAR NUMA VISÃO EMANCIPADORA
3.1 A participação como princípio básico da gestão democrática
O grande desafio que hoje se impõe a toda e qualquer instituição escolar é formar para
a cidadania o que, em última instância, significa que a escola deve ser aberta e estar a serviço
da comunidade através de uma gestão que envolva todos os setores preocupados com sucesso
da educação. Assim posto, a democratização das organizações escolares representa um
elemento crucial de mudança.
De acordo com Ferreira e Aguiar (2000, p. 26):
a gestão democrática da educação é hoje um valor já consagrado [...]. É indubitável sua importância como um recurso de participação humana e de formação para a cidadania. É indubitável sua necessidade para construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É indubitável sua importância como fonte de humanização [...] A gestão democrática se reveste, sob esse ponto de vista, de um canal de participação e de aprendizado para o jogo democrático e como contribuição efetiva para a reflexão e a ação cidadã.
Para Freire (1997, p. 114):
as escolas democráticas devem ser consideradas como espaços de educação crítica, de participação e de cidadania democrática [...] são forçosamente espaços abertos e propiciadores da participação de professores e alunos, de pais e mães e de outros setores da comunidade local; não de uma participação encenada, ou reduzida a formalismos e a rituais eleitorais que periodicamente se repetem, nem de uma participação subordinada, sujeita a vigilância e a controle, qual técnica ou instrumento de gestão. Mas sim de uma participação real, verdadeira, interveniente no processo da tomada de decisões, orientada não apenas para alcançar resultados ou produtos, mas também, substantivamente, enquanto processo educativo e prática pedagógica.
Em comentários sobre a gestão democrática da educação Ferreira (2004, p. 16)
afirma que esta
[...] é hoje um valor já consagrado [...]. É indubitável sua importância como um recurso de participação humana e de formação para a cidadania. É indubitável sua necessidade para construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É indubitável sua importância como fonte de humanização.
Certamente, a participação da comunidade, dos alunos, professores e funcionários na
gestão há de proporcionar um melhor funcionamento da escola, com relações mais
humanizadas de quem nela convive; produção de conhecimentos mais significativos para a
vida dos alunos, além de sua emancipação e da afirmação da autonomia, o que vai ao
encontro do pensamento de Libâneo (2005) ao afirmar que na gestão democrática há que
valorizar a participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisão, apostando
na construção coletiva dos objetivos e do funcionamento da escola através do diálogo, do
consenso. Nesse sentido, Freire (1996, p. 119) garante que "só decidindo se aprende a decidir
e só pela decisão se alcança a autonomia".

A participação, por conseguinte, significa estar inserido nos processos sociais de
forma efetiva e coletiva, opinando e decidindo sobre planejamento e execução.
Para Ferreira (2001, p. 11):
o ato de participar pode ser expresso em diversos níveis ou graus, desde a simples informação, avançando para opinião, voto, proposta de solução de problemas, acompanhamento e execução das ações, e que deve gerar um sentimento de co-responsabilidade sobre as ações. O que importa, então, é que os atores sociais da escola tenham conhecimento e clareza do sentido do termo, da responsabilidade que o mesmo encerra e das formas possíveis de participação no interior de uma gestão democrática para que, assim, eles possam vivenciar o processo.
Segundo Bordignon e Gracindo (2004) a gestão democratizada da escola consiste na
mediação das relações intersubjetivas, compreendendo, antes e acima das rotinas
administrativas, a identificação das necessidades; a negociação de propósitos; a definição
clara de objetivos e estratégias de ação; linhas de compromisso; coordenação e
acompanhamento de ações pactuadas e mediação de conflitos. Nesse sentido, a gestão
democrática, precisa ser vista, não somente como premissa básica do novo paradigma, mas
como um objetivo a ser perseguido e aprimorado na prática do cotidiano escolar. Assim, ao
promover a participação e compromisso da comunidade em seu entorno, a gestão democrática
consegue ultrapassar a estrutura física da escola e estabelecer um elo de co-responsabilidade
com a comunidade externa, a quem na realidade a escola pertence.
Importa observar que a escola, enquanto instituição política e social acha-se voltada à
formação e organização de indivíduos aptos ao exercício da cidadania ativa. Em outras
palavras, como esclarecem Gutierrez e Catani (1998, apud BORDIGON e GRACINDO,
2004), para a formação de cidadãos para o embate, a leitura de mundo e o debate, levando a
posturas que possam construir novos posicionamentos na prática social e nas estruturas de
poder mais amplas da sociedade, ou seja, mudar o mundo emancipar-se individualmente e
coletivamente, emancipando o outro. Essa retomada da função política e social da escola a
situa no exercício de um importante papel, o de contribuir para a organização da sociedade
civil e, portanto, tornar-se agente de transformação.
Para Luck (2006) a gestão democrática participativa implica consciência de todos
responsáveis pelo processo educacional. Em outras palavras, a gestão democrática
participativa exige uma “mudança de mentalidade de todos os membros da comunidade
escolar” (GADOTTI, 2006, p.5) e, à medida que “a consciência social se desenvolve, o dever
vai se transformando em vontade coletiva” (CARVALHO, 1979, apud LUCK, 2006, p.56).
Portanto, a gestão democrática implica efetivação de novos processos de organização e gestão
baseados em uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão
(BRASIL, 2005).

Corroborando com essas idéias Veiga (2003, p. 115) afirma que o grande desafio é “o
compromisso e a participação ativa dos integrantes da comunidade escolar, mobilizados pela
reflexão crítica, de projetarem-se para o futuro”
Pertinente é observar que para que essa participação se concretize é necessário, em
primeiro lugar, que ela seja entendida como processo a ser construído coletivamente; em
segundo lugar, é preciso que a dinâmica escolar seja repensada para além de processos
autoritários. Por conseguinte, para que a escola seja um espaço possível à gestão democrática,
é necessário a construção e o estabelecimento de “relações de cooperação, partilhamento de
poder, diálogo, respeito às diferenças, liberdade de expressão como garantia da vivencia de
processos democráticos, a serem efetivados no cotidiano, em busca da construção de projetos
coletivos” (GADOTTI, 2006, p.8). Nessa perspectiva, vale mencionar Libâneo (2004) que a
gestão democrática se reveste de um canal de participação e de aprendizado para o jogo
democrático e como contribuição efetiva para a reflexão e a ação cidadã.
Paro (2001, p.27) diz que:
não existem modelos pré-determinados de participação. É preciso que cada tentativa construa seu próprio caminho que se faz ao caminhar refletindo sobre cada passo. A participação é necessária e pressupõe principalmente tomada de decisão, onde a execução é apenas uma conseqüência, e apresenta vários obstáculos, porém o primeiro requisito é não desistir. Assim, pode-se tentar fazer da escola estatal algo realmente público, o que pode acontecer quando a população tiver acesso a uma boa educação. Isso só será possível com a participação da comunidade na escola, para partilhar o poder entre os interessados na qualidade do ensino.
Em resumo, a gestão escolar emancipatória sugere reconstruir a escola em termos de
participação, portanto, da ação de todos como ato político, como tomada de decisão. Deste
modo, a participação é conquista coletiva cotidiana através da mobilização e do envolvimento
de todos.
3.2 A autonomia como fundamentos da concepção democrático-participativa da gestão escolar
O termo autonomia definido como a capacidade das pessoas autogovernarem-se, de
decidir sobre si própria, quando aplicado a uma instituição “significa “ter poder de decisão
sobre seus objetivos e suas formas de organização, manter-se relativamente independente do
poder central, administrar livremente os recursos financeiros” (LIBÂNEO, 2001, p. 115).
Em se tratando de instituição escolar, autonomia significa a possibilidade de traçar seu
próprio caminho, envolvendo professores, alunos, funcionários, pais e comunidade,
implicando co-participação e co-responsabilidade pelo sucesso da instituição. Desta forma, a
autonomia não é um “valor absoluto, mas sim um valor que se determina nas relações de

interação social” (VEIGA, 2003, p. 47). Nesse sentido, a autonomia a é um dos instrumentos
democratizantes da gestão escolar.
Conforme esclarece Luck, (2006, p. 62):
o conceito de autonomia está relacionado a tendências mundiais de globalização e mudança de paradigmas. Descentralização de poder, democratização de ensino, autogestão, flexibilização, cooperativas, são alguns conceitos relacionados a essas mudanças. A autonomia escolar evidencia-se como uma necessidade quando a sociedade pressiona as instituições para que promovam mudanças urgentes e consistentes.
Embora complexo, a autonomia é um processo dinâmico e necessário ao
desenvolvimento das instituições escolares, na medida em que se acha voltado ao atendimento
da necessidade de liberdade e de independência do ser humano o que, em última instância há
de garantir “espaços e oportunidades para a iniciativa e a criatividade que são
impulsionadoras do desenvolvimento” (LUCK, 2006, p.15).
Para Silva (1996, p. 117)
a autonomia é a conquista que ocorre mediante um processo de humanização que exige liberdade para que apareça com responsabilidade. Não basta querer que a unidade escolar se torne autônoma e nem mesmo autorizá-la, mediante decretos, a isso. É necessário investir recursos na formação de sujeitos coletivos que possam assumir o comando dessa autonomia.
No que concerne ao marco legal que trata do exercício da autonomia, merece
destaque o artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN n. 9394/96)
“[...] os sistemas de ensino oportunizarão as escolas públicas da educação básica,
progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira seguindo as
normas gerais do direito financeiro público”.
Ainda a LDBN, em seu artigo 12, inciso I, faz deliberação específica sobre a
autonomia pedagógica, ao explicitar a responsabilidade da escola de elaborar a sua proposta
pedagógica: “[...] os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica
[...]”.
Pertinente é esclarecer que a autonomia estabelecida no texto legal inclui a
ampliação progressiva da autonomia pedagógica, administrativa e financeira nas escolas.
Abrange, portanto, três dimensões básicas articuladas entre si.
A autonomia pedagógica diz respeito à missão da escola de elaborar sua proposta
pedagógica e de elaborar e gerir seus planos e projetos através da participação de toda
comunidade escolar, ou seja, refere-se a medidas basicamente pedagógicas, necessárias ao
trabalho de elaboração, desenvolvimento, avaliação do projeto político pedagógico; a
autonomia administrativa refere-se à organização da escola em sim nela destaca-se o modelo

de gestão adotado, implicando relações inter e extra-escolares, ou seja, entre os participantes
da escola e da escola com a comunidade em que está inserida; já a autonomia financeira leva
em conta a administração tanto do ponto de vista de todos os recursos a ela destinados
quanto apenas parte dos recursos que lhes são repassados.
Veiga (2003, p. 64) refere-se à autonomia como
[...] algo a ser assumido pela própria Escola. Não se pode confundir ou permitir que se confunda a autonomia da Escola com apenas a criação de determinadas decisões administrativas e financeiras [...] A busca de autonomia em cada escola é a oportunidade de revisão do compromisso do magistério com a tarefa educativa [...] A autonomia escolar não será uma situação efetiva se a própria Escola não assumir compromissos para com a tarefa educativa [...]
Ainda, sobre os três eixos da autonomia versados na LDB (1996), Veiga (2003, p.
15-6) esclarece que
[...] o eixo administrativo representa um espaço de negociação permanente por parte dos profissionais diretamente envolvidos, os quais exercem esta autonomia ao definirem formas de participação no contexto escolar, ao articularem o projeto político-pedagógico com outros planos e programas da escola; ao constituírem o Conselho Escolar, como um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador [...] O eixo financeiro, por sua vez, diz respeito aos recursos provenientes dos sistemas aos quais as escolas estão vinculadas e aqueles captados por elas próprias, tendo em vista concretizar as ações programadas no projeto político-pedagógico [...] A autonomia pedagógica está estreitamente ligada à identidade da escola, à sua missão social, à clientela, aos resultados e, portanto, ao projeto político-pedagógico em sua essência [...] O eixo pedagógico da autonomia encontra-se interligado aos demais que prestam suporte para o desenvolvimento das ações político-pedagógicas necessárias à elaboração, implementação e avaliação do projeto educativo [...]
O exercício da autonomia como valor intrínseco à instituição escolar deve-se voltar,
necessariamente, para a função maior da escola que é o processo de ensino-aprendizagem e a
formação da cidadania. Neste sentido, a autonomia constitui e é constituída como prática
político-pedagógica, prática esta cujo foco central é o próprio fortalecimento da instituição
escolar e sua inserção crítica na sociedade.
Em síntese, o exercício da autonomia deve ser entendido como expressão da
democratização escolar trata-se, portanto de uma prática desenvolvida a partir da ação
conjunta dos sujeitos participantes do fazer escolar.

3.3 Práticas em gestão e práticas emancipadoras
A gestão escolar democrática implica relações de poder que se estabelecem por
processos coletivos e por mecanismos de reflexão e decisão. Segundo Maia e Lima (2006, p.
32),
esse modelo de gestão se expressa no aprendizado de práticas democráticas, efetivando-se como exercício permanente de formação de sujeitos participativos na organização, na gestão da Escola, no currículo, e deve estar articulada a um projeto de escola, de educação e de sociedade, permeado por uma dimensão epistemológica, política, ética e estética. Deve ser um processo político calcado na participação maciça dos sujeitos interessados, com garantia da implementação da vontade da maioria dos sujeitos participantes e com o compromisso de pleno acesso às informações a todos. É preciso compreender a educação como direito de todos, que a escola estatal deve estar a serviço do interesse da coletividade.
Numa perspectiva emancipadora a gestão democrática escolar se constrói pela
participação e colaboração, uma vez que não se pode pensar em emancipação sem o
envolvimento entre os indivíduos, por isso mesmo nesse modelo de gestão há que se lançar
mão de instrumentos, que no dizer de Veiga (2003, p. 72)
conduzem ao debate, à co-participação e ao comprometimento dos segmentos da escola e da comunidade em seu entorno, que se traduz dentro do microcosmo da escola na realização de eleições diretas para diretores e na utilização dos Conselhos Escolares como instâncias deliberativas e fóruns consultivos, e no macrocosmo social no estímulo à participação em outras instâncias organizadas da sociedade.
Recorrendo a Wittmann (2001), vale observar que as construções de ambientes
participativos e democráticos precisam de alguns encaminhamentos como garantia de
espaços, de tempos de discussão, de envolvimento, de planejamento. Desse modo as práticas
que possibilitam a construção coletiva, a participação e a cooperação favorecem a construção
de práticas emancipadoras. Nesse movimento, docentes e equipe diretiva relacionam-se,
interagem, trocam conhecimentos, ampliam saberes de modo a se constituírem sujeitos em
processo de construção da autonomia. Deste modo, “a escola é o lugar privilegiado de
convivência de sujeitos em construção. Este espaço só pode ser gerido autogestionariamente,
contando com o engajamento de todos os envolvidos” (WITTMANN, 2001, p.34).
Para Dourado (2000), a gestão democrática é o resultado de ações construídas
cotidiana e coletivamente nas escolas. Qualquer política de democratização deve levar em
conta as necessidades do contexto. Nesse sentido é que a prática da gestão pode ser
democrática e participativa, enquanto resultado das ações voltadas às necessidades e ao
estabelecimento de objetivos em comum, com vistas ao alcance de determinado fim.
Veiga (2003, p. 275) chama atenção para o fato de que as práticas emancipadoras
expressam um sentido de ruptura e mudança, na medida em que

É um meio de engajamento coletivo para integrar ações dispersas, criar sinergias no sentido de buscar soluções alternativas para diferentes momentos do trabalho pedagógico-administrativo, desenvolver o sentimento de pertença, mobilizar os protagonistas para a explicitação de objetivos comuns definindo o norte das ações a serem desencadeadas, fortalecer a construção de uma coerência comum, mas indispensável, para que a ação coletiva produza seus efeitos.
Na escola, as práticas emancipadoras, conforme esclarece o autor supracitado, se
concretizam com o funcionamento de efetivo de instancias colegiadas, que se constituem
como espaços institucionais democráticos nos quais pais, professores, funcionários e gestores
poderão construir posições por meio do debate racional, resultando no Projeto Político
Pedagógico. Dentre as instâncias que se tornam canais institucionais e devem garantir a
participação da comunidade, destacam-se: os Conselhos Escolares e o Conselho de Classe.
O Conselho Escolar, conforme esclarece Gadotti (1995, p.48):
é o órgão mais importante de uma escola autônoma, base da democratização da gestão escolar. Mas, para que os conselhos de escola sejam implantados de maneira eficaz, é necessário que a participação popular, dentro e fora da escola, constitua-se numa estratégia explícita da administração.
Corroborando esta idéia, Veiga (2003) refere-se ao Conselho Escolar como instância
máxima que cotidianamente coordena a gestão escolar, na medida em que é responsável pelo
estudo, planejamento, debate, deliberação, acompanhamento, controle e avaliação das ações
da escola no campo pedagógico, administrativo e financeiro. Ainda para o autor, a
descentralização da gestão requer mecanismos concretos para um novo funcionamento da
instituição escolar que deve ser aberta ao público e, portanto, aberta à construção cidadã de
sua própria história. Nesse sentido, a proposta mais viável para a descentralização é a criação
e fortalecimento dos conselhos escolares, formados por todos os segmentos da comunidade
escolar com função consultiva, deliberativa, normativa e fiscal. Pais, professores, alunos,
funcionários, direção, equipe pedagógica e comunidade organizada, reúnem-se para sugerir
medidas e/ou para tomar decisões. O Conselho Escolar é um “espaço de debates e discussão
que permite aos professores, funcionários, pais e alunos explicitem seus interesses e suas
reivindicações" (VEIGA, 2003, p.175).
O Conselho Escolar é, pois, a instância de elaboração, deliberação, acompanhamento,
avaliação e aprovação do Projeto Político-Pedagógico da instituição escolar, portanto, o órgão
coletivo de decisões e de análise de toda a organização e funcionamento da escola. Por
conseguinte, o Conselho Escolar é “o sustentáculo do projeto político-pedagógico possibilita,
assim, a organização do trabalho da escola alicerçado na participação coletiva e instituindo
práticas democráticas no dia-a-dia escolar” (GADOTTI, 1995, p.54).
Importante é esclarecer que um projeto político-pedagógico, construído com a
participação de todos, considerando a existência dos Conselhos Escolares, tem importância

fundamental na implementação dessa escola na nova sociedade do conhecimento, balizada
por valores éticos de inclusão social e de saberes. Portanto,
o projeto pedagógico ao se constituir em processo participativo de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições, rompendo com a rotina do mundo pessoal e racionalizado da burocracia e permitindo relações horizontais no interior da escola (Veiga, 2003, p. 178)
Segundo Paro (2001) o trabalho do conselho escolar implica compartilhamento do
processo de tomada de decisão e engajamento participativo de todos os que estão
comprometidos com as finalidades da escola.
Pertinente é observar que os principais instrumentos que visam garantir a gestão
democrática são: o Projeto Político Pedagógico da escola (PPP) e o Conselho Escolar.
Importa também dizer que a fortalecimento do Conselho Escolar está relacionado com as
competências decorrentes da organização e funcionamento da escola. Fortalecimento este que,
sem dúvida, será um grande salto de qualidade para consolidação da gestão democrática.
Em comentários sobre o Conselho Escolar, no exercício de suas funções, Veiga (2003)
ressalta que se deve estar atento às críticas, às dificuldades e barreiras que impedem os bons
resultados escolares. Esta crítica permite um redirecionamento do percurso da educação
oferecida. Acompanhar os desempenhos dos alunos e professores é tarefa urgente para
elevação do nível de competência intelectual, técnica e cultural do pessoal do magistério
responsável que são pela qualidade da educação. É nesse sentido que se entende o papel do
Colegiado, quando congrega representantes de todos os segmentos da escola e funciona como
órgão político, na medida em que cada componente do grupo exerce seu papel, unificando e
fortalecendo os interesses maiores detonadores do Projeto Político-Pedagógico Escolar.
Assim, este Colegiado terá sentido se for capaz de contribuir para a construção de uma nova
escola. Ele será competente quando realiza as ações necessárias para superar as barreiras
cerceadoras da educação desejada.
O Conselho de Classe é um órgão colegiado, de natureza consultiva e deliberativa em
assuntos didático-pedagógicos com a responsabilidade de analisar as ações educacionais,
indicando alternativas que busquem garantir a sua efetivação no processo ensino e
aprendizagem. Acha-se fundamentado no Projeto Político-Pedagógico, reunindo professores
das diversas disciplinas, juntamente com a direção, equipe pedagógica e alunos representantes
de turma, para refletir, avaliar e propor ações no processo pedagógico da escola.
De acordo com Dalben (2005, p. 31):

o Conselho de Classe é um órgão colegiado, presente na organização da escola, em que vários professores das diversas disciplinas, juntamente com os coordenadores pedagógicos, ou mesmo os supervisores e orientadores educacionais, reúnem-se para refletir e avaliar o desempenho pedagógico dos alunos das diversas turmas, séries ou ciclos.
Ainda, para o autor supracitado, o Conselho de Classe tem o seu papel dinamizador e
constitutivo do Projeto Político-Pedagógico de uma escola em renovação, na medida em que
possibilita a reflexão-ação-reflexão num processo dialógico e interativo de avaliação da
aprendizagem, das competências, das habilidades, das atitudes dos alunos. Nessa perspectiva,
o objeto de trabalho do conselho de classe é a avaliação da aprendizagem, que sendo analisada segundo critérios amplos, discutidos criticamente, considerando as suas inúmeras contradições poderá atingir o questionamento dos aspectos ligados ao papel social da escola e as implicações políticas de seus processos de decisão na formação do homem, ser social e político. Afirma-se isso, porque o processo de avaliação é um processo dialético, que implica, intrinsecamente, o processo de gestão de novas ações. (DALBEN, 2005, p. 94)
O Conselho de Classe, na medida em que trata da avaliação do ensino situa-se no
âmago do processo de gestão político-pedagógica da escola. Nesse sentido, o Conselho de
Classe deve ser realizado com a participação da comunidade escolar despertando nela o
espírito de colaboração, reflexão e tomada de decisões conjuntas, transformando-se, então,
num espaço de avaliação permanente, com vistas a reorientar a ação pedagógica. Para Cruz
(2005, p.11):
o conselho de classe é um dos espaços mais ricos de transformação da prática pedagógica [...] O conselho de classe participativo representa uma forma de se enfraquecer o autoritarismo da educação, uma vez que amplia espaço para que a comunidade escolar problematize, compreenda e sistematize as questões postas pela prática pedagógica, buscando, no coletivo, no interdisciplinar, no diálogo a tão almejada qualidade da educação.
Além do Conselho Escolar e do Conselho de Classe, instâncias auxiliares como a
Associação de Pais e Mestres e o Grêmio Estudantil são “instituições auxiliares para o
aprimoramento do processo escolar na busca pela realização de uma educação com qualidade
social” (VEIGA, 2003, p. 113-114).
Outro mecanismo citado por Veiga (2003) que, juntamente com as instâncias
colegiadas (Conselho Escolar e Conselho de Classe), pode contribuir para a consolidação da
gestão democrática é a rotatividade no quadro dos dirigentes, através de eleições que, embora
não garantam por si só a democratização no espaço escolar, são momentos significativos para
o exercício da participação.
Em síntese, acreditamos que a participação das instâncias colegiadas é fundamental
para se efetivar o exercício da democracia e da autonomia administrativa, pedagógica e
financeira. Para tanto, é preciso investir, tornar real a participação de toda comunidade por

meio da liberdade de expressão, pela transparência nas decisões, firmando-se no controle
social, na distribuição eqüitativa do conhecimento e dos bens gerados pela sociedade.

CONCLUSÃO
A gestão democrática da escola pública poderá constituir-se num caminho para a
melhoria da qualidade do ensino se for concebida como um mecanismo capaz de inovar as
práticas pedagógicas da escola. Para tanto, sugere-se inicialmente que algumas questões sejam
refletidas.
Em primeiro lugar há que se compreender o projeto político-pedagógico como uma
construção coletiva; em segundo lugar é tarefa imprescindível ouvir a palavra da comunidade
escolar na reivindicação dos direitos fundamentais. Trata-se, portanto, de refletir como se
configurará a participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar e qual o papel
reservado a eles em instâncias colegiadas como o conselho escolar e o conselho de classe.
Além disso, é preciso que o conselho escolar e o conselho de classe sejam entendidos como
mecanismos de participação e sustentação do projeto político-pedagógico capazes de se
problematizarem e buscarem uma escola que, efetivamente, responda aos interesses de sua
coletividade, rompendo com a lógica do individualismo e da competição. Finalmente, é
preciso que professores, funcionários, alunos, pais ou responsáveis e os elementos
representativos da comunidade, comprometidos uns com os outros, sejam capazes de romper
com o hierarquizado, no sentido de inovar a escola a partir de uma concepção emancipatória e
democrática de educação o que, em última instância, significa buscar uma educação que
responda aos interesses coletivos, a fim de gerar inovações e qualidade de vida para todos. É
sob essa perspectiva, que os integrantes da comunidade escolar precisam aprender a exercitar
seu direito de participar e decidir sobre os rumos de sua vida numa articulação entre o local e
o global, entre a unidade e a diversidade, entre a teoria e a prática.
Em síntese, a gestão da escola, para se constituir a partir do fundamento democrático,
deve ter como princípios básicos: participação e autonomia. Pedagogicamente esse processo
exige que a escola seja capaz de garantir o processo de formação do cidadão, que envolve não
apenas o conhecimento e aprendizagem de conteúdos pré-determinados, mas também a
concepção de homem que se quer formar. Concluindo, vale observar que a viabilidade desta
realidade apenas será possível quando superarmos as práticas autoritárias que permeiam as
práticas educativas, e estas serem substituídas por processos de participação coletiva, que
favoreça o desenvolvimento humano, oferecendo novas possibilidades de olhares e ações
educativas

REFERÊNCIAS
ADRIÃO, T.; CAMARGO, R. B. A gestão democrática na Constituição Federal de 1988. In: OLIVEIRA, R. P., ADRIÃO, T. (orgs) Gestão, financiamento e direito à educação: análise da LDB e da Constituição Federal. São Paulo: Xamã, 2001.
ANTUNES, A. Aceita um Conselho?: como organizar o colegiado escolar. São Paulo: Cortez/ 2002.
BARROSO, J. O estudo da autonomia da escola: da autonomia decretada à autonomia construída. Porto: Porto Editora, 2001.
BOOG, G. Os Novos Paradigmas do Mundo dos Negócios. In: Manual de Treinamento e Desenvolvimento. São Paulo: ABTD, 2003.
BORDIGNON, G. Paradigmas na Gestão da Educação: Algumas Reflexões. In: Revista Linhas Críticas, n. 2, Brasília: UnB, abr./jul., 1996 p.14 -19.
______. Gestão Democrática do Sistema Municipal de Educação. In: GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. (Org.). Município e Educação. São Paulo: Cortez, 1993, p. 135-171.
BORDIGNON, G.; GRACINDO, R.V. Gestão da educação: o município e a escola. In: FERREIRA, N.S.C. Gestão Democrática da Educação: atuais tendências novos desafios. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001, p. 124-157.
______. Conselhos Escolares: uma estratégia de gestão democrática da educação pública. Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Brasília: MEC/SEB, 2004.
BORGUETTI, R. de C.T. A municipalização das Escolas de Ensino Fundamental de Marília. Dissertação (Mestrado em Educação). 2000. Disponível em: http/www.uep.com.br. Acesso em 12/09/2009.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Câmara dos Deputados/ Coordenação de Publicações, 1998.
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei n. 9.394. 8. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
BRASIL. Plano Nacional de Educação. Lei n. 10.127, de 09/01/2001. Brasília: MEC, 2001.
COSTA, M. de F. Administração escolar: um problema educativo ou empresarial? São Paulo: Cortez, 1994.
CURY, C.R.J. Gestão democrática da educação: exigências e desafios. In: Revista Brasileira de Política e Administração da Educação. n.2. São Bernardo do Campo, 2002, p. 13-27.
DAUSTER, T. Navegando contra a corrente? O educador, o antropólogo e o relativismo. In: BRANDÃO, Z. (org.) A crise dos paradigmas e a educação. São Paulo: Cortez, 1996, p.67-87.
DEMO, P. Participação é conquista. São Paulo: Cortez, 1988.
DOURADO, L. F. A Escolha de Dirigentes Escolares: políticas e gestão da educação no Brasil. In: FERREIRA, N.S.C. Gestão Democrática da Educação: atuais tendências novos desafios. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
FERREIRA, N.S.; AGUIAR, M.A. da. Gestão Democrática da Educação: Atuais tendências, novos desafios. São Paulo. Cortez, 2000.

______. Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2004.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo, Paz e Terra.
______, Paulo. Pedagogia da Esperança: um Reencontro com a pedagogia do oprimido. 4. ed. São Paulo, Paz e Terra.
______, P. Política e educação: ensaios. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2003.
FRIGOTTO, G. Os delírios da razão: crise do capital e metamorfose conceitual no campo educacional. In: GENTILI, Pablo (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
GADOTTI, M. Escola Cidadã: uma aula sobre a autonomia da escola. São Paulo: Cortez, 1992.
______. A autonomia como estrategia da qualidade de ensino e a nova organização do trabalho na escola. Petrópolis: Vozes, 1995.
GARCIA, L. T. dos S. A cultura nas organizações escolares: proposições, construções e limites. In: CABRAL NETO, A. et al. (Org.). Pontos e contrapontos da política educacional: uma leitura contextualizada de iniciativas governamentais. Brasília: Liber Livro, 2007, p. 85-113.
HOUAISS, A. Dicionário Houais da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
LIBANEO, J.C.; OLIVEIRA, J.F. de; TOSCHI, M.S. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 2. ed. Sao Paulo: Cortez, 2005.
LIMA, L. Produção e reprodução de regras: normatismo e infidelidade normativa na organização escolar. Porto Alegre: Inovação, 2001.
LUCK, H. Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à formação de seus gestores. In Revista Em aberto, n. 72. Brasília, fev. /jun.2000, p. 11-33.
______. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. 4.ed. Rio de Janeiro: DP&A ,
2001.
MACEDO, B. Projeto educativo da escola: do porquê construí-lo à gênese da construção. Porto Alegre: Inovação, 2000.
MICHAELIS, A. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2005.
MOTTA, F.C. Administração e participação: reflexões para a educação. In: Revista da Faculdade de Educação. n. 2. São Paulo: FEUSP, 2000, p. 199-206.
OLIVEIRA, D.A. Mudanças na organização e na gestão do trabalho na escola. In: OLIVEIRA, D.A. e ROSAR, M.F.F. (Orgs.). Política e Gestão da Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
PARO, H. Administração Escolar: Introdução Crítica. 10. Ed. São Paulo: Cortez, 2001.
PIMENTA, S.G. Temas pedagógicos: gestão pedagógica. Disponível em: http//www.crmariocovas.sp.gov.br.2005. Acesso em: 20/09/2009.
PINTO, C. Escola e autonomia. 2. ed. In A. Lisboa: Texto Editora, 2000.
ROMÃO, J.E. Paradigmas da Modernidade e Educação. In : Revista Edu. Bras., n. 34. Brasília, 1995, p.11-32.

ROSSI, V.L.S. de. Desafio à escola pública: tomar em suas mãos o seu próprio destino. In: Cadernos CEDES. Campinas/SP: Cortez, 2001, p. 92-107.
SEGRE, M; SILVA, F.L. e.; SCHRAMM, F.R. O contexto histórico, semântico e filosófico do princípio de autonomia. Disponível em: http//WWW.portalmédico.org.br/revista. Acesso em 09/10/2009.
VALERIEN, J. Gestão da escola fundamental: subsídios para análise e sugestão de aperfeiçoamento. São Paulo: Cortez, 2002
VIEIRA, S.L. Escola: função social, gestão e política educacional. In: FERREIRA, N.S.C.; AGUIAR, M.A.S. Gestão educacional: impasses, perspectivas e compromissos. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2004.
______. Educação e gestão: extraindo significados da base legal. In: LUCE, M.B.; MEDEIROS, I.P. de (orgs.). Gestão escolar democrática: concepções e vivencias. Porto Alegre: UFGS, 2006.
WITTMANN, L.C; GRACINDO, R.V. O estado da arte em política e gestão da educação no Brasil: 1991 a 1997. Campinas: Autores associados, 2001.
XAVIER FILHO, M.S. Por que mudar os paradigmas? São Paulo: Cortez, 2005.