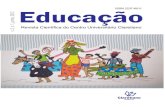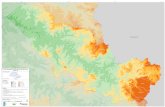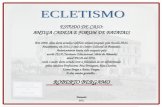EDUCAÇÃO 7 Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 7-8, 2014 Editorial / Editor’s note Prezado...
Transcript of EDUCAÇÃO 7 Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 7-8, 2014 Editorial / Editor’s note Prezado...
ISSN 2237-6011
EDUCAÇÃORevista Científica do Claretiano – Centro Universitário
v. 4, n. 1, janeiro/dezembro 2014
Reitoria / RectorateReitor: Prof. Dr. Pe. Sérgio Ibanor PivaPró-reitor Administrativo: Pe. Luiz Claudemir BotteonPró-reitor Acadêmico: Prof. Ms. Luís Cláudio de AlmeidaPró-reitor de Extensão e Ação Comunitária: Prof. Ms. Pe. José Paulo Gatti
Conselho editorial / Publish CommitteProf.ª Dra. Aline Sommerhalder (UFSCar)Prof. Dr. Ascísio dos Reis Pereira (UFSM)Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno (UFRN)Prof.ª Dra. Ana Cristina Nassif Soares (UNESP)Prof. Dr. Cesar Aparecido Nunes (UNICAMP)Prof.ª Dra. Claudete Paganucci Rubio (CLARETIANO)Prof.ª Dra. Cristina Satiê de Oliveira Pátaro (UNESPAR)Prof. Dr. Danilo Seithi Kato (UFTM)Prof. Dr. Everton Luis Sanches (CLARETIANO)Prof. Dr. Fábio Ricardo Mizuno Lemos (IFTM)Prof. Dr. Fábio Pestana Ramos (UNIMONTE)Prof. Dr. Flávio Henrique Dias Saldanha (UFTM)Prof. Dr. Francisco Jorge dos Santos (UFAM)Prof. Dr. Henry Marcelo Martins da Silva (UFMS)Prof.ª Dra. Ida Mara Freire (UFSC)Prof. Dr. Jose Barreto dos Santos (UEMS)Prof. Dr. José Claudinei Lombardi (UNICAMP)Prof. Dr. José Luis Sanfelice (UNICAMP)Prof.ª Dra. Luciana Pedrosa Marcassa (UFSC)Prof. Dr. Luiz Gonçalves Junior (UFSCar)Prof. Dr. Marcelo Donizete da Silva (UFOP)Prof. Dr. Paulo Cesar Antonini de Souza (UFMS) Prof. Dr. Paulo Eduardo V. de Paula Lopes (CLARETIANO)Prof. Dr. Reinaldo Sampaio Pereira (UNESP, UNICAMP e UNEP)Prof. Ms. Robson Amaral da Silva (CLARETIANO)Prof. Dr. Samuel Mendonça (PUC e PUCCAMP) Prof. Dr. Sílvio Sanchez Gamboa (UNICAMP)Prof. Dr. Stefan Vasilev Krastanov (UFMS)Prof.ª Dra. Tatiana Noronha de Souza (UNESP)
Informações Gerais / General InformationPeriodicidade: AnualNúmero de páginas: 112 páginasNúmero de artigos: 6 artigos neste volumeMancha/Formato: 11,3 x 18 cm / 15 x 21 cmImagem de capa: “Escola de Atenas” – Rafael Sanzio
Os artigos são de inteira responsabilidade de seus autores.
Educação Batatais v. 4 n. 1 p. 1-112 2014
ISSN 2237-6011
Revista Científica do Claretiano – Centro Universitário
EDUCAÇÃO
© 2014 Ação Educacional Claretiana
Equipe editorial / Editorial teamEditores responsáveis: Prof. Dr. Everton Luis Sanches, Prof.ª Dra. Maria Cecília de Oliveira Adão e Prof. Rafael Menari Archanjo
Equipe técnica / Technical staffNormatização: Dandara Louise Vieira MatavelliRevisão: Felipe AleixoProjeto gráfico: Wagner Segato dos SantosCapa: Raphael Fantacini de Oliveira
Direitos autorais / CopyrightTodos os direitos reservados. É proibida a reprodução, a transmissão total ou parcial por qualquer forma e/ou qualquer meio (eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação e distribuição na web), ou o arquivamento em qualquer sistema de banco de dados sem a permissão por escrito do autor e da Ação Educacional Claretiana.
Permuta / ExchangeOs pedidos de permuta devem ser encaminhados à Biblioteca da Instituição:
Claretiano – Centro UniversitárioRua Dom Bosco, 466 – Castelo14300-000 – Batatais - SPTel. (16) 3660 [email protected]
Bibliotecária / LibrarianAna Carolina Guimarães – CRB-8/9344
370 E26 Educação : revista científica do Claretiano - Centro Universitário – v.4, n.1 (dez. 2014) -. – Batatais, SP : Claretiano, 2014. 111 p. Anual. ISSN: 2237-6003 1. Educação - Periódicos. I. Educação : revista científica do Claretiano – Centro Universitário.
CDD 370
Sumário / Contents
Editorial / Editor’s note ............................................................ 7
ARTIGO ORIGINAL / ORIGINAL PAPER
O conhecimento e os desafios da educação no mundo contemporâneo ........................................................................... 9Knowledge and the challenges of Education in the contemporary world
Teoria de Henri Wallon e a formação psicológica do professor de Educação Física ..................................................... 21Henri Wallon’s Theory and the Physical Education teacher’s psychological orientation
Arte: Experiência e Desafio em Escolas de Barreiras ............... 37Art: Experience and Challenge in Schools of Barreiras
O Museu do Desenho da Criança: um estudo da produção gráfica infantil ............................................................................ 55O Museu do Desenho da Criança: a study on the infant graphical production
Pedagogia empresarial e liderança: o diferencial nas organizações competitivas ......................................................... 79Corporate pedagogy and leadership: the differential in competitive organizations
A importância do estudo de Metodologia da Pesquisa Científica para o desenvolvimento do aluno de licenciatura ..... 93The importance of studying Scientific Research Methodology for the development of licentiate students
Política Editorial / Editorial Policy .......................................... 105
7
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 7-8, 2014
Editorial / Editor’s note
Prezado leitor,Mais uma vez, temos a satisfação de lançar a nova edição da
Revista Educação do Claretiano – Centro Universitário. Nela, a tônica privilegiada foi a prática docente, sua função, compreensão e organização.
Podemos considerar que, com os avanços frequentes nos es-tudos em educação, os recursos voltados para o ensino/aprendiza-gem são ampliados a olhos vistos. Todavia, reconhecemos que os esforços voltados para o uso dos novos recursos didáticos e para o aprofundamento da compreensão do processo educacional necessi-tam da valorização adequada por parte de educadores e educandos. Uma vez que os modismos teóricos podem suplantar a sua ade-quação prática, é preciso repensar não apenas técnicas, conceitos e critérios, mas também a aplicabilidade das inovações a diferentes contextos educacionais.
A reflexão qualificada a respeito da inovação constante é um fator que eleva as possibilidades do educador e se enquadra no per-fil da promoção da educação de qualidade, voltada para além da mera geração de estatísticas; trata-se, sobretudo, do compromisso humano que envolve a relação entre aluno e professor e o desenvol-vimento da cidadania.
Esperamos que os artigos desta edição contribuam para boas reflexões e para o fortalecimento do compromisso de cada um dos leitores com a educação de qualidade para todos no Brasil.
Boa leitura!Prof. Dr. Everton Luis SanchesProf. Rafael Menari ArchanjoEditores da Revista Educação
9
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
O conhecimento e os desafios da educação no mundo contemporâneo
Karina Elizabeth SERRAZES1
Resumo: Este texto resultou de estudos bibliográficos e reflexões sobre a temá-tica “O conhecimento e os desafios da educação no mundo contemporâneo” e tem por objetivo tecer algumas considerações sobre nossa experiência docente e discente, destacando os principais pontos de questionamento e de discussão com base em autores como Benjamin (1933), Larrosa (2002 e 2003), Ortega Y Gasset (2000), Kohan (2003), Ranciere (2002), Gallo (2008), dentre outros, e projetan-do novas indagações e olhares sobre a educação, em especial sobre o processo de ensino e aprendizagem, os currículos e o papel do professor.
Palavras-chave: Conhecimento Contemporâneo. Paradigma. Educação. Expe-riência. Docente.
1 Doutoranda em Educação Escolar pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – Campus Araraquara (SP). Mestre em História pela mesma instituição – Campus de Franca (SP), onde se licenciou em História. Graduada em Pedagogia pelo Claretiano – Centro Universitário, onde também é docente dos cursos de Pós-Graduação e Graduação. E-mail: <[email protected]>.
10
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
Knowledge and the challenges of Education in the contemporary world
Karina Elizabeth SERRAZES
Abstract: This work resulted from bibliographic studies and reflections on “Knowledge and the challenges of Education in the contemporary world” and aims at elaborating some considerations about our experience as both teachers and students, highlighting the main points for our questionings and discussion based on authors such as Benjamin (1933), Larrosa (2002 and 2003), Ortega y Gasset (2000), Kohan (2003), Ranciere (2002), Gallo (2008), among others, and raising new inquiries and perceptions over Education, particularly about the teaching and learning process, the curricula and the teacher’s role.
Keywords: Contemporary Knowledge. Paradigm. Education. Experience. Teacher.
11
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
1. INTRODUÇÃO
No dicionário Aurélio (2009), a palavra “conhecimento” é de-finida como “ato ou efeito de conhecer, ideia, noção de alguma coisa, saber, cabedal científico”. A expressão “cabedal científico”, incluí-da nessa definição, instiga-nos a refletir sobre a natureza do conhe-cimento e, mais especificamente, do conhecimento dito científico. Apesar de haver outros tipos de conhecimento, o dicionário parece indicar com “cabedal científico” uma valorização do conhecimento considerado racional, verificável e sistemático, ou seja, o conheci-mento científico. Mas o que é conhecimento científico afinal?
Poderíamos apresentar muitas definições e, provavelmente, em muitas delas, apareceriam afirmações como “é o conhecimento baseado na experiência, na objetividade, resultante de conjecturas e refutações, de mecanismos de lógica, de um método”.
Esse conceito nos remete à ciência moderna, à revolução científica do século XVI, ao empirismo de Bacon, ao racionalismo de Descartes e aos estudos que os precederam, que dão base ao pa-radigma científico dominante, pautado na objetividade, na neutra-lidade, no pensamento linear, na busca da verdade e no raciocínio lógico-dedutivista e mecanicista.
De acordo com Kuhn (1996, p. 13), o paradigma refere-se aos pressupostos da ciência ou às “[...] realizações científicas universal-mente reconhecidas que, por um determinado tempo, fornecem pro-blemas e soluções-modelo para uma comunidade de profissionais”.
O paradigma constitui-se como uma rede de pressupostos conceituais, teóricos e metodológicos que são compartilhados por uma comunidade científica e que têm na educação formal o seu principal meio para transmitir e internalizá-los.
O paradigma moderno norteou o desenvolvimento científico, econômico e social no contexto da modernidade, mas segundo Se-verino (2007, p. 112):
[...] se tornou limitado para dar conta das novas demandas de pesquisa – sobretudo as ligadas ao mundo social, à cul-tura e ao homem como sujeito central dos fenômenos. E novos paradigmas e formas de pensar a observação dos fe-
12
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
nômenos trouxeram novos olhares para a pesquisa. Do po-sitivismo ao “pluralismo epistemológico” contemporâneo, têm-se, hoje, “várias possibilidades de se entender a rela-ção sujeito/objeto quando da experiência do conhecimen-to, configurando-se várias perspectivas epistemológicas.
As limitações do paradigma científico moderno e as polê-micas em torno delas resultaram em uma crise, que se caracteriza como uma mudança conceitual, de visão de mundo, que envolve a discussão e a reflexão sobre um paradigma emergente e seu impac-to na área da pesquisa científica e na educação como um todo.
A discussão e a reflexão sobre essas questões nortearam nos-sa experiência como discente na disciplina Conhecimento Contem-porâneo: paradigmas e métodos do programa de doutoramento em Educação Escolar (UNESP – Araraquara), que iniciou com a pro-blematização dos fundamentos da ciência, adentrou a questão da crise de paradigmas e culminou com os estudos sobre o conheci-mento contemporâneo, o ensinar e aprender, o saber da experiência, o papel dos professores etc.
A experiência discente somada à experiência como docente do Claretiano – Centro Universitário nas modalidades presencial e a distância acrescentaram novas questões às discussões e refle-xões sobre a temática Conhecimento Contemporâneo: paradigmas e métodos e estimularam uma postura investigativa e autoavaliativa sobre essas vivências.
Assim, este texto resultou das discussões e reflexões sobre nossa experiência discente e docente, da leitura compartilhada da bibliografia de referência da referida disciplina e da tentativa de sistematizar os novos conhecimentos construídos ou lançar um novo olhar sobre os questionamentos em torno do conhecimento e da educação no mundo contemporâneo.
2. A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E A POBREZA DA EXPERIÊNCIA
A sociedade contemporânea é constituída sob o signo da in-formação, da necessidade de opinião, da falta de tempo e do ex-
13
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
cesso de trabalho que empobrecem e, muitas vezes, destroem a ex-periência como aquilo que “[...] nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece, ou o que toca” (LARROSA, 2002, p. 1).
Para Larrosa (2002), nesta sociedade inaugurada pelo adven-to da ciência moderna e pelo capitalismo, as pessoas estão absortas em uma enorme quantidade de conhecimentos e artefatos técnicos, iludidas pelo consumismo e pela rapidez de informações e acon-tecimentos, que são externos ao homem e, por isso, dão pouco ou nenhum sentido à sua vida.
O sujeito moderno não só está informado e opina, mas também é um consumidor voraz e insaciável de notícias, de novidades, um curioso impenitente, eternamente insa-tisfeito. Quer estar permanentemente excitado e já se tor-nou incapaz de silêncio. Ao sujeito do estímulo, da vivên-cia pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada lhe acontece. Por isso a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio e de memória, é também inimiga mortal da experiência (LARROSA, 2002, p. 5).
Essa falta de sentido da existência tem nos colocado diante de uma nova barbárie, como afirmou Benjamim no texto Experiência e Pobreza, de 1933. A barbárie apontada por Benjamin nos idos de 1930 generalizou-se e pode ser acompanhada nos telejornais dia-riamente com as cenas de violência das grandes cidades, com a explosão do consumo, com os suicídios e, no cotidiano, com a falta de expectativa dos jovens em relação ao futuro, o pouco apreço que alguns demonstram por sua vida e pela vida de seus semelhantes, a superficialidade das relações entre os indivíduos, os excessos nos cuidados com a aparência ou a busca desenfreada pelo prazer.
De acordo com Larrosa (2002, p. 6): [...] a vida humana se fez pobre e necessitada, e o conhe-cimento moderno já não é o saber ativo que alimentava, iluminava e guiava a existência dos homens, mas algo que flutua no ar, estéril e desligado dessa vida em que já não pode encarnar-se.
14
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
Nesta sociedade onde não há tempo para a experiência e tudo é rápido, fluido, o conhecimento como acumulação progressiva de verdades objetivas sobre o mundo se estabeleceu como paradigma, mas, contraditoriamente, o patrimônio cultural perdeu seu valor, porque não está mais vinculado à vida das pessoas. Essa desvincu-lação do patrimônio com a vida nos tornou insensíveis aos apelos pela valorização do patrimônio e nos colocou diante de uma escola cujo papel social de transmissão e conservação do patrimônio cul-tural é praticamente impossível de ser cumprido, pois a instituição também perdeu o sentido e está apartada do indivíduo concreto, singular e, ao mesmo tempo, heterogêneo.
A escola que vemos instituída em nossa sociedade abriga as expectativas de formação das futuras gerações para o mundo do trabalho e para a cidadania e vivencia uma crise em relação a sua natureza e função social, pois alguns a concebem na perspectiva da educação enquanto ciência, técnica aplicada; outros, como práxis reflexiva.
O debate sobre a função da escola está longe de ser equacio-nado, pois isso implica refletir sobre questões fundamentais, como “O que é o homem?”, “O que é o conhecimento?”, “O que é a ci-ência?”, “O que é ensinar?” ou “O que é aprender?” e questionar a própria organização da sociedade.
Ao olhar a escola na perspectiva da experiência e do sentido, vemos que sua atuação está muito longe de ser uma experiência dotada de sentido, pois, como afirma Larrosa (2002, p. 3):
[...], a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer pa-rar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos de-talhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a aten-ção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar--se tempo e espaço.
15
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
A escola como está estruturada parece caminhar na contra-mão desse conceito de experiência. A escola está pautada em uma concepção de conhecimento como algo universal, objetivo e impes-soal, do qual podemos nos apropriar e utilizar; entretanto, segundo Larrosa (2002, p. 6), a experiência e o saber que dela resulta se dão na “[...] relação entre o conhecimento e a vida humana”, pois o co-nhecimento é o que se adquire em resposta ao que acontece na vida ou o que lhe propicia sentido. Essa experiência é pessoal, singular e concreta.
Pensar a escola nessa perspectiva é subverter a lógica do acor-do, do consenso e da homogeneidade para uma “lógica da experi-ência que produz diferença, heterogeneidade e pluralidade” (LAR-ROSA, 2002, p. 6). Eis um desafio instigante, pois, como afirma o autor, a experiência tem a dimensão da incerteza; é uma abertura para o desconhecido.
3. O ENSINAR E O APRENDER NA PERSPECTIVA DA EX-PERIÊNCIA E DO SENTIDO
A escola ou “a casa do estudo”, como a denomina Jorge Lar-rosa (2003), é o local que guarda todos os livros, todo o “conhe-cimento” acumulado pela humanidade que deverá ser transmitido pelos professores e apreendido pelos alunos.
Entretanto, nesse lugar, o estudante não tem o silêncio neces-sário para de fato estudar, pois, de acordo com Larrosa (2003, p. 202), essa instituição está cheia de respostas mecânicas e repetiti-vas que excluem o silêncio e impõem uma “[...] série de esquemas de interpretação”.
Para esse autor, na escola que temos hoje, as respostas estão órfãs das perguntas que poderiam lhes dar sentido, e o estudante não encontra seu lugar; por isso, ele não pode e não consegue es-tudar. Nas palavras de Larrosa (2003), o estudante somente poderá estudar num livro queimado.
A partir de seus estudos, vemos como a instituição escola está apartada da vida dos indivíduos e carrega um vazio de sentido.
16
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
Talvez seja por isso que os estudantes de modo geral resistem, e o local que deveria ser de mediação entre o conhecimento e a vida tenta impor normas, transmitir conhecimentos sem significado e criar falsas necessidades.
Sobre essa questão, Ortega y Gasset (2000, p. 91) argumen-tam que o estudante é um ser “[...] a quem a vida impôs a neces-sidade de estudar ciências sem delas ter sentido uma imediata e autêntica necessidade”.
Estudar, nesse sentido, é uma necessidade externa, mediata, que é imposta ao indivíduo, ou melhor: não sendo autêntica e es-pontânea, não tem sentido para o estudante e não o conduz de fato a um saber concreto.
Segundo Ortega y Gasset (2000), essa falta de sentido da es-cola como instituição educativa tem nos colocado diante de uma grande contradição, pois, se, de um lado, temos um enorme pro-gresso da cultura produzida pelo homem, temos, de outro, um ser humano cada vez mais “bárbaro”, embrutecido. Para romper essa contradição, o autor afirma que é
[...] necessário voltar o ensino do avesso e dizer: ensinar é primária e fundamentalmente ensinar a necessidade de uma ciência e não ensinar uma ciência cuja necessidade seja impossível fazer sentir ao estudante (ORTEGA Y GASSET, 2002, p. 101).
Subvertendo essa lógica homogeneizadora da escola, Larrosa (2003) analisa a experiência da leitura como um diálogo entre o dito e o não dito, local onde ressoa o sentido e que possibilita que o ensinar e o aprender aconteçam. Para o autor, a “[...] leitura é uma experiência em que o pessoal fica abandonado como condição da própria experiência” (LARROSA, 2003, p. 104).
Tal experiência, afirma Larrosa (2003), propicia uma verda-deira metamorfose no estudante, pois o despersonaliza e, ao mesmo tempo, abre os seus olhos para um mundo pleno e complexo, um vivenciar que:
[...] não é mais o distinguir, classificar e ordenar o mundo interpretado e administrado, não é mais julgar ou valorar as coisas, não é se apropriar do que existe, mas é um deixar
17
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
aparecer o existente em seu ser, em sua plenitude e em seu distanciamento, isto é, em sua verdade (LARROSA, 2003, p. 113).
A experiência da leitura quando envolve o ensinar e o apren-der implica uma “[...] relação de cada um consigo mesmo e com os outros” (LARROSA, 2003, p. 140) e, principalmente, um abrir-se para o mundo, para o infinito, o desconhecido, pois “[...] depois da leitura, o importante não e que nós saibamos do texto o que nós pensamos do texto, mas o que – com o texto, ou contra o texto ou a partir do texto – nós sejamos capazes de pensar” (LARROSA, 2003, p. 142).
Nessa perspectiva, a leitura não se restringe a dar acesso à homogeneidade do saber, mas ao movimento da pluralidade do aprender, que produz a diferença (LARROSA, 2003), uma experi-ência dotada de sentido, que supera a lógica de uma aprendizagem dogmática e permite ao estudante um deixar escrever, abrindo a possibilidade de novas palavras, novas leituras.
Essa experiência da leitura lança novos olhares sobre a edu-cação e nos instiga a questionar o que é ensinar e o que é apren-der, buscando novos caminhos para pensar o processo de ensino e aprendizagem, os currículos e o papel do professor.
4. NOVOS OLHARES SOBRE A EDUCAÇÃO
A indagação “O que significam ensinar e aprender?” é a ques-tão que dá início ao capítulo terceiro da obra de Kohan (2003), que analisa a infância e a educação a partir dos escritos de Ranciere e, por conseguinte, das experiências de Jacotot na França.
A experiência de Jacotot (apud KOHAN, 2003) instiga-nos a pensar o ensinar como um propiciar de signos e de exemplos, que outros podem seguir e que rompe com o pressuposto dominante de que ensinar seja explicar.
De acordo com o autor, a explicação é uma arte que separou o aprendiz da matéria a aprender; é uma lógica pautada no autorita-rismo, na regressão ao infinito, que cria a ilusão da máxima abran-
18
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
gência, mas que multiplica a incompreensão, produz o embruteci-mento e potencializa a desigualdade.
Para o autor, é preciso que haja um mestre que não explique e que tenha com princípio a igualdade das inteligências, pois somen-te assim conseguiremos tornar a educação verdadeiramente eman-cipadora. Essa emancipação intelectual não pode ser instituciona-lizada, mas praticada, pois é um princípio político que nos remete a outro tipo de educação, outras formas do ensinar e do aprender.
Em uma educação emancipadora, “[...] ensinar é oferecer sig-nos, colocar um exemplo do aprender. Aprender é seguir esses sig-nos por si mesmo” (KOHAN, 2003, p. 201-202), ou seja, somente a intencionalidade do ensinar não garante o aprender, pois só se aprende e só se ensina pelo viés da experiência.
Desse modo, somente se chega ao conhecimento por intermé-dio da experiência. Ao educador cabe a tarefa de promover a expe-rimentação do conhecimento e propiciar encontros e desencontros na perspectiva de libertar, de emancipar o sujeito.
Os estudos de Larrosa (2002 e 2003) conduzem-nos ao ques-tionamento das teorias educacionais prescritas e à reflexão sobre suas contradições como o currículo escolar “engessante” que uni-formiza o pensamento e desqualifica a experiência.
Os questionamentos e reflexões sobre a educação como cam-po de produção de saberes também orientaram a obra de Gallo (2008), que, a partir dos estudos de Deleuze, propõe alguns des-locamentos para pensar as problemáticas da educação no mundo contemporâneo.
O autor analisa a educação a partir da metáfora do rizoma, que, segundo ele, é regido por seis princípios básicos: a conexão, a heterogeneidade, a multiplicidade, a ruptura, a cartografia e a de-calcomania.
Segundo Gallo (2008), toda a educação é um ato político e, como tal, deveria contar com a atuação de um professor militante, vetor de libertação em prol de uma educação menor como um ato de resistência e singularidade, capaz de gerar multiplicidades.
19
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
A aplicação da metáfora ou do conceito de rizoma na or-ganização curricular da escola representaria uma revolução, pois o processo educativo passaria a ser heterogênese, uma produção singular, voltada para a formação de uma subjetividade autônoma e que se abriria para a multiplicidade (GALLO, 2008).
Pensar a educação a partir desse paradigma transversal e rizo-mático implica romper com uma imagem do pensamento pautado em hierarquizações, compartimentalizações e disciplinarizações e lançar novos olhares sobre a educação contemporânea, a escola, os currículos e a avaliação. Tal desafio do pensamento pode ser considerado utopia, como afirma Gallo (2008), mas, talvez, seja o exercício capaz de iniciar o processo de produzir a possibilidade do novo.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura das obras de Benjamin, (1933), Larrosa (2002 e 2003), Ortega y Gasset (2000), Kohan (2003), Ranciere (2002) e Gallo (2008) instigou-nos a refletir sobre nossa vivência como alu-no e como professor e a problematizar as questões educacionais sob o ponto de vista da experiência/sentido.
Essa experiência de leitura e questionamento representou, em alguns momentos, a desilusão com o pensamento já estabelecido sobre o que é educação, sobre o processo de ensinar e aprender e, em outros, o entusiasmo de partilhar angústias e reflexões sobre as contradições de nosso campo educacional.
A desilusão e a partilha convidaram-nos a parar e repensar concepções e práticas, desestabilizaram certezas sobre o universo educacional e colocaram-nos diante de uma pedagogia “profana” do risco, da dúvida e do pensar.
Enfim, pensar a educação na perspectiva da experiência/sentido desmistifica teorias, desconstrói ideias e possibilita novos olhares rumo ao desconhecido, ao imprevisível. E quem sabe essa experiência nos permita, como afirma Larrosa (2003), a libertação do passado e a abertura do porvir.
20
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 9-20, 2014
REFERÊNCIAS
BENJAMIN. W. Experiência e pobreza In: ______. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Rouanet. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 114-119.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio de Língua Portuguesa. 4. Ed. Curitiba: Positivo, 2009.
GALLO, Silvio. Deslocamentos. In: ______. Deleuze e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
KOHAN, Walter Omar. Infância de um ensinar e de um aprender (J. Ranciere). In: ______. Infância. Entre educação e filosofia. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 181-205.
KUHN, Thomas. S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1996.
LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Tradução de João Wanderley Giraldi. Revista Brasileira de Educação, n. 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr. 2002. Disponível em: <http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE19/RBDE19_04_JORGE_LARROSA_BON DIA.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2014.
______. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
ORTEGA Y GASSET, J. Sobre o estudar e o estudante. In: ARENDT, H. et al. Quatro textos excêntricos. Lisboa: Relógio D´ Água, 2000, p. 87-103.
RANCIERE, Jacques. O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
21
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
Teoria de Henri Wallon e a formação psicológica do professor de Educação Física
Ana Martha LIMONGELI1
Resumo: Este estudo teve o objetivo de apresentar princípios da Teoria Walloniana que contribuem com a formação psicológica do professor de Educação Física, especificamente elementos sobre constituição da pessoa. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. As obras estudadas indicaram que os principais pressupostos wallonianos para a formação psicológica do professor de Educação Física são: conceber o desenvolvimento humano como permanente e o conflito como mola propulsora de mudança; entender o desenvolvimento como um processo em aberto; compreender que as forças que atuam nos processos de diferenciação e integração são originadas e mantidas pela interação entre as condições de funcionamento do organismo e atividades do meio em que vive; considerar a atualidade da teoria walloniana em relação aos estudos da neuropsicologia. Assim, tanto o educador como o aprendiz são uma totalidade resultante da integração dos conjuntos funcionais, constituindo-se em uma rede complexa de relações entre eles e fatores orgânicos e sociais.
Palavras-chave: Formação de Professor. Desenvolvimento Humano. Educação Física Escolar.
1 Doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Especialista em Ciências do Esporte pela Universidade do Grande ABC. Licenciada em Educação Física pela Universidade de Santo Amaro (UNISA). Professora e Tutora no Claretiano – Centro Universitário. E-mail: <[email protected]>.
22
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
Henri Wallon’s Theory and the Physical Education teacher’s psychological orientation
Ana Martha LIMONGELI
Abstract: This study aimed at presenting principles of Wallon’s theory that contribute to the psychological orientation of the Physical Education teacher, specifically information about the person’s constitution. For this purpose, a bibliographical research was performed. The studied works indicated that the main Wallon’s assumptions for the Physical Education teachers’ psychological orientation are: conceiving the human development as permanent and the conflict as the driving force of change; understanding the development as an open process; understanding that the forces acting on the processes of differentiation and integration are originated and maintained by the interaction between the operating conditions of the organism and the activities of the environment they live; considering the topicality of Wallon’s theory in relation to studies of neuropsychology. Thus, both the educator and the learner are a whole resulting from the integration of functional sets, constituting a complex network of relations between them and organic and social factors.
Keywords: Teacher Orientation. Human Development. School Physical Education.
23
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
1. INTRODUÇÃO
No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, ocorrem mudanças educacionais advindas, dentre outros fatores, do fortalecimento da compreensão de que o ser humano aprende de forma integral, o que significa uma reorientação na perspectiva da relação ensino/aprendizagem, que passa a ter como base a integração das dimensões motora, afetiva e cognitiva, as quais precisavam ser trabalhadas em conjunto (MIZUKAMI, 1986; CANÁRIO, 1998; CALDEIRA, 2001; CHARLIER, 2001; SADALLA; BACCHIEGA; PIN; WISNIVESKY, 2002; FEITOSA, 2002; TARDIF, 2012; MIZUKAMI; REALI, 2002).
Daólio (1998) considera que as mudanças educacionais, que tiveram início nos anos 1970 influenciaram de tal forma as discus-sões acadêmicas da Educação Física que trouxeram consequências para a formação de professores na área.
Para o autor, os currículos para a formação de professores de Educação Física foram pautados por duas grandes vertentes: a concepção biológica e a concepção cultural da natureza humana. A concepção biológica fundamentou o currículo denominado tradicional-esportivo. Essa vertente priorizava as disciplinas práticas – o ensinar de habilidades esportivas, que ocorre por meio do saber fazer do professor – e estabelecia distinção acentuada entre teoria e prática. Priorizava o desenvolvimento das habilidades de instrução do professor voltadas para o treinamento de seu aluno (DAÓLIO, 1998; DARIDO, 2003; DARIDO, 2004; HOFFMAN; HARRIS, 2002). A concepção cultural da natureza humana, por sua vez, fundamentou o currículo denominado científico. Este priorizava as disciplinas teóricas, o ensinar conceitual em detrimento do saber fazer, estabelecendo valorização da teoria sobre prática. Priorizava o desenvolvimento das habilidades de instrução do professor voltadas para o ensino de seu aluno. Essa vertente avançou em relação ao pensamento da concepção biológica, pois trouxe para primeiro plano as relações pessoais e sociais envolvidas nos processos de ensino-aprendizagem. Apesar desse avanço, não conseguiu captar a totalidade do ser humano, além de não gerar práticas educativas
24
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
concretas e aplicáveis (DAÓLIO, 1998; DARIDO, 2003; DARIDO, 2004, HOFFMAN; HARRIS, 2002).
Costa (2013), Santin (2013), Morais (2013), Daólio (1998), Darido (2003) e Souza (2001) argumentam que a dificuldade para ultrapassar a prática pedagógica tradicional-esportiva ocorre por-que ambas as correntes se fundamentam num modelo que procura descrever e controlar as leis que regulamentam o indivíduo em suas partes, sob um olhar parcial e fragmentado, desconsiderando a inte-gração complexa e contraditória entre a subjetividade, individuali-dade e historicidade da pessoa.
Atualmente, na área da Educação Física, coexistem diferen-tes vertentes e concepções, que apresentam como eixo comum a tentativa de romper com o modelo tradicional-esportivo. Tais ver-tentes “[...] resultam da articulação de diferentes teorias psicoló-gicas, sociológicas e concepções filosóficas” (DARIDO, 2004, p. 18). Essa articulação proporciona a ampliação nos campos da ação e reflexão, possibilitando a construção de novos caminhos para a formação do professor de Educação Física.
Betti (2004) considera que um dos princípios norteadores desses novos caminhos é o princípio de alteridade. Compreender o outro como constitutivo de si mesmo, isto é, compreender que o professor se constitui em função do aluno e vice-versa implica con-siderar o outro – o aluno ou professor – em sua totalidade. Nesse sentido, o conhecimento dos processos de desenvolvimento huma-no é relevante para elaborar propostas educativas adequadas à com-plexidade e singularidade dos alunos e suas atividades motoras.
Henri Wallon2 busca compreender o ser humano em sua tota-lidade dinâmica e complexa desde sua gênese, a partir de um qua-dro explicativo das múltiplas relações que envolvem a pessoa nesse processo de desenvolvimento (TRAN-THONG, 1971; DANTAS, 1983; MAHONEY, 2006, GALVÃO, 1994).
2 Teórico francês com formação acadêmica em filosofia, medicina e psiquiatria. Viveu na França entre 1879 a 1962. Elaborou sua teoria de desenvolvimento humano, uma Teoria Psicogenética, embasado em observações e análises de casos variados.
25
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
Wallon não propõe uma teoria pedagógica, mas sua preocupação em relação à educação levou-o a elaborar textos específicos sobre tal temática. Os textos podem ser classificados em dois grupos: os que se referem explicitamente à pedagogia e os que permitem inferências a respeito do tema. Os textos da pedagogia explícita apresentam análises da Educação Nova, Educação em geral e trata de uma proposta de reorganização e reestruturação do sistema educacional francês pós-guerra. Os textos da pedagogia implícita permitem inferências a partir de sua teoria de desenvolvimento humano (TRAN-THONG, 1971; GALVÃO, 1994; GRATIOT-ALPHANDÉRY, 1994; MAHONEY, 1999; ALMEIDA, 2006, 2010).
As aproximações entre psicologia e educação e suas consequências para a formação e atuação de educadores, discutidas nos textos da pedagogia implícita, fundamentam-se, predominantemente, na indissociabilidade entre indivíduo e sociedade (TRAN-THONG, 1971; ALMEIDA, 2006, 2010).
Wallon (1975a; 1975b; 1975c; 1975d; 1975e; 1975f) consi-dera que o meio primitivo e primordial para a criança é o meio social, sem o qual as transformações humanas não são possíveis. O meio social constitui-se na primeira realidade da criança e no início de toda a educação consciente que o adulto pode oferecer. Essa visão não implica considerar o desenvolvimento como direta-mente determinado pelo adulto, mas compreender que a criança se desenvolve na relação de sua plasticidade entre seu ser biológico e o meio social. Nesse sentido, a educação é uma necessidade da criança, tanto quanto sua alimentação. Por um lado, a maturação or-gânica e nervosa define suas possibilidades funcionais, e, por outro, a educação permite a atualização delas.
Para Wallon (1975f), a educação precisa respeitar a totali-dade da personalidade e integridade dos processos de evolução e aprendizagem da criança, considerando o aluno inserido no contex-to vivido, direcionado para o desenvolvimento da autonomia dos alunos.
Baseado nessa visão de desenvolvimento, Wallon afirma que o professor é elemento fundamental do processo educacional siste-
26
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
matizado, pois é o organizador do ensino centrado no desenvolvi-mento integral das possibilidades e aptidões do aluno.
O professor consciente de suas responsabilidades necessita desempenhar as seguintes tarefas: participar das questões vividas pela sociedade de sua época, fundamentado em informações que sua educação e formação lhe permitem; tomar decisões solidaria-mente com seus alunos, respeitando-os no momento evolutivo em que se encontram; favorecer o desenvolvimento de cada um; exami-nar os caminhos mais adequados para o desenvolvimento do aluno em busca de sua autonomia; conhecer a natureza e especificidade de sua ação educativa e rever suas crenças, a partir da compreensão de que a realidade é móvel e constituída pela existência de todos, podendo atender aos interesses de todos dentro de uma socieda-de igualitária e justa (WALLON, 1975b, 1975g; TRAN-THONG, 1971; GRATIOT-ALPHANDÉRY, 1994; ALMEIDA, 2006, 2010).
O sucesso da ação educativa sustenta-se na integração de três áreas de conhecimentos: no conhecimento preciso da criança, de sua natureza, de suas necessidades, de suas possibilidades, ou seja, no estudo psicológico da criança; no conhecimento e elaboração de métodos e técnicas pedagógicas para a criança concreta, isto é, no estudo didático-pedagógico dos processos de ensino-aprendiza-gem; e no conhecimento das aptidões trabalhadas e exigidas pela disciplina ensinada, ou seja, no estudo da especificidade do conte-údo ensinado (WALLON, 1975b, 1975g). Podemos concluir que, para Wallon, a formação do professor precisa se constituir a partir da integração de três grandes categorias de conhecimentos: a for-mação psicológica, a formação pedagógica e a formação específica.
Diante do exposto e devido à necessidade de delimitar o con-teúdo a ser abordado no artigo, o presente estudo tem o objetivo de apresentar princípios da teoria walloniana que contribuem com a formação psicológica do professor de Educação Física, especifica-mente elementos que tratam da constituição da pessoa.
27
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
2. MÉTODO
Este artigo é parte de minha tese de doutoramento3. Para esta etapa, utilizou-se a pesquisa bibliográfica fundamentada em obras impressas e digitais publicadas entre 1971 a 2013 (THOMAS; NELSON; SILVERAMAN, 2012).
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Wallon (1984; 1995; 1998; 1975a; 1979) entende o homem como ser, que é o resultado da integração de quatro conjuntos fun-cionais: afetividade, ato motor, inteligência e pessoa. No início da vida, esses conjuntos encontram-se indiferenciados; porém, com o desenvolvimento, vão assumindo funções e atividades específicas. A afetividade caracteriza-se pelas disposições emocionais e senti-mentos; o ato motor, pelo movimento corporal geral; a inteligência, pela estruturação do pensamento; e a pessoa, pelo resultado da inte-gração dos três conjuntos funcionais, constituindo a unidade do ser.
O autor aponta que o desenvolvimento humano ocorre por meio de um processo dialético, marcado por rupturas, retrocessos e “idas e vindas”, uma vez que a pessoa está em constante transfor-mação. É um processo determinado pelas condições sociais, his-tóricas e orgânicas; nesse sentido, “pessoa”, para o autor, é um ser biologicamente social. Significa que o desenvolvimento da pessoa se organiza na integração de suas estruturas internas, biologicamen-te estruturadas, com as relações que a pessoa mantém com o meio social, denominado “o Outro”. O desenvolvimento estrutura-se, preponderantemente, na relação de oposição ao Outro, pois é nesse processo que a pessoa sai de seu sincretismo inicial e caminha para a diferenciação de seu ser.
A mola propulsora do processo de desenvolvimento é o con-flito que se dá entre as condições atuais da pessoa e as exigências
3 LIMONGELLI, A. M. A. Formação de professores de natação / Educação Física: contribuições de princípios e conceitos wallonianos. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006. (Tese de Doutorado).
28
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
do meio, pois a solução desse conflito proporciona reorganizações e avanços qualitativos nas suas funções e atividades (WALLON 1984; 1995; 1998; 1975a; 1979).
Dessa forma, por meio de processos dialéticos, impulsiona-dos pelos conflitos cotidianos que o ser humano vive ao longo de sua história, os quatro conjuntos funcionais – afetividade, ato mo-tor, inteligência e pessoa – vão se diferenciando sem perder suas identidades estruturais e funcionais, ao mesmo tempo em que avan-çam na complexidade qualitativa e quantitativa das relações que estabelecem entre si. Compreender esse processo implica entender que qualquer atividade humana sempre interfere em todos os con-juntos funcionais. Isso quer dizer que:
Qualquer atividade motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas; toda disposição afetiva tem ressonâncias mo-toras e cognitivas; toda operação mental tem ressonâncias afetivas e motoras. E todas elas têm um impacto no quarto conjunto: a pessoa, que, ao mesmo tempo em que garante essa integração, é resultado dela (MAHONEY, 2006, p. 15).
Wallon (1984; 1995; 1998; 1975a; 1979) considera o desen-volvimento humano como regido por três princípios: o princípio da preponderância funcional, o princípio da alternância funcional e o princípio da integração funcional.
Os princípios da preponderância e da alternância funcional mostram que há momentos predominantemente afetivos, subjetivos e de acúmulo de energia com orientação centrípeta, voltados para o interior da pessoa. E há momentos predominantemente cognitivos, também subjetivos e de dispêndio de energia com orientação cen-trífuga, voltados para as relações da pessoa com o exterior.
O princípio da integração funcional revela que o avanço no desenvolvimento humano ocorre pela incorporação das conquistas passadas, que se reorganizam possibilitando o surgimento de ativi-dades novas e mais complexas. As experiências passadas, entretan-to, não se perdem; permanecem latentes até que alguma situação as faça ressurgir.
29
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
Um dos pontos de partida do desenvolvimento são as sensi-bilidades corporais: interoceptiva, proprioceptiva e exteroceptiva, que permitem que a pessoa reconheça as condições e necessidades de seu próprio corpo e do mundo exterior a ele.
O processo de diferenciação e a integração das sensibilidades corporais dependem, dentre outros fatores, da maturação e das mu-danças qualitativas nas transmissões dos estímulos nervosos. No início do desenvolvimento, não há diferenciação nas estruturas cor-ticais do sistema nervoso, sendo a região subcortical a responsável pelos movimentos involuntários e pelas atitudes mais primitivas. O início do processo de maturação é marcado pelas primeiras dife-renciações das estruturas cerebrais, o que altera qualitativamente a transmissão de seus estímulos nervosos. A função corticopostural é organizadora do sistema nervoso central, estabelecendo ligação entre a região subcortical e região cortical, o que possibilita a pas-sagem dos movimentos involuntários para os movimentos volun-tários. Atualmente, a neurociência vem confirmando essa função (DAMÁSIO,1996, 2000), a partir da existência de um conjunto de sistemas cerebrais que processam o pensamento orientado para de-terminado fim, envolvendo tanto o raciocínio, a tomada de decisão, como as emoções e sentimentos da pessoa, possibilitando a estru-turação da comunicação e da consciência. Esse processo progride para o controle preponderante do córtex cerebral, que é a estrutu-ra mais evoluída do sistema nervoso humano e responsável pela elaboração e controle dos movimentos voluntários. Entretanto, as estruturas e funções primitivas não se perdem, ficando latentes até que uma situação as faça ressurgir (WALLON 1984; 1995; 1998; 1975a; 1979).
Nota-se que a forma de Henri Wallon compreender o fun-cionamento do sistema nervoso humano sob uma visão funcional coincide com as propostas mais atuais de compreender o funciona-mento do cérebro humano e de seus sistemas neurais (GRATIOT--ALPHANDÉRY, 1994).
Camus (1998) e Lent (2010) afirmam que a neurociência se originou da compreensão do sistema nervoso em uma perspecti-va funcional. Isso implica reconhecer que o cérebro apresenta di-
30
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
ferentes funções mentais, que se tornam possíveis pelas múltiplas conexões entre os seus diversos campos. O desenvolvimento de cada campo se efetua de forma distinta, assim como também são distintas as possibilidades de conexões entre tais campos. As novas conexões entram em competição com as anteriores ou mais antigas, indicando que o desenvolvimento do cérebro humano ocorre por meio de um processo dialético entre flexibilidade e cronologia.
Atualmente, existem cinco grandes abordagens da neuro-ciência: a molecular, a celular, a sistêmica, a comportamental e a cognitiva, ou também chamada por neuropsicologia, cujo foco é compreender os processos neurais envolvidos nos mecanismos de ensino-aprendizagem do ser humano.
Camus (1998) afirma que, embora não se encontre nenhu-ma citação nos estudos de Henri Wallon sobre neuropsicologia, há uma relação singular de tais estudos com a neuropsicologia atual. O autor justifica a afirmação a partir de quatro aproximações entre ambas as teorias.
A primeira aproximação refere-se aos objetivos semelhantes da teoria de Henri Wallon e da neuropsicologia atual: buscar com-preender as relações entre a organização neurocerebral e a organi-zação cognitiva da pessoa, integrando emoção e razão.
A segunda baseia-se no entendimento de que a teoria de Wallon apresenta uma crítica ao modelo tradicional de decomposi-ção do movimento entre o comando (imagens, intuição ou consci-ência) e os instrumentos (sistema nervoso, muscular e esquelético). Isto é, há uma integração funcional entre comando e instrumen-tos, que permitem a unidade de atuação entre representação e ação corporal. Para tanto, Wallon realizou uma recodificação dessa rela-ção. Tal recodificação considera que a imagem como consciência é munida de duplo sentido: “Terminus ad quem” e “Terminus a quo”. O “Terminus ad quem” significa que há a evolução emer-gente dos controles aplicados aos componentes sensório-motores. O “Terminus a quo” significa que há a evolução a partir da qual se elaboram as novas competências cognitivas da criança. Ambos os sentidos acontecem simultaneamente no desenvolvimento humano, de modo que o elemento emergente da representação está indisso-
31
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
luvelmente ligado à sua análise do efeito. Essa relação é atualmente confirmada pelos estudos sobre a dialética entre ato e efeito das conexões neurocerebrais (CAMUS, 1998).
A terceira aproximação refere-se à compreensão de Wallon sobre a aprendizagem. Para ele, a aprendizagem não se constrói por meio do empilhamento sucessivo de aquisições sobre uma folha em branco, mas pela oposição aos níveis anteriores de organização. Existe sempre o conflito entre o nível de organização anterior de uma função e o novo nível correspondente à aprendizagem traba-lhada. Atualmente, isso é confirmado pelas concepções do desen-volvimento neurocerebral, que apontam que o desenvolvimento e a aprendizagem são um tipo de escultura que se estrutura por sub-tração e não por adição, ou seja, a nova aprendizagem modifica a anterior e não apenas se acumula àquela (CAMUS, 1998).
A quarta aproximação relaciona-se à compreensão do pro-cesso de automatização. Wallon considera que o processo de au-tomatização envolve duas ações distintas e complementares. Uma ação corresponde a uma reorganização original da competência, e a outra ação se desenvolve fora do conteúdo imaginado, onde a cons-ciência é costumeira. Assim, é necessária uma organização neuro-cerebral inédita e biologicamente plausível com esse modo de fun-cionamento, caracterizando a plasticidade neuronal. Wallon, desde 1928, aponta que os corpos estriados formam um campo dinâmico de integração desses automatismos. A proposição de tal possibilida-de é atualmente consolidada graças ao conhecimento cada vez mais preciso dessas estruturas (CAMUS, 1998).
Camus (1998) conclui que as análises propostas por Henri Wallon no início do século passado constituem um campo original, fecundo e pouco explorado pela neuropsicologia atual.
Para Henri Wallon compor sua teoria de desenvolvimento humano, ele elaborou seu próprio método de análise denominado análise genética comparativa multidimensional (WALLON, 1984; 1998; DANTAS, 1983; MAHONEY, 2006; TRANTHONG, 1971). A análise genética sustenta a perspectiva da psicologia genética, na que busca o sentido dos fenômenos em sua origem e transforma-ções, sempre conservando sua unidade.
32
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
A análise comparativa tem como princípio básico a compre-ensão de que comparar não é investigar apenas as semelhanças de um fenômeno; pelo contrário, é investigar cuidadosamente dife-renças. O conhecimento procura, simultaneamente, o mesmo e o diferente, e o contraste é um dos recursos mais apropriados para se explicar a diferenciação, elemento fundamental para o desenvol-vimento. Desenvolver significa “ser capaz de responder com rea-ções cada vez mais específicas a situações cada vez mais variadas” (MAHONEY, 2006, p. 15).
A análise multidimensional fundamenta-se na compreensão de que o fenômeno necessita ser investigado em todas as suas di-versas determinações: orgânicas e sociais e nas relações entre esses fatores. Dentre os diversos componentes orgânicos, destacam-se as estruturas neurofisiológicas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos relacionar a seguir os principais pressupostos wallonianos para a formação psicológica do professor de Educação Física no que se refere à constituição da pessoa:
• conceber o desenvolvimento humano como permanente e o conflito ou oposição como mola propulsora de mudança;
• entender o desenvolvimento como um processo em aber-to, que caminha sempre para a formação e transformação contínua, nunca acabada ou definitiva, mas em constante movimento, englobando retrocessos, “idas e vindas”, cri-ses e conflitos;
• compreender que o jogo de forças que atua nos proces-sos de diferenciação e integração entre os seus conjuntos funcionais é originado e mantido pela interação entre as condições de funcionamento do organismo e atividades do meio em que vive;
• considerar a atualidade da teoria walloniana em relação aos estudos da neuropsicologia.
33
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
Dessa forma, a pessoa, tanto o educador como o aprendiz, é, em cada momento de sua vida, uma totalidade resultante da integra-ção dos conjuntos funcionais: afetividade, ato motor e inteligência, constituindo-se em uma rede complexa de relações entre eles e fa-tores orgânicos e sociais.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, L. R. Ser professor: um diálogo com Henri Wallon. In: MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, L. R. (Orgs.). A constituição da pessoa na proposta de Henri Wallon. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2010, p. 119-140.
______. Wallon e a educação. In: MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, L. R. (Orgs.). Henri Wallon: psicologia e educação. 6. ed. São Paulo: Loyola, 2006, p. 71-87.
BETTI, M. Fundamentos e princípios pedagógicos da educação física: uma perspectiva sociocultural. Pedagogia Cidadã – Cadernos de Formação em Educação Física, UNESP, p. 23-32, 2004.
CALDEIRA, A. M. S. A formação de professores de educação física: quais saberes e quais habilidades? Rev. Bras. Ciências do Esporte, v. 22, n. 3, p. 87- 103, 2001.
CAMUS, J. F. Wallon et la neuropsychologie actualle. Enfance, n. 1, p. 15-25, 1998.
CANÁRIO, R. A escola: o lugar onde os professores aprendem. Psicologia da Educação: Revista do Programa de Estudos Pós-graduados, PUC-SP, n. 6, p. 9-27, 1998.
CHARLIER, E. (Org.). Formando professores profissionais: quais estratégias? Quais competências? 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.
COSTA, L. P. As ecologias da educação física e do esporte no futuro. In: MOREIRA, W. W. (Org.). Educação física & esportes: perspectives para o século XXI. 17. ed. Campinas: Papirus, 2013.
DAMÁSIO, A. R. O mistério da consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento de si. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
______. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
DANTAS, P. S. Para conhecer Wallon: uma psicologia dialética. São Paulo: Brasilense, 1983.
34
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
DAÓLIO, J. Educação física brasileira: autores e atores da década de 1980. Campinas: Papirus, 1998.
DARIDO, S. C. Ensinar/aprender educação física na escola: influências, tendências e possibilidades. Pedagogia Cidadã – Cadernos de Formação em Educação Física, UNESP, p. 5-22, 2004.
______. Educação física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara, 2003.
FEITOSA, W. M. N. As competências específicas do profissional de educação física: um estudo delphi. Florianópolis: UFSC, 2002. (Dissertação de Mestrado).
GALVÃO, I. Uma reflexão sobre o pensamento pedagógico de Henri Wallon. Série Idéias, n. 20, p. 33-39, 1994.
GRATIOT-ALPHANDÉRY, H. Henri Wallon (1879 – 1962). Prospects: the quarterly review of comparative education, v. 24, n. 3/4, p. 787-800, 1994.
HOFFMAN, S. J.; HARRIS, J. C. Cinesiologia: o estudo da atividade física. Porto Alegre: Artmed, 2002.
LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.
MAHONEY, A. A. Introdução. In: MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, L. R (Orgs.). Henri Wallon: psicologia e educação. 6. ed. São Paulo: Loyola, p. 9-29, 2006.
______. Contribuições de H. Wallon para a reflexão sobre questões educacionais. Psicologia da Educação: Revista do Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia da Educação, PUC-SP, n. 7/8, p. 9-28, 1999.
MIZUKAMI, M. G. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: Atheneu, 1986.
MIZUKAMI, M. G.; REALI, A. M. R. (Orgs.). Aprendizagem profissional da docência: saberes, contexto e práticas. São Carlos: EduFSCar, 2002.
MORAIS, J. F. R. Consciência corporal e dimensionamento do futuro. In: MOREIRA, W. W. (Org.). Educação física & esportes: perspectivas para o século XXI. 17. ed. Campinas: Papirus, 2013.
SADALLA, A. M. A et al. Psicologia, licenciatura e saberes docentes: identidade, trajetória e contribuições. In: AZZI, R. G.; SADALLA, A. M. F. A. (Orgs.). Psicologia e formação docente: desafios e conversas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.
35
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2014
SANTIN, S. Perspectivas na visão da corporeidade. In: MOREIRA, W. W. (Org.). Educação física & esportes: perspectives para o século XXI. Campinas: 17. ed. Papirus, 2013.
SOUZA, T. S. A inteligência corporal-cinestésica como manifestação da inteligência humana no comportamento de crianças. Campinas: Unicamp, 2001. (Tese de Doutorado).
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
THOMAS, J.; NELSON, J.; SILVERAMAN, S. Métodos de pesquisa em atividades físicas. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
TRAN-THONG. Qué ha dicho verdaderamente Wallon. Madri: Doncel, 1971.
WALLON, H. A evolução psicológica da criança. Lisboa: Edições 70, 1998.
______. As origens do caráter da criança. São Paulo: Nova Alexandria, 1995.
______. L’enfant turbulent: etude ser lês retards et lês anomalies du développment moteur et mental. 2. ed. Paris: Press Universitaires de France, 1984.
______. Psicologia e educação da infância. Lisboa: Stampa, 1975a.
______. As etapas de sociabilidade na criança. In: Psicologia e educação na infância. Lisboa: Stampa, 1975b, p. 201-224.
______. Sociologia e educação. In: Psicologia e educação na infância. Lisboa: Stampa, 1975c, p. 225-240.
______. A imperícia. In: Psicologia e educação na infância. Lisboa: Stampa, 1975d, p. 125-146.
______. As causas psicofisiológicas da desatenção na criança. In: Psicologia e educação na infância. Lisboa: Stampa, 1975e, p. 364-378.
______. Psicologia e educação da infância. In: Psicologia e educação na infância. Lisboa: Stampa, 1975f, p. 9-21.
37
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
Arte: Experiência e Desafio em Escolas de Barreiras
Vera Regiane Brescovici NUNES1
Resumo: O trabalho relata as primeiras experiências de implantação do Currí-culo Municipal de Educação de Nove Anos na cidade de Barreiras, BA. A pes-quisa foi realizada em duas escolas da rede municipal, na periferia da cidade, em turmas de primeiro ano. Foram aplicadas sequências didáticas que haviam sido produzidas e organizadas para serem testadas nos anos iniciais. Na pesquisa, constataram-se as reais dificuldades de trabalhar o ensino da Arte na sala aula devido à falta de formação específica do profissional na área. Espera-se que a pesquisa seja fonte norteadora para novos estudos e currículos que venham a ser implantados em outras localidades.
Palavras-chave: Sequência Didática. Educação. Escola. Aluno.
1 Mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Especialista em Arte--Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Tutora do Claretiano – Centro Universitário. Coordenado-ra do Projeto de Extensão “Era uma vez no Hospital”. E-mail: <[email protected]>.
38
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
Art: Experience and Challenge in Schools of Barreiras
Vera Regiane Brescovici NUNES
Abstract: This paper reports the first experiences after establishing the nine-year municipal education program on the Brazilian city of Barreiras, in the state of Bahia. The research was conducted in two municipal schools on the outskirts of the city, in first-year classes. Didactic sequences that had been produced and organized to be tested in the initial years were applied. In the survey, the actual difficulties on dealing with the teaching of art in the classroom due to the lack of professional training in the specific area were evinced. This research is expected to be a guiding source to new studies and curricula that may be implemented in other locations.
Keywords: Didactic Sequence. Education. School. Student.
39
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
1. INTRODUÇÃO
A Educação brasileira passou por inúmeras mudanças e re-cebeu influências de diversas correntes, dentre elas, a positiva, o que poderia ser mais eficiente para estimular a consciência do indi-víduo. Apesar disso, ainda caminha devagar rumo à modernidade. Decretos e artigos foram criados com a intenção de melhorar o en-sino, mas vive-se ainda num sistema educacional caótico, apesar do desenvolvimento industrial, visual e midiático. O despreparo dos professores é uma realidade. Dentro desse contexto, encontra-se a Arte-Educação, que ainda não é levada a sério, nem é trabalhada de maneira correta.
A imagem, como recurso pedagógico, não é uma prática re-cente no cotidiano escolar, pois uma parcela significativa do pro-fessorado não consegue realizar a leitura do material visual com vistas ao desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. Ob-serva-se, ainda, que aqueles que a conhecem, principalmente os do-centes da disciplina de Arte, não a utilizam de forma correta, talvez por ignorar sua eficácia ou por não possuir informações necessárias para o seu uso.
Preocupada diante dessa realidade, a Secretaria Municipal de Educação do município de Barreiras está elaborando a proposta Curricular de Nove Anos, dividida por Áreas de Conhecimento com o objetivo de preparar os professores para a já implantada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394/96. A proposta encontra-se em fase de implantação. O presente artigo tem como objetivo relatar as primeiras experiências realizadas com a utiliza-ção do material que foi construído. Foram produzidas sequências didáticas2 sobre o ensino de Arte nas séries iniciais do Ensino Fun-damental de Nove Anos e aplicadas em duas escolas da rede públi-ca de Barreiras (BA). Posteriormente, serão trabalhadas nas outras escolas da rede pública.
2 Conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito (DOLZ, 2004).
40
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
2. ARTE NA EDUCAÇÃO: CAMINHOS E DESCAMINHOS
A Arte é um eficiente caminho no estímulo à consciência cul-tural do ser humano. A partir do momento em que a cultura se tornar conhecida de toda a população, o sujeito terá maiores oportunida-des de avançar na criticidade e dialogar com outros espaços, formas e épocas. O acesso à cultura é direito de todos, e não somente de alguns. É preciso conhecer para que se possa valorizar e preservar os bens materiais e imateriais produzidos pela humanidade.
No Brasil, ainda há muito desconhecimento sobre as manifes-tações artísticas e culturais em decorrência da forma como aconteceu a sua construção. Utilizamos o termo “construção” para não me re-ferir à aculturação imposta, a priori, pela cultura europeia e, depois, pela americana. A cultura europeia trazida pelos colonizadores criou amálgamas e estereótipos que ainda hoje sobrevivem, interferindo principalmente no cenário educacional. São ranços que ainda estão presentes no ensino da Arte. Segundo Barbosa (1998), os anos ini-ciais da colonização foram séculos de dominação portuguesa com proibições severas como de haver no país imprensa, escolas superio-res e uma organização sistemática no ensino primário e secundário. Essas proibições repercutiram, principalmente, na educação.
A Arte na educação brasileira caminhou devagar e por ca-minhos tortuosos. Leis, decretos e resoluções incorporaram-se às realidades nem sempre favoráveis ao ensino de uma aprendizagem consistente. Não foi considerada como um processo histórico e social; a arte relaciona-se com o processo educacional de forma dinâmica, como uma forma de compreender o homem e o mundo (visões de homem e de mundo).
Em 1808, com a eminência da invasão das tropas de Napo-leão Bonaparte, o Rei de Portugal transferiu o governo, a Corte, para o Brasil. Para Barbosa (1998, p. 30):
[...] um país que vivia à margem se torna centro, o poder central e a colônia fundiram-se e confundiram-se. As de-cisões passaram a ser geradas na colônia que se mascarou de Império, embora os interesses a defender fossem ainda os dos colonizados.
41
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
Com a chegada da Família Real, as mudanças foram signifi-cativas. Mas o que se presenciou foi uma imposição cultural e uma desvalorização principalmente da arquitetura colonial (barroca) presente na região de Minas Gerais e em algumas cidades e capitais litorâneas.
O Barroco havia sido modificado. Era a força criadora dos artistas e artífices brasileiros. Pode-se dizer que já existia um Bar-roco brasileiro bem diferente do português, do espanhol e do italia-no, muito mais sensual, sedutor e até mais kitsch3, se quisermos usar uma designação atual (BARBOSA, 1998, p. 3).
Com a chegada da corte portuguesa, foram criadas as primei-ras escolas de educação superior: Faculdade de Medicina, Facul-dade de Direito, Escola Militar e uma Academia de Belas Artes. Como pode ser observado, o ensino das Humanidades começou, no Brasil, pela arte. Para o ensino das artes, foram contratados artis-tas franceses; esse movimento foi denominado de Missão Artística Francesa, que veio para lecionar na Academia de Belas Artes. Eram neoclássicos convictos e interferiram ostensivamente na mudança de paradigma estético no Brasil. A Missão Artística Francesa, ini-cialmente, foi a primeira institucionalização de ensino de arte no Brasil, um ensino pautado nos modelos clássicos greco-romanos e renascentistas. Tratou-se de uma invasão cultural de cunho elitista.
No período de 1870 a 1901, ocorreram lutas intensas con-tra a escravidão, marcadas pela fundação do Partido Republicano (1870).
Para Dewey (apud BARBOSA, 2001, p. 41): A crítica social incluía duras críticas à educação por par-te de ambas as correntes engajadas na luta: Liberalismo e Positivismo. Reforma republicana da educação geral no
3 De origem incerta, mas provavelmente derivado do inglês “sketch” (esboço) ou do alemão “kitschen” (coloq.: fazer móveis novos a partir de móveis antigos), o termo “kitsch” surgiu por volta de 1870 no comércio artístico em Munique para designar objetos de arte, feitos de propósito para satisfazer a procura de uma nova clientela endinheirada. A partir desse contexto, a palavra evoluiu pejorativamente no sentido genérico de arte de imitação e de mau gosto.
42
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
Positivismo e na influência francesa (Reforma Benjamin Constant).
Nesse período, o desenho era considerado a matéria mais im-portante na escola primária e secundária no ensino da Arte. A in-tenção era a cópia ou mímese de modelos americanos ingleses ou belgas, sem qualquer preocupação com a cultura autóctone.
Até os anos 1920, a educação brasileira comportou-se como um instrumento de mobilidade social. Os estratos que detinham o poder econômico e político a utilizavam como distinto de classes. As camadas médias procuravam-na como a principal via de ascen-são social, prestígio e integração com os estratos dominantes. Nes-sa sociedade, ainda não havia uma função educadora para os níveis médio e primário, razão pela qual eles não mereceram atenção do estado, senão formalmente. A oferta de escola média era incipiente, restringindo-se, praticamente, a algumas iniciativas do setor priva-do.
Entre 1914 a 1927, ocorreram as primeiras investigações so-bre as características da expressão da criança, através do desenho como teste mental. A influência da pedagogia experimental reco-nheceu a criança como um ser humano com características pró-prias. Os modelos impostos, através de cópias, são criticados e permitiu-se a criação a partir da imaginação. Houve um despertar para a modernidade, através dos modernistas e da repercussão da Semana de 22. O movimento da Escola Nova deflagrou reformas educacionais com o objetivo de democratização da sociedade para a superação do sistema oligárquico. Freitag (1986, p. 45) afirma que “[...] na transição de uma sociedade oligárquica para urbano--industrial, redefiniram-se as estruturas de poder, e o esforço para a industrialização resultou em mudanças substantivas na educação”.
Nas décadas de 1930 a 1945, a ditadura de Vargas afastou o grupo da Escola Nova da liderança educacional do país. Os últimos anos de Vargas desfavoreceram a educação no Brasil. Líderes e educadores treinados pelo Ministério da Educação foram transferi-dos para outros setores. Sob o regime ditatorial, a educação tornou--se uma carreira débil, amaldiçoada pela política e pelo perigo de ser acusada de socialista ou comunista.
43
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
A partir de 1948, houve uma supervalorização da arte como livre expressão e aceitação na educação como atividade extracur-ricular e até extraescolar. Criaram-se escolinhas de Arte em várias cidades brasileiras. Noêmia Varela foi a arte-educadora pioneira no Nordeste. Período também considerado de redemocratização edu-cacional. O sistema multipartidário levou à competição política e a uma vida social revitalizada. Recuperaram-se alguns movimentos da Escola Nova, mas a educação passou a ser dominada por inte-resses políticos e não por uma preocupação científica, o que carac-terizou a fase anterior da Escola Nova.
Sobre o período de 1958 e 1963, Barbosa (2001) afirma que a educação deu um passo decisivo em direção a sua emancipação. A expansão econômica e a modernização das instituições eram a preocupação do governo daquele período. O presidente Juscelino Kubitschek (1957-1960) deu continuidade à política de desenvol-vimento iniciada por Getúlio Vargas em 1950. Foi durante esse pe-ríodo de politização intensa, mobilizações de estudantes, união de trabalhadores e ligas camponesas que a cultura e a educação bra-sileiras atingiram alto grau de identificação. Em 1961, decretou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, exigida desde o começo da República, época em que foi criada a Universidade de Brasília. A temporária abertura política ocasionou uma renovação cultural. Na literatura, o movimento concretista, com a obra de Gui-marães Rosa “Grande Sertão: Veredas”, estabeleceu novos parâme-tros para o romance brasileiro. A arquitetura, com Oscar Niemayer e Lúcio Costa, determinou o estilo arquitetônico moderno com suas linhas retas e aproveitamento dos espaços.
A Lei 5.692/71 determinou a obrigatoriedade do ensino de Arte nas escolas como tentativa de melhoria desse ensino ao in-corporar atividades artísticas com ênfase no processo expressivo e criativo dos alunos, valorização da cópia. Foram institucionalizadas aulas de trabalhos manuais para meninas como crochê, bordados etc. Para os meninos, criaram-se oficinas, como a de marcenaria, com o objetivo de profissionalizar a classe menos favorecida, em detrimento da cultura humanística e científica predominante nos anos anteriores.
44
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
Na década de 1980, aprovou-se a reformulação do núcleo comum para os currículos de escolas de 1º e 2º graus, determinan-do como matérias básicas Português, Matemática, Estudos Sociais e Ciências. A Educação Artística passou a ser facultativa. Fez-se muito pouco pela Arte – na educação, nesse período, projetos im-portantes foram desconsiderados. O feito mais relevante foi a re-organização do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, que havia sido quase todo destruído no regime militar.
Em 1987, começou-se a acreditar que uma boa educação sig-nificava mais que aprender a ler e a escrever. Criou-se a Proposta Triangular (87/93), que, em princípio, se denominou Metodologia Triangular, designação contestada por Barbosa (1999, p. 38), que afirma ser metodologia “[...] tudo aquilo que o professor constrói em sua sala de aula, enquanto a proposta está centrada na criação (fazer artístico), leitura da obra de arte e contextualização”. Sobre essa Proposta, Barbosa (1999, p. 38) também afirma:
A Proposta Triangular, hoje, Abordagem Triangular, deriva de uma dupla triangulação. A primeira é de natureza epistemológica, ao designar os componentes do ensino/aprendizagem por ter ações mentalmente e sensorialmente básicas, quais sejam: criação (fazer artístico), leitura da obra de arte e contextualização. A segunda triangulação está na gênese da própria sistematização, originada de uma tríplice influência, na deglutição de três outras abordagens epistemológicas: as al Aire Libre mexicanas, o Critical Studies inglês e o Movimento de Apreciação Estética aliado ao DBAE (Discipline Based Art Education).
Com a criação dos Parâmetros Curriculares – PCN (1999), definiu-se o modernismo em arte-educação. Portanto, a partir des-ses Parâmetros Curriculares Nacionais, a arte, no contexto escolar, deve ser pensada como triangulação, incorporando o ler, o fazer e, principalmente, o contextualizar com a arte do século XXI, uma arte que está sendo construída a partir da idiossincrasia do indiví-duo e seu contexto sociocultural.
45
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
3. FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ARTE
Todo educador que ministra a disciplina de Arte precisa estar preparado para compreender e ensinar os princípios básicos dessa linguagem. Conhecer os códigos artísticos é imprescindível para o desenvolvimento das habilidades artísticas. Mas não é o que muitas vezes acontece. Ainda nos deparamos com professores desqualifi-cados, sem formação na área, que não estudam para entrar em sala, ocasionando a banalização do componente. A situação da formação dos professores de Arte no Brasil tem uma história peculiar, como assevera Coutinho (2003, p. 154):
Os conhecidos cursos de Educação Artística, que surgiram na década de 1970, foram consequências da obrigatorieda-de institucional de ensino de Arte na escola brasileira. A Lei 5692/71 incluiu a atividade de Educação Artística no currículo escolar e só depois providenciou a criação das licenciaturas curtas e plenas polivalentes para suprir a ne-cessidade implantada.
O fracasso de um ensino de arte contextualizado ocorreu devi-do ao curto espaço de tempo dos cursos, não sendo possível a aqui-sição das teorias necessárias. O quadro hoje não é muito diferente dos anos de 1980. Depois de passar por um processo de avaliação da Comissão de Especialistas do ensino das Artes (CEEARTES), das Comissões do MEC e da própria Federação dos Arte-Educado-res do Brasil (FAEB), quase todas as licenciaturas em Arte do país vêm buscando adequar-se à nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 e aos Parâmetros Curriculares Nacionais divulgados em 1998. Apesar dos esforços para a adequação dos cursos de forma-ção dos professores de Arte, há muito para se adequar. É necessária uma mudança na essência dos currículos e das disciplinas. Para que haja uma efetiva mudança, faz-se necessário um maior compromis-so dos educadores de Arte envolvidos no processo.
É possível encontrar em alguns cursos uma proposta de re-forma coerente, que busca fortalecer as linhas de pesquisa e propõe um deslocamento das disciplinas de licenciatura para os centros de educação. Outro problema encontrado é o distanciamento hierár-quico entre quem faz arte, o artista, e quem ensina arte, o professor.
46
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
As faculdades de educação e os cursos de Pedagogia não estão ain-da preparados para responder atualizadamente à formação de seus próprios educadores.
Para Continho (2003, p. 155): [...] as referências de Arte nessas instituições são em geral de caráter modernista, fundamentadas em uma concepção psicopedagógica, centradas no desenvolvimento da criati-vidade e da expressão pessoal do aluno.
É preciso sintonizar-se com as propostas recentes de ensino de Arte. Para isso, os cursos de formação dos professores de Arte devem propiciar aos seus alunos uma reflexão crítica e contextual das questões relativas aos conhecimentos implicados no processo, desenvolvendo no professor a sua faceta de pesquisador, que anali-sa, relaciona e elabora seus conhecimentos.
A formação continuada é imprescindível para o professor de Arte. Isso já ocorre em instituições (municipais, estaduais e fede-rais). Entretanto, nem sempre o professor tem sido alvo dos ob-jetivos finais desses programas, os quais acabam servindo como espaço para divulgação de uma “nova” proposta ou orientação. Do professor exigem um posicionamento ou adesão a esses novos pro-gramas político-educacionais. A essas exigências somam-se outras tantas de caráter burocrático, que reforçam as pressões institucio-nais sobre os docentes. Então, a resistência a esse esquema tem sido a resposta imediata do profissional que, não se sentindo amparado em suas reais necessidades, não se deixa impregnar pelas propostas.
Para que o professor realmente ensine Arte de forma con-textualizada e crítica, é necessário que ele disponha de tempo e de recursos para pesquisar. Precisa sair da sala de aula e interagir com espaços culturais, museus, bibliotecas e outras instituições que produzem e veiculam os bens culturais. Conectar-se às redes de informação, procurando sempre buscar o conhecimento com seus alunos. É preciso que o trabalho do professor não fique somente na escola, mas que ultrapasse os limites.
O professor deve encontrar uma maneira de trabalhar com os princípios básicos da linguagem artística sem perder a comple-xidade da arte. A esse respeito, Ostrower (apud Pillar, 1999, p. 16)
47
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
afirma “[...] que é preciso ser claro e simples [...], sem simplificar demais. Dar uma idéia de arte em sua complexidade e da multipli-cidade de níveis de significado sempre renováveis”.
Sobre o papel do professor como mediador da linguagem artística, Meira (apud PILLAR, 1999, p. 137) afirma que pouco adianta, para o professor, estar informado sobre diferentes metodo-logias, dominar informações técnicas e teóricas relativas ao mundo da arte, se ele não souber refletir esteticamente sobre o sentido das produções artísticas. O preparo das condições propícias para o di-álogo com as obras ao nível da emoção exige conhecimento sobre a arte por parte do professor, principalmente de sua estrutura cons-trutiva e relacional, para garantir o fluxo de energias entre as obras e os sujeitos que com elas dialogam. Só depois dessa infraestrutura construída é que será possível desenvolver uma hermenêutica.
A preocupação com a formação do profissional é uma reali-dade que já ocorre em algumas cidades brasileiras. O investimento na qualificação profissional, a implantação de currículos específi-cos por área e a formação continuada foram as formas encontradas para mudar a realidade do ensino público deficitário. A valorização profissional é imprescindível para que ocorram essas mudanças.
Na cidade de Barreiras, um grupo de profissionais, denomi-nado Professores Formadores, criou um projeto de implantação curricular, englobando diferentes áreas de conhecimento. Desses profissionais, alguns são ligados a instituições de Ensino Superior, outros, ao Ensino Básico, com especificidade na área. A partir de estudos e discussões, elaboraram o novo currículo municipal de educação em fase experimental. Na área de Arte Visual, duas pro-fessoras compõem o projeto caracterizado como Área Arte4. Os pri-meiros laboratórios aconteceram em duas escolas da rede pública em bairros periféricos da cidade de Barreiras, aqui denominados A e B, conforme discussão seguinte.
4 Informações mais detalhadas acerca da Formação Continuada podem ser encontradas na proposta Curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Município de Barreiras-Bahia.
48
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
4. LABORATÓRIO: COMPREENSÃO E RETOMADA A PARTIR DA EXPERIÊNCIA
Com objetivo de comprovar a aplicabilidade do currículo, ora construído, elaboraram-se sequências didáticas que foram aplica-das em duas escolas da Rede Municipal de educação na cidade de Barreiras.
A sequência didática é uma proposta curricular e metodoló-gica dividida em hora/aula que visa nortear e auxiliar o professor regente na sala de aula, com vistas a uma aprendizagem interdis-ciplinar, consistente. Foi organizada de forma que contemplasse as linguagens artísticas pertencentes ao Componente Curricular Arte, dividida nos códigos: Artes Plásticas, Música e Teatro e Dança (essa última, denominada “expressão corporal”). Para isso, foram propostas atividades de exploração, sistematização e avaliação, conforme orientação da proposta Curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Município de Barreiras-BA, implantada com base na Lei n. 11.274, a qual ampliou o Ensino Fundamental para nove anos, com a matrícula a partir dos seis anos de idade e com prazo de implantação até 2010.
A nomenclatura das atividades presentes nas sequências di-dáticas foi adaptada a partir das teorias de Roegiers (2004), que propõem sete tipos na integração dos saberes. Mas, aqui, somente três foram utilizadas: a exploratória, a sistematização e a avaliação.
As atividades exploratórias promovem novas aprendiza-gens, introduzem temáticas e conceitos e suscitam indagações e questionamentos. As atividades de sistematização concretizam as indagações levantadas anteriormente, aprofundam o conhecimen-to, pois sistematizam os diferentes saberes por meio da prática. O aluno aplicará os conceitos levantados e discutidos na exploração. As atividades de avaliação possibilitam mobilizar várias aquisições – aprendidas, separadamente, buscando integrá-las em um todo maior.
Essas atividades foram aplicadas separadamente. Na escola A, foram realizadas em cinco dias, uma hora a cada dia. Na escola B, optou-se por condensar as aulas, duas seguidas, mas com inter-
49
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
valo de uma semana. Foram aplicadas pelos professores formado-res, de forma a contemplar conteúdos, objetivos, metodologias e avaliação. A temática escolhida foi o contexto cromático, e a artista que melhor exemplificou esse contexto foi Tarsila do Amaral. O conteúdo foi divido em tópicos para que, a cada novo encontro, novos conceitos e metodologias fossem vivenciados e apreendidos. Optou-se em trabalhar as cores primárias, secundárias e neutras de-vido ao curto espaço de tempo. Após os ajustes finais, partiu-se para a prática.
A primeira escola visitada, a A, é localizada em um bairro pe-riférico. Atende uma clientela de classe média baixa a baixa, possui infraestrutura satisfatória e professores preparados e estimulados. A escola B, também localizada na periferia, é composta por uma clientela também média e baixa, diferenciando-se na infraestrutura. O ambiente e os elementos que compõem o espaço circundante es-colar, como acústica, temperatura, insolação, ventilação e lumino-sidade, são precárias. Percebe-se que esses fatores refletem negati-vamente no desempenho acadêmico. As cadeiras são impróprias ao tamanho dos alunos, o que ocasiona inquietude e agitação. Outro fator diagnosticado foram professores desestimulados e desprepa-rados para o trabalho com Arte. Para uma educação de qualidade, é importante pensar em edificações que possam ser modificadas e adaptadas, prevendo as necessidades de cada época, conforme as-segura Sommer (1973 apud ELALI, 2003).
Além desses problemas estruturais, percebeu-se, também, que o Componente Curricular Arte não é trabalhado dentro da arti-culação da proposta do PCN/Arte (1999), que propõe uma educa-ção em arte voltada não somente para o fazer, mas para a leitura e a contextualização, com objetivos claros em desenvolver o crítico--estético de crianças e jovens; ou seja, a percepção por meio da utilização não somente da prática, mas da história e das diferentes possibilidades de leituras de objetos, imagens e outros artefatos. A educação estética não é só ensinar estética no sentido de formula-ção sistemática de classificações e de teorias que produzem defini-ções de arte e de análises acerca da beleza e da natureza. Barbosa (1999) lembra que esse não é o principal propósito da educação estética. O que chamamos de educação estética de crianças e adul-
50
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
tos é a formação do apreciador de arte usando a terminologia e o sentido consumatório que Dewey5 apud Barbosa (2001) designou de experiência apreciativa.
Durante a aplicação da sequência, foi percebida uma diferen-ça substancial entre as duas escolas: ambas não possuem professo-res com formação específica na área; na escola A, o componente é trabalhado uma vez por semana pela professora regente que estuda e prepara suas aulas juntamente com a coordenação. Os alunos têm boa coordenação no manuseio de materiais, textos visuais e de al-guns elementos que compõem o alfabeto visual. Quando iniciado o trabalho com a sequência, a resposta foi favorável, havendo ampla participação e compreensão na elaboração dos conceitos. Os alunos produziram, sem dificuldades, os textos propostos, sem necessida-de de modelos pré-fixados. Na sistematização, houve objetividade e tranquilidade na realização das atividades. A professora esteve sempre presente e interagiu durante todo o processo.
Na escola B, ao contrário, a Arte não é trabalhada devido à falta de afinidade, conforme relatos da professora regente e auxilia-res. Os alunos apresentaram dificuldade em manusear tanto o pin-cel como o lápis de cor. Durante toda a atividade, sentimentos como surpresa, indecisão, desconhecimento e ansiedade se presentifica-ram nos semblantes. Alunos agitados e carentes emocionalmente não conseguiram extrapolar além do visual exposto na sala, através das obras de Tarsila do Amaral. Os discentes solicitaram a todo instante um modelo a ser seguido. Modelos herdados da Pedagogia Tradicional, que priorizava a aquisição de conhecimentos por meio de elaborações intelectuais e com base em modelos de pensamento desenvolvidos pelos adultos. Priorizavam-se as cópias de modelos apresentados e pré-fixados. Isso foi percebido claramente devido à falta de iniciativa dos alunos.
Para Ferreira 1998), o ensinante não está isento de repercus-sões que possam ter sobre ele e a matéria de seu ensino, poden-do acarretar omissões, embaraços e dificuldades de comunicação, mas, também, pode acarretar uma maior legitimação. Isso pode
5 John Dewey foi o maior expoente do pensamento filosófico americano da primeira metade do século XX. Suas ideias causaram grande impacto dentro das ciências humanas.
51
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
acontecer com quem aprende, dependendo do Componente, po-dendo causar determinadas impressões, impedindo ou não a sua aprendizagem.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ser professor no século XXI é ter a capacidade de rever con-ceitos e opiniões. É preciso ver como um especialista apto a apren-der sempre, e nunca como mestre, dono de um saber absoluto. É preciso estar aberto para os novos saberes. Durante todo o trabalho realizado, percebeu-se que a principal ferramenta é a preparação do professor – um professor preparado promoverá alunos moti-vados. O sistema ainda é falho, pois prioriza a quantidade (salas estão cheias e há somente um profissional para cada turma) em detrimento da qualidade. A formação por área é o grande avanço para uma educação de qualidade. Como afirma Barbosa (1998), em educação, os professores de arte precisam conhecer estética para estarem preparados para os possíveis questionamentos que venham a surgir por parte dos alunos engajados no processo de conhecer e interpretar obras e elementos visuais (entende-se por elementos o alfabeto visual imprescindível na linguagem artística). Nesse senti-do, a estética tem um enorme papel esclarecedor e estimulador do questionamento reflexivo. A contextualização pode ser a mediação entre determinados fatores, como a história, a política, a experiên-cia, a cultura e a tecnologia, que são fatores indispensáveis para a formação do homem contemporâneo.
O preparo das condições propícias para o diálogo com as obras e com as nomenclaturas da Arte ao nível da emoção exige co-nhecimento sobre a disciplina por parte do professor, principalmen-te de sua estrutura construtiva e relacional, para garantir o fluxo de energias entre as obras e os sujeitos que com elas dialogam. Só de-pois dessa infraestrutura construída é que será possível desenvolver uma hermenêutica instauradora, uma metodologia interpretativa do fato artístico e estético, a partir de um horizonte simbólico.
Para que haja uma verdadeira educação, é necessário que os professores estejam preparados. O investimento no profissional é
52
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
imprescindível. É necessário que estude, viaje, conecte-se com a cultura local, nacional e internacional. A formação na área de Artes ainda é reduzida, mas existem projetos que estão sendo implanta-dos, e profissionais respaldados estão à frente para promover uma educação de qualidade para o século XXI. Acredita-se que não é possível somente a decodificação; é preciso que haja a leitura e a contextualização para se obter uma aprendizagem significativa. Portanto, o homem pós-moderno necessita conhecer para interagir com os códigos artísticos e culturais da humanidade; só assim se tornará um Ser na sua plenitude.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 6.
BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.
______. (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da Arte. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003.
______. Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/Arte,1998.
______. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
COUTINHO, Carlos Nelson. A dualidade dos poderes. Introdução à teoria marxista do estado e da revolução. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2003.
DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. 2. ed. Tradução e organização: Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004.
FERREIRA, Sueli. Imaginação e linguagem no desenho da criança. Campinas: Papirus, 1998.
FUSARI, Maria F. de Rezende; FERRAZ, Maria Heloísa C. de T. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 2001.
FREITAG, Bárbara. Escola, estado e sociedade. São Paulo: Moraes, 1986.
HADDAD, Jane Patrícia. Educação e psicanálise: vazio existencial. Rio de Janeiro: Wak, 2008.
53
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 37-54, 2014
MARTINS, Mirian Celeste et al. Didática do ensino de arte: a língua do mundo: poetizar, fruir e conhecer Arte. São Paulo: FTD, 1998.
ROEGIERS, Xavier. Uma pedagogia da integração. Tradução de Carolina Huang. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
ROMANELLI. Breve evolução histórica do sistema educacional. 1983. Disponível em: <http://www.oei.es/quipu/brasil/historia>. Acesso em: 26 nov. 2014.
55
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
O Museu do Desenho da Criança1: um estudo da produção gráfica infantil
“Todas as pessoas grandes já foram crianças um dia, mas poucas se lembram disso” (Saint Exupéry, s.d., n.p.).
Amanda Delfino MIRANDABetania Libanio Dantas de ARAUJO
Deborah da Costa de SÁErika SIOTANI
Larissa Cella Hirai FUJISAKA
A coletoraG., 5 anos
Resumo: O Museu do Desenho da Criança é um projeto desenvolvido na Unifesp em Práticas Pedagógicas Programadas, relacionando coleções de desenhos de crianças, na perspectiva de novas relações entre os estudos teóricos sobre o assunto e observações sobre a cultura da infância. É uma pesquisa qualitativa; a comunicação é estabelecida por meio de desenhos e conversas informais, entre crianças e universitários participantes do projeto. Os desenhos são tomados em sua expressividade e cuidamos para que outras informações sejam trazidas por seus criadores: os próprios criadores das imagens. Designar, projetar, planejar, sonhar, desenhar, imaginar e contar é a trajetória que acompanhamos no encontro com essas crianças e conhecemos esses mundos na 1ª e na 2ª infâncias.
Palavras-chave: Desenho. Criança. Museu. Artes Visuais. Coleta.
1 Todos os autores deste artigo participaram da PPP Museu do Desenho e são estudantes do curso de Pedagogia/Unifesp: Amanda Delfino Miranda, Ana Carolina Cardoso da Silva, Carlos Eduardo de Camargo, Cristina Selma Duarte Viana, Deborah da Costa de Sá, Erika Siotani, Juliana Nunes Hitzschky, Larissa Cella Hirai Fujisaka, Lilia Oliveira Rodrigues dos Santos, Nathalia Giannini Queiroz, Paola Donato Teixeira, Rosangela R. V. de Oliveira, Stefane Silva, Stela Cristina Costa, Vinicius Expedito Mena de Oliveira. Trabalharam na finalização do artigo: Deborah da Costa de Sá e a Prof.ª Betania Libanio Dantas de Araujo.
56
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
O Museu do Desenho da Criança: a study on the infant graphical production
Amanda Delfino MIRANDABetania Libanio Dantas de ARAUJO
Deborah da Costa de SÁErika SIOTANI
Larissa Cella Hirai FUJISAKA
Abstract: O Museu do Desenho da Criança is a project developed by UNIFESP’s Práticas Pedagógicas Programadas, relating compilations of children’s drawings in the perspective of new relations between theoretical studies on the subject and observations about the culture of childhood. This is a qualitative research; communication is established through drawings and informal conversations between children and college students participating in the project. The drawings are appraised by their expressiveness, and we ensure that other information is brought by their creators: the very creators of the images. Designating, designing, planning, dreaming, drawing, imagining and counting are the path we follow with these children, and we know those worlds in 1st and 2nd childhoods.
Keywords: Drawing. Child. Museum. Visual Arts. Collection.
57
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
1. INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo apresentar a Prática Pedagógica Programada1 Museu do Desenho, do curso de Pedagogia na Uni-versidade Federal de São Paulo – Unifesp, realizado entre 2011 e 2012. O seu propósito é dar visibilidade às crianças e conhecer as suas criações por meio de suas falas que narram histórias de fan-tasias, medo, tristeza, desejos, sonhos, realidades, conhecendo as estéticas infantis na construção da imagem por meio da liberdade de criação.
A PPP Museu do Desenho2 consistiu em recolher desenhos de diversas Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem como coletas livres, para análise, visando compreender o que as crianças atualmente desenham, quais são os traços e formatos re-correntes, as diferenças entre percepções de diferentes regiões e nacionalidades, o impacto das mídias e dos papéis de gênero na manifestação e no processo criativo das crianças. É formada por estudantes do curso de Pedagogia da Unifesp, que ajudaram a cons-truir este artigo.
Tais coletas visaram compreender quais traços e formatos eram recorrentes, as diferenças entre percepções de diferentes re-giões e nacionalidades e os papéis de gênero na manifestação do processo criativo desses sujeitos, pois o desenho é um importante registro de percepções, desejos, comportamentos e interpretações de mundo.
Os desenhos infantis são de diversos espaços, foram feitos sem intervenção dos adultos e a sua coleta gerou os encontros de leitura, debate e construção de um blog. Iniciamos com o estudo do concurso elaborado por Mário de Andrade, que, em 1935, como diretor do Departamento de Cultura do Município de São Paulo, organizou um concurso de desenhos. O procedimento, nesse con-
1 As Práticas Pedagógicas Programadas (PPP) participam da estrutura curricular do curso de Pedagogia e são experiências na educação formal ou não formal por meio de vivências, estudos com a elaboração de um produto final socializado com os colegas e coordenado por um professor.2 Coordenada pela Prof.ª Dra. Betania Libanio Dantas de Araujo, professora da Unidade Curricular Fundamentos Teórico-práticos das Artes Visuais.
58
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
curso, consistiu em não interferir no processo criativo da criança, e as formas escolhidas foram traçadas espontaneamente, sem inter-ferência de figuras prontas ou influência de um adulto. Depois de finalizado o desenho, quem recolhia as criações indagaria à criança o que havia sido retratado e, no verso de cada folha, anotava-se a descrição dita, juntamente com a data da criação, o gênero, a idade e a nacionalidade do infante.
As crianças, em especial as de pouca idade, são silenciadas e não percebidas como seres históricos, criadores de cultura, frequen-temente interpretadas como meros reprodutores. Merecem respeito e estímulo para autonomia criativa, reconhecendo tais produções enquanto registro da inventividade e historicidade, manifestação artística, poética, cultural.
Quando uma criança desenha, passa para o papel a sua im-pressão de mundo. E, como seres singulares que somos, carrega-mos em cada um de nós uma percepção de mundo diferente, in-fluenciada pelos contextos sociais em que vivemos pelo histórico de vida, entre tantas alusões à cultura, observa Amanda Delfino3.
Para cada pessoa, um mundo; e, para cada mundo, uma série de referências advindas apontadas no papel. Percebemos o dese-nho da criança como resultado de um registro visual, com formas e cores gerindo em seus traços a relação existente entre o mundo em que vivemos e todo o universo simbólico que constituímos, de-rivando desenhos com elementos retirados da realidade e aumenta-dos a traços de imaginação.
É possível acompanhar, através do desenho da criança, pro-cessos de transições relacionadas a sua vida, sejam questões bioló-gicas (referentes ao crescimento em diferentes fases da vida), cul-turais, por mudanças espaciais (como mudança de casa, cidade) ou mudanças na estrutura familiar.
Amanda Delfino percebe que os elementos que aparecem no desenho infantil podem identificar a força dessas transições:
3 Grande parte dos autores citados são estudantes do curso de Pedagogia da Unifesp e participaram da PPP Museu do Desenho em 2012.
59
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
Ao observar o desenho de uma criança, podemos conside-rar as seguintes questões: quais elementos estão presentes no desenho? Quais elementos se repetem? Quais desa-parecem ou se transformam? Entrar em contato com tais produções nos leva a refletir sobre o conceito de infância, a origem e o desenvolvimento do processo criativo e as múltiplas possibilidades de vivenciar identidades, ou seja, ser, estar e descrever o que nos cerca é narrar e construir o mundo ao mesmo passo que construímos a nós mesmos, seja através de uma dissertação, uma canção, seja por um desenho. Ter acesso a essa experiência dialética traz con-sigo a possibilidade de penetrar em universos particulares, verdadeiros “jardins secretos” repletos de uma poesia que ganha vida quando ouvimos de seus criadores a história que entrevemos por entre folhas feitas de grafite e cor.
2. DESENVOLVIMENTO
Traços interrompidos: o desenho como passagem pela primeira infância
A infância não é apenas uma nomenclatura sobre determi-nado período biológico humano; é o entendimento sobre valores e comportamentos que esperamos dos sujeitos dentro desse recorte específico. Em diferentes tempos históricos, o conceito de infân-cia foi impactado pelas normas das instituições escolares. Na Idade Média, por exemplo, não havia o conceito de infância, e as classes escolares não eram separadas conforme a idade, sendo considerado adulto todo aquele que estava apto a exercer sua função social, seu ofício. Esse sistema de classes no século XVI buscava meios de sistematizar a aprendizagem dos alunos, categorizando, conforme Baduel, “sua idade e desenvolvimento” – sendo esse último o fa-tor de maior importância. Nos séculos XVI e XVII, os estudantes não eram vistos com bons olhos diante da sociedade cortês, que os interpretava como figuras marginalizadas, arruaceiras e propagado-ras da desordem social; assim, houve uma pressão aos educadores para reforçar a necessidade de atender a expectativas civilizatórias.
60
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
No início do século XIX, separavam-se os “homens feitos” dos menores, mas, só ao fim de tal século, surgiu o conceito de se-gunda infância. A cartilha “Nova escola para aprender a ler, escre-ver e contar”, de Manoel de Andrade de Figueiredo, foi impressa em 1722, em Lisboa. Segundo Casimiro (s/d), esse material conta-va com exercícios de caligrafia e aritmética, preceitos religiosos, mensagens morais, exortações acerca da higiene e demais métodos de ensino. Desse modo, podemos observar que a distinção entre a fase adulta e a fase infantil incumbiu educadores de transmitirem uma variedade de conteúdos e valores aos seus alunos.
Se nos atermos às expectativas recentes da Educação Infantil por parte da sociedade, notaremos que o modo como encaramos os conteúdos curriculares, as propostas pedagógicas e até mesmo o próprio conceito de infância é fruto de transformações históricas e sociais; logo, a pressão para que as crianças se familiarizem o mais precocemente possível com a cultura letrada, a escrita e o cálculo não se configura em uma demanda específica de nosso tempo. O domínio sobre tais técnicas é benéfico, pois oferece ferramentas para o desenvolvimento e registro de manifestações da inventivida-de, como escrever e arquivar suas próprias histórias, universos par-ticulares. Entretanto, a manifestação do lúdico e da criatividade não se dá apenas por essas vias disponíveis no sistema escolar, sendo o desenho e a corporeidade (como em jogos de dança ou interpre-tação) exercícios valiosos de interação e composição, geralmente relegados ao segundo plano como entretenimento frívolo de menor importância dentro do currículo escolar (ARIÉS, 1986).
Materiais como lápis de cor, giz de cera, massa de modelar, aquarela e tinta guache são associados quase que imediatamente à primeira infância, período em que há uma maior abertura para essas experimentações; isso explica o valor desses itens como prá-ticas com um prazo de uso determinado pela idade. Dessa forma, um adolescente é visto como imaturo por desejar usufruir desses objetos. Quanto mais se aproximam os primeiros anos do Ensino Fundamental, maior é o reforço para que os desenhos sejam troca-dos pela caligrafia; a diferença é que, muito embora uma criança seja recompensada e elogiada por uma caligrafia bem executada, ela não será desestimulada a escrever se a sua letra B não sai exata-
61
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
mente como a letra da professora ou do livro didático. Um processo oposto ocorre com o traço do desenho infantil: quanto mais ele se afasta das formas ideais de representações gráficas, mais desesti-mulada será a criança por não saber “desenhar corretamente”.
Adiante, o estímulo já escasso para desenvolver o próprio tra-ço é substituído pelo preencher de figuras impressas para colorir, o que, por sua vez, deve ser realizado com padrões predefinidos de disposição de cores. Uma árvore pintada de azul ou um desenho preenchido com apenas duas cores pode intrigar tutores e profes-sores. Um sujeito que se debruçou sobre a importância do ato de desenhar como manifestação do indivíduo na fase infantil foi Mário de Andrade, que, entre 1935 e 1938, atuou no Departamento de Cultura do município de São Paulo, trabalhando na elaboração de parques infantis destinados a filhos de operários com idades entre 2 e 12 anos, proporcionando às crianças que ali passavam ativi-dades como ginástica, dança e desenho. Nesse período, organizou um concurso para angariar desenhos para análise. As instrutoras responsáveis por inspecionar e recolher essas produções foram ins-truídas a não sugerir temas, corrigir ou intervir sobre qualquer um dos desenhos. A pesquisadora Gobbi (2005, p. 02) escreve acerca desse episódio:
Mário de Andrade, para observar os desenhos criados na infância, desde a mais tenra idade, constrói uma forma de estudo que poderia ser chamada de etnografia dos dese-nhos, que não foi sistematizada, encontrando-se espalhada em seus escritos, documentos, anotações e cartas. Procura conhecer e revelar os assuntos, os traçados, as formas e ou-tros elementos ao descrever, dialogar e levantar dados di-versos sobre os desenhos em si, associando a isso a data de criação, o sexo, a idade, a nacionalidade dos pais de quem os criou. Além disso, também concebia os desenhos como resultados e soluções pessoais das crianças, aproximando--os dos campos das artes.
A coleta realizada pela estudante Cristina Viana em uma Escola de Educação Especial em Deficiência Intelectual da Rede Estadual de Guarulhos contou com desenhos de jovens de treze a dezesseis anos. A temática recorrente aborda cenas do cotidiano familiar e da vivência escolar, além de anseios, como no desenho
62
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
de uma aluna de treze anos que desenhou um carro e justificou: “Esse é o carro da minha mãe, mas só quando ela conseguir com-prar”. Enquanto isso, durante a coleta realizada em uma escola de Educação Infantil de São José dos Campos, a aluna Stela Costa no-tou uma diferença temática entre os papéis de gênero nos desenhos das crianças de cinco e seis anos: “entre os meninos, o tema mais recorrente são carros e, entre as meninas, paisagem”. Essa diferen-ça também foi acentuada em uma Escola de Educação Infantil no Centro de São Paulo, sobretudo com meninas de cinco e seis anos com ascendência oriental, conforme retrata Deborah Sá: “Nota-se a evidenciação dos signos da feminilidade”.
Além da pressão para a interação social, as crianças de ou-tras nacionalidades recém-chegadas ao Brasil são estimuladas ao ingresso na cultura letrada, como o garoto de ascendência peruana, conforme relata Debora Sá:
C. tem cinco anos e nasceu no Peru, desenhou as letras U, F, E e D e explica como as desenhou. Disse que seu pai comprou um caderno onde colore as letras. Nota-se uma postura quieta, fala baixo, tem forte sotaque e não entre-gou o desenho.
O descaso e a indiferença com que muitos educadores dis-pensam ao desenho infantil possuem vínculo com a forma que en-xergamos o currículo escolar, a educação nos anos iniciais, o papel da escola e, sobretudo, como interpretamos o que é dito, percebido e formulado por crianças. Incentivar a prática do desenho, ao con-trário do que se supõe, não impede o letramento, o pensamento abs-trato e a escrita; em verdade, oferece segurança para que a criança se familiarize com seus processos cognitivos e, ao fim, fomente sua perspicácia.
Designar, projetar, planejar, sonhar
Os desenhos das crianças apresentam perspectivas de um mundo interno e externo que envolve, por exemplo, o ambiente ou espaço em que vivem ou enxergam a sua maneira. Vinicius de Oli-veira observa que as crianças também podem representar em seus
63
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
desenhos aquilo que desejam participar em suas vidas cotidianas para além do que está no papel.
Através de seus desenhos, Mirela anseia que o seu mundo externo, em especial a escola, seja o seu ambiente familiar, talvez porque em casa não existam crianças com as quais possa brincar. O único espaço que tem para realizar e estimular brincadeiras e interações é a escola. Ela anseia encontrar outras crianças tendo todo o tempo para brincar. Essa é uma temática recorrente em seus desenhos, incluindo, sempre, as mesmas amiguinhas em cenários que se modificam.
São tempos de agora esses das crianças sozinhas em suas casas, e, enquanto brinca, Mirela desenha os desejos de encontrar crianças e brincar.
Nas coletas realizadas, notamos que a maioria das crianças entre 6 a 12 anos apresenta uma mesma temática: desenhos de casas com telhados, janelas e portas; ao redor das casas, aparecem árvo-res ou flores; há, ainda, um céu com nuvens e um sol. Essas crian-ças já estão na escola aprendendo a escrita e começam a abandonar o ato de desenhar – talvez essa temática prevaleça com desenhos assimétricos.
Foi percebido, também, que os adultos tendem a desenhar essa mesma temática quando solicitados, uma vez que, assim como o Pequeno Príncipe, certa vez foram encorajados ao insucesso. Esse tipo de desenho pode ser aquele que marca a fase da escola e per-manece nas suas lembranças até os dias de hoje.
Desenhar, imaginar e contar
Vejamos a coleta de desenhos realizada por Erika Siotani. É de uma criança de seis anos, chamada Julia, cujos desenhos fo-ram produzidos em sua residência. Essa criança tem uma grande vivência com a natureza, pois reside em um sítio, o qual sempre é retratado em seus desenhos. Para cada desenho, existe uma história contendo sempre um “Fim” ao término.
64
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
Segue, como exemplo, uma história feita pela Julia em um dos seus desenhos:
A dona borboleta foi visitar seus amiguinhos vaga-lume, abre a porta vaga-lume quero entrar, a dona borboleta en-trou e falou com seus amigos. O que vocês estão brincan-do? Estamos brincando de pega-pega, pode brincar, você é minha convidada, mas ela tinha que ir embora estava muito cansada de brincar. Tchau amigos. Fim.
Figura 1. Julia, 6 anos.
Essa maneira de a criança interpretar seu desenho manifesta o seu comportamento; essa criança gosta de brincar e incorpora no desenho a sua perspectiva de brincadeira. Em seus desenhos, Julia destaca muitos insetos, flores, pássaros, a natureza e apresenta o seu ambiente: uma área rural de São Paulo.
A criança, através de seus desenhos, mostra-nos suas fanta-sias e imaginação, bem como demonstra a disposição. Cabe a nós termos a capacidade de ouvi-la e vê-la desenhar para que possa-mos compreender o processo imaginativo na elaboração de seus desenhos.
65
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
Primeira infância
As crianças da primeira infância desenvolvem desenhos dos momentos vividos, de seus desejos, do que mais gostam e de seus locais de preferência. Algumas desenham com traços ainda inde-finidos; as mais velhas acumulam imagens do seu dia a dia, cons-truindo modelos de representação, ressalta Lilia dos Santos.
Já na segunda infância, as crianças repetem os seus traços vendo colegas desenhar, surgindo a brincadeira de competição “quem desenha o que”; enfim, um gosto por desenhar que pode cada vez mais ganhar vida e histórias. Esses traços, infelizmente, podem se perder com o passar dos anos, com as responsabilidades que a vida lhes encarrega. Mas, no fundo, elas nunca deixam de sonhar. Paola Donato e Ana Cardoso prosseguem suas percepções acerca das crianças da segunda infância:
Por estarem no período de transição da infância para a adolescência – que pode ser conflitante entre o que eles querem e o que lhes é cobrado –, passam a ter mais ver-gonha de desenhar e se apegam muito aos supostos erros. Isso pode ser relacionado ao fato de a sociedade cobrar inconscientemente e até conscientemente o que julga ser perfeito; assim, as crianças reproduzem o que escutam no seu entorno. Mas o que é perfeição? Como se chega a ela? Será que ela existe? Isso pode ser um ponto negativo, pois as crianças, desde pequenas, reproduzem e querem a per-feição seguindo um padrão estabelecido. Ao saírem desse padrão, os desenhistas sentem-se inseguros e com vergo-nha – já que, nessa idade, eles param de desenhar o que sabem e passam a desenhar o que veem.
Ao reproduzir a realidade em seu desenho e pelo fato de este não ficar tão parecido com o objeto desenhado, começam as cobran-ças interna e externa. Esse conjunto de fatores pode levar à falta de vontade de desenhar. Por isso, existem muitos adultos e até mesmo crianças que não desenham (e que deixaram de desenhar cedo). Po-demos concluir que a sociedade é a maior fonte de inspiração para o desenho e, também, a maior vilã ao reprimir as produções das crian-ças. Fica claro que a repressão acontece em qualquer forma de ex-pressão, inclusive no desenho. A livre expressão deveria ser vivida.
66
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
O comportamento através da arte
Larissa Fujisaka descreve as percepções pulsantes de sua ida a duas escolas de Educação Infantil:
É incrível a história e experiência que cada criança traz consigo. A maneira que cada uma expressa suas ideias, sua criatividade, seus medos e suas vontades é encantadora. Quando se dá à criança um lápis e um papel, ela se sente livre para explorar e, acima de tudo, representar sua vida e realidade, sendo que a ingenuidade e a imaginação fazem com que, de uma maneira muito particular, se sintam capa-zes de desenhar tudo, deixando que um traço se transforme em um castelo e círculos, em sol, rostos, corpos e animais.
O que podemos observar é que o traço da criança é tão admi-rável que passa a ser libertador: a disposição das imagens, as cores, as linhas e as formas (todas feitas sem nenhuma intervenção) for-mam um equilíbrio que combina todos os sentimentos.
Sobre sua coleta, Juliana Hitzschky afirma: Os meninos (Caio 2 anos, Rafael 4 anos, Guilherme 5 anos, Rodrigo e Victor ambos com 8 anos) foram muito espontâneos. Embora tenham desenhado rapidamente, fi-caram satisfeitos com suas produções. Porém, Nicole, 12 anos, única menina dessa coleção, demorou a concluir e, por algumas vezes, utilizou a borracha para corrigir os traços que julgava imperfeitos. Após explorarem o traço com o lápis 6B, disponibilizei outros materiais, como lápis colorido e canetinha hidrocor,
Larissa Fujisaka descreve pertinentes observações sobre o que presenciou durante a coleta:
Os pequenos (entre 3-4 anos) ainda têm forte influência da garatuja. Conforme vão crescendo, vão dando mais firme-za e racionalidade ao traço. Notamos claramente essa pas-sagem ao acompanhar as idades: nos desenhos das crian-ças de até quatro anos, vemos que são mais presentes as formas abstratas4. Já nos maiores, as formas tomam mais precisão, mostrando que o desenho deixa de ser “infantili-
4 O termo “abstrato” utilizado aqui busca ilustrar a visualidade da imagem construída pela criança, mas não trata de um procedimento consciente desta.
67
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
zado” e entra no mundo dos adultos, ou seja, acabam tor-nando-se estereótipos. É extremamente curioso como a personalidade é exposta através da arte. Quando demos os materiais para eles, todos entraram em seus próprios mun-dos: a maioria dos meninos do primeiro ano (6-7 anos) de-senhou dinossauros, lutas, sangue e todos os amigos (me-ninos) juntos, representando a força e uma possível autoafirmação com relação ao sexo masculino [...]. Muitas crianças desenharam também a família unida e, em suas descrições, diziam o quanto gostavam dos pais e irmãos e quanto brincavam com eles. Notamos, também, que, em certos desenhos, há imagens soltas, sem a diferenciação de “chão” ou “céu”, “dia” ou “noite”, “chuva” ou “sol” [...]. Encontramos, em outros, figuras postas nas margens que não acompanham a linha do desenho, como o sol de ponta cabeça e a distribuição dos corpos pela folha, que não pos-suem uma ordem certa; isso se dá porque, nessa idade, como a criatividade está no seu ápice, a criança se vê livre para desenhar sem um ponto fixo; por isso, vai “girando” a folha ao redor de seu trabalho.
Fujisaka acrescenta que o melhor momento aconteceu quan-do foram analisados os trabalhos e conversou-se com cada criança. “Pedimos a elas que falassem um pouco sobre os desenhos e con-tassem que história havia ali”. É emocionante entrar, através do desenho, na realidade de cada uma, descobrindo os medos e anseios de uma forma incrivelmente particular. Alguns traziam histórias e explicações engraçadas; outros inventavam tudo na hora. No en-tanto, cada um se expressava de um jeito único. Na primeira escola visitada, havia um garoto que preencheu quase toda a folha com lápis de cor, tendo um cuidado extremamente delicado em deixar algumas partes em branco, para dar mais sentido, para ele, ao seu desenho. Foi-lhe perguntado: “Por que você desenhou tudo isso?”. Ele respondeu: “Porque eu consigo”.
Assim, dentro de tantos “porquês”, ele simplesmente conse-guiu transmitir sua capacidade de uma maneira incrivelmente hu-milde.
68
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
Figura 2. João Luiz, 5 anos: “Sol, porque é legal. O sol parece um ovo, eu acho bonita a gema dele”.
A arte e a Educação Especial
Compreender as necessidades de uma criança especial é tão fascinante quanto aprender com ela. É nesse contexto, livre e de-mocrático, que as crianças da Educação Especial são capazes de ensinar o quanto podemos estar equivocados. Produzir arte foge a muitos postulados teóricos. Não se trata de execrar os conceitos necessários aos estudos; trata-se de aceitar a criação como forma de aprender, ampliar o que se aprende e entender a criança em sua essência. Estes trabalhos foram coletados em classe de Educação Especial em Deficiência Intelectual da Rede Pública Estadual, na cidade de Guarulhos, por Cristina Viana:
69
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
Figura 3. Fernando – 16 anos. Retrata animais (onça, leão, cachor-ro) e a mais nova aluna da classe, Maria Júlia.
Figura 4. Fernando. Trata-se de um personagem de videogame, o qual ele não soube nomear.
70
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
“Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.”
Stefane Silva coletou desenhos de estudantes não videntes: “É uma nova perspectiva sobre nossos olhares para a vida, muitas vezes apagada diante da imensidão de possibilidades que o mundo tem a nos oferecer”. Ao observamos sem sentirmos suas cores, seus tons e nuances, calamo-nos para deixar que o outro fale e nos dê pistas de outras percepções e aprendizagens. Lucas desenha o Gato de Botas frequentemente, e a hipótese é de que tenha memorizado, pelo tato, um livro com figuras em relevo. Como sabemos, quan-to maior é o detalhamento de linhas, maior é a complexidade em compreender a imagem. Se tentarmos fechar os olhos e imaginar o toque de uma imagem em relevo, vamos perceber a dificuldade de percebê-la. Sem vê-la, percebemos nela inúmeras linhas, apontan-do para diversos lados. É possível que cheguemos à exaustão sem compreendê-la.
Figura 5. Lucas – 13 anos. Gato de botas.
Fernando Costa tem baixa visão e traz referências televisivas do personagem Goku do desenho animado Dragon Ball. Observe-mos como soluciona o personagem ao seu modo; o desenho é culti-vado pela cultura televisiva.
71
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
Figura 6. Fernando Costa – 21 anos. “Goku e uma mulher seguran-do um leão”. Ao lado direito, o personagem do desenho animado.
Um ambiente envolvido nos desenhos
A coleta desses desenhos foi feita na cidade de São José dos Campos, numa escola municipal de Educação Infantil; apresenta-mos um desenho da coleta. Nela, foram coletados desenhos do In-fantil I (entre 3 a 4 anos) e do Infantil III (entre 5 a 6 anos) por Stela Costa.
Foi observado que os alunos do Infantil III apresentaram maior prazer em desenhar, considerando que estes já exercem mais atividades de linguagem e matemática e desenham livremente, sen-do o momento de criação mais espontâneo que obtido por eles.
Uma descoberta interessante foi perceber que, em duas tur-mas, os desenhos e temas foram muitos parecidos, envolvendo acontecimentos da escola; entre os meninos, o tema mais recorrente são carros; entre as meninas, paisagens.
Apenas um desenho ficou fora desse quadro. Uma menina de 6 anos apresentou um acontecimento diferente do rotineiro pessoal. Enquanto desenhava, contava o que havia ocorrido: todos os dias, ela vai de carro para a escola com o seu irmão e sua mãe; porém, nesse dia, o carro estava no conserto e, pela primeira vez, fora para
72
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
a escola de ônibus. Ela, então, desenhou o ônibus e, enquanto dese-nhava, contava os detalhes que este trazia e ia colocando no papel. Desenhou as rodas, o cobrador, o motorista, o fio que se puxa para solicitar a parada o ônibus, o lugar reservado para pessoas com de-ficiência. Ela estava maravilhada por ter andado de ônibus.
Figura 8. Mirella.
Do realismo fortuito ao realismo visual
Nessa coleção, Juliana Hitzschky explorou as diversas fases dos desenhos de acordo com cada idade. Segundo o estudioso Luquet (1969), a criança tem traços diferentes em cada faixa etária; isso diferencia sua maneira de simbolizar o que desenha. Essas fases, segundo Luquet, são: realismo fortuito, realismo fracassado, realismo intelectual e realismo visual.
Com essa coleção, pude perceber as fases propostas por Luquet nos desenhos de cada faixa etária, do realismo for-tuito (desenha sem intenção, é a fase das garatujas) ao re-
73
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
alismo visual (desenha o mundo de acordo com a sua von-tade, mas também pode ocorrer submissão mais ou menos infeliz à perspectiva). Stela Costa.
Inicialmente, para a criança, “[...] o desenho não é um traçado executado para fazer uma imagem, mas um traçado executado sim-plesmente para fazer linhas” (LUQUET, 1969, p. 145).
Figura 9. Guilherme, 5 anos, desenhou um homem indo ao cinema com uma sacola de pipoca.
74
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
Figura 10. Victor, 8 anos, desenhou uma caminhonete.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Cristina Viana, a proximidade com crianças portadoras de necessidades especiais na última década possibilitou a oportuni-dade de aprender sobre elas e com elas. Incluir nessa aprendizagem de educador o caráter do desenho livre, objeto das Práticas Peda-gógicas Programadas – Museu do Desenho, dimensionou o que é aprender.
Deborah Sá atentou para a abordagem com a produção, cria-ção e inventividade estética das crianças. De modo geral, tudo o que uma criança sente, deseja ou teme é considerado pelos adultos como supérfluo ou dissimulado. “Com as coletas que realizou, foi possível observar o quanto adultos tolhem o livre traçado, a escolha de cores e impõem o modo ‘certo’ de se desenhar”, acrescenta.
75
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
Pouco a pouco, a criança é desestimulada, acreditando que não sabe desenhar “direito” por tantas respostas negativas diante da indiferença quando compartilha suas produções. Não raro, adultos tem receio e vergonha de mostrar para alguém seus “rabiscos” por fugirem do realismo e gráficos digitalizados; continuar a prática de desenhar é se permitir a expressar o movimento do corpo (porque desenho também é corporeidade). Desenhar é como dançar – há aqueles que têm tanta vergonha de seus movimentos que preferem fazê-los em um lugar reservado longe dos olhares curiosos. Vale arriscar trazer a público alguns passos e traços dessa caligrafia do improviso, coreografada em ritmos e sons que compõem um pouco de nós: o desenho.
Stela Costa começou a trabalhar na educação infantil e per-guntava porque todos os dias havia desenhos.
Eu, na minha primária concepção, pensava em não colocar tantos desenhos para os meus alunos quando fosse profes-sora; decerto, a escola privilegia as atividades de mate-mática e linguagem. Depois do projeto, pude enxergar o quanto os desenhos ajudam a criança a se expressar, a se comunicar, a desenvolver a coordenação motora e a criati-vidade e, principalmente, a brincar.
Agora, ela observa as crianças com as quais trabalha e vê com quanto prazer desenham e o quanto elas desenvolvem desenhan-do. Quando for professora, incentivará inúmeros momentos para o desenho.
Para Juliana Hitzschky:Ter a oportunidade de observar os desenhos das crianças de uma maneira que nunca havia visto antes e perceber que os desenhos possuem uma progressão de traços de acordo com a faixa etária das crianças é a instância desta pes-quisa, uma vez que eles podem simbolizar sua realidade e explorar sua criatividade através do desenho. O desenho infantil compõe-se de elementos cognitivos das crianças que os criam e o quão necessário se faz essas criações du-rante suas vidas.
O contato com as crianças, a partir do Museu do Desenho, mudou a maneira de olhar os desenhos infantis para Larissa Fujisaka.
76
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
A expressividade gráfica de uma criança não é valorizada, porém é impressionante observar como a criatividade e os sentimentos são demonstrados de forma tão única e humil-de. Dei-me conta do quão importante é trazer para a sala de aula atividades relacionadas a desenhos e expressão, para que, assim, cada criança seja capaz de desenvolver-se de forma livre.
Estamos no terceiro ano do Museu do Desenho5 e essa é uma frente de pesquisa necessária para a construção de novas reflexões sobre a expressividade da criança, novas práticas na construção de experiências artísticas que valorizem o desenvolvimento de estilos individuais e a construção de documentação e acervo para as esco-las, universidades, professores e crianças do nosso país.
REFERÊNCIAS
ALBANO, Ana Angélica. Espaço do desenho: a educação do educador. São Paulo: Loyola, 1999.
ARIÉS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.
CASIMIRO, Ana Palmira Bittencourt Santos. Nova escola para aprender a ler, escrever e contar. Disponível em: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/1_Jesuitico/nova_escola_aprender.htm>. Acesso em: 5 fev. 2012.
COX, Maureen. O desenho da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
GOBBI, Marcia A. Foi respeitada a expressão da criança quando disse o que fez: Mário de Andrade e os desenhos das crianças pequenas. I Seminário Educação, Imaginação e as Linguagens Artístico-Culturais, 5 a 7 de setembro de 2005. Disponível em: <http://www.gedest.unesc.net/seilacs/crianca_marciagobbi.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2013.
5 São produções dos grupos de PPP em 2011, 2012, 2013 os seguintes blogs e o vídeo:
Museu do Desenho. Disponível em: <http://museudodesenho.wordpress.com/>. Acesso em: 27 out. 2014.
Museu do Desenho da Criança. Disponível em: <http://museudacrianca.wix.com/museudacrianca>. Acesso em: 27 out. 2014.
Museu do Desenho. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=a0Cb3LQCUOE>. Acesso em: 27 out. 2014.
77
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 55-78, 2014
LOWENFELD, Viktor. Desenvolvimento da capacidade criadora. São Paulo: Mestre Jou, 1977.
LUQUET, G. H. O desenho infantil. Porto: Livraria Civilização, 1969.
MEREDIEU, Florence de. O desenho infantil. São Paulo: Cultrix, 1974.
ÍNDICE DE FIGURAS
Introdução – A coletora - G, 5 anos
Figura 1 – Julia, 6 anos.
Figura 2 – João Luiz, 5 anos: “Sol, porque é legal. O sol parece um ovo, eu acho bonita a gema dele”.
Figura 3 – Fernando – 16 anos. Retrata animais (onça, leão, cachorro) e a mais nova aluna da classe, Maria Júlia.
Figura 4 – Fernando. Trata-se de um personagem de videogame, o qual ele não soube nomear.
Figura 5 – Lucas – 13 anos. Gato de botas.
Figura 7 – Fernando Costa – 21 anos. “Goku e uma mulher segurando um leão.” Ao lado direito, o personagem do desenho animado.
Figura 8 – Mirella.
Figura 9 – Guilherme, 5 anos, desenhou um homem indo ao cinema com uma sacola de pipoca.
Figura 10 – Victor, 8 anos, desenhou uma caminhonete.
79
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
Pedagogia empresarial e liderança: o diferencial nas organizações competitivas
Vanessa Nogueiro Brunhara BATISTA1
Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa exploratória, com base em revisão bibliográfica. Como técnica, a pesquisa bibliográfica compreende lei-tura, seleção, fichamento e arquivo dos tópicos de interesse para a pesquisa em pauta, com vistas a conhecer as contribuições científicas que se efetuaram sobre determinado assunto. A leitura direcionada dos referidos textos facilitou o alcan-ce do objetivo proposto. Na leitura e análise das publicações, procurou-se abor-dar as questões relativas à pedagogia e à liderança no ambiente organizacional. Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar a pedagogia empresarial e a liderança como ferramentas necessárias pela busca da estratégia nas organiza-ções competitivas. O pedagogo empresarial e o líder auxiliam no desenvolvi-mento das competências e habilidades do indivíduo, para que cada profissional saiba lidar com várias demandas, com incertezas e diferentes culturas ao mesmo tempo, ensinando a liderança a direcionar o resultado positivo num mercado em que a competitividade está cada vez mais acentuada.
Palavras-chave: Pedagogia Empresarial. Liderança. Gestão Estratégica de Pes-soas. Organizações Competitivas.
1 Especialista em Pedagogia Empresarial pelo Claretiano - Centro Universitário. Especialista em Gestão de Pessoas pela Faculdade Anhanguera. Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade ASSER de Rio Claro (SP). Atua como Supervisora de Relações Humanas em uma Indústria Metalúrgica da cidade de Rio Claro (SP). E-mail: <[email protected]>.
80
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
Corporate pedagogy and leadership: the differential in competitive organizations
Vanessa Nogueiro Brunhara BATISTA
Abstract: This work is the result of an exploratory research based on bibliographic reviews. As a technique, the bibliographic review comprehends the reading, selection, filing, and archiving of the topics of interest for a research in order to find the scientific contributions that were performed regarding a specific topic. The focused reading of such texts contributed to the achievement of the proposed objective. During the reading and analysis of the periodics, points related to pedagogy and leadership in the organizational environment were approached. The main objective of this research is the analysis of corporate pedagogy and leadership as tools needed for the accomplishment of strategy in competitive organizations. The corporate pedagogue and the leader assist in the development of the individual’s competences and abilities, so that each professional is able to manage different requests and deal with dubious situations and with distinct cultures concurrently, teaching the leadership to focus positive results in an increasingly competitive market.
Keywords: Corporate Pedagogy. Leadership. Strategic Staff Management. Competitive Organizations.
81
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
1. INTRODUÇÃO
A Pedagogia empresarial tem sido valorizada pelas organi-zações que pretendem instituir atividades de estímulo ao desenvol-vimento profissional e pessoal de seus colaboradores. Liderança é um dos temas que tem sido objeto de estudo do homem ao longo de sua história e, atualmente, é enfatizada a sua importância na gestão estratégica de pessoas. Entende-se que liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas cujo objetivo é transformá-lo em uma equipe que gere resultados.
O presente artigo, com base em revisão bibliográfica, tem por objetivo de análise a produção científica sobre o assunto. Como técnica, a pesquisa bibliográfica compreende leitura, seleção, ficha-mento e arquivo dos tópicos de interesse para a pesquisa em pauta, com vistas a conhecer as contribuições científicas que se efetuaram sobre determinado assunto. A leitura direcionada dos referidos tex-tos facilitou o alcance do objetivo proposto. Na leitura e análise das publicações, procurou-se abordar as questões relativas à pedagogia e à liderança no ambiente organizacional.
A justificativa desta pesquisa ocorre em virtude de a lideran-ça exercer forte influência interpessoal em determinadas situações que, aliada a pedagogia empresarial, orienta e dirige à consecução de um ou mais objetivos específicos.
Sobre essa questão, Chiavenato (2000, p. 314) afirma que:A liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, principalmente nas empresas e em cada um de seus departamentos. Ela é igualmente essencial em todas as demais funções da administração: planejamento, orga-nização, direção e controle. Porém, a liderança é mais re-levante na função de direção – aquela que toca mais perto as pessoas.
O pedagogo empresarial atua a favor de um pleno desenvol-vimento do indivíduo, considerando diferentes culturas e formas de aprender do ser humano, buscando sua completa formação, tan-to intelectual quanto emocional. Nesse âmbito, observa-se que sua atuação vem se ampliando, uma vez que estamos inseridos em uma
82
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
sociedade que se transforma rapidamente, cada vez mais globaliza-da e tomada por um número grande e diversificado de informações. O processo de formação de líderes em uma organização torna-se cada vez mais importante e necessário para proporcionar um am-biente fértil ao desenvolvimento do capital intelectual, tendo em vista que a gestão de pessoas está inserida nas reflexões estratégi-cas das organizações.
Na concepção de Holtz (2006), o Pedagogo Empresarial tem por objetivo fazer que o empresário perceba com nitidez que o seu ideal de vida, suas aspirações e objetivos pessoais correspondem a uma questão ética e social na empresa. Os melhores “chefes” con-seguem resultados brilhantes porque são líderes educadores.
Para Libâneo (2007), é considerado com unanimidade entre os estudiosos o entendimento de que as práticas educativas se es-tendem às mais variadas instâncias da vida social, não se restrin-gindo, portanto, à escola e, muito menos, à docência, embora estas devam ser a referência da formação do pedagogo escolar. Dessa forma, o campo de atuação do profissional pedagogo é tão vasto quanto são as práticas educativas na sociedade.
É preciso estar sempre atento, pois a liderança despreparada cria conflitos desnecessários, estimula jogos de poder e, principal-mente, desmotiva a equipe. Se os líderes não tiverem consciência dos desafios enfrentados por suas equipes, a empresa transforma--se em um navio sem rumo. A liderança é, hoje, um dos guias das organizações ao alcance da excelência e da própria superação, fato que atrai um grande número de conjecturas sobre modelos e apli-cações utilizados para identificar, desenvolver e avaliar o potencial dos executivos nas empresas, bem como o desempenho das equipes de trabalho.
A pedagogia aliada à liderança visa melhorar a qualidade do trabalho nas organizações e tem por base a gestão de pessoas, desenvolvendo a capacidade de renovação de seus colaboradores, buscando sempre novas metodologias, promoção de atitudes mo-bilizadoras e transformadoras, tendo por objetivo a excelência no atendimento às exigências do mercado e da sociedade.
83
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
De maneira geral, a pedagogia e a liderança nas empresas são atividades que estão diretamente ligadas às pessoas. E, para que o trabalho seja desenvolvido de acordo com os objetivos propostos pelo pedagogo e pelo líder, é fundamental que haja uma relação muito grande de confiança entre todos os envolvidos. Porém, para adquirir essa confiança, o pedagogo e o líder devem se entregar ao desenvolvimento pessoal, de forma que busquem continuadamente a atualização e qualificação.
2. PEDAGOGIA EMPRESARIAL E LIDERANÇA: O QUE SÃO E O QUE REPRESENTAM PARA AS EMPRESAS?
A pedagogia pode contribuir para o desenvolvimento das or-ganizações, o qual, aliado à liderança, tem sido um dos temas de estudo do homem na gestão estratégica de pessoas.
Para Ribeiro (2003), tanto a educação como o treinamento se constituem como processos complementares, cujo objetivo bus-ca muito mais do que acumular técnicas ou conhecimentos, mas, acima de tudo, promover mudanças de atitudes mais amplas, que ultrapassam os limites do ambiente de trabalho.
Vale ressaltar que, para ocorrer o desenvolvimento da ca-pacidade de atuação com os recursos humanos da organização, o pedagogo empresarial necessita reforçar sua formação filosófica, humanística, técnica e de liderança.
Para Robbins (2002, p. 241), a valorização do treinamento nas organizações foi motivada pela: “[...] competição intensificada, as mudanças tecnológicas e a busca de aumento da produtividade que estão aumentando as demandas de qualificação dos funcionários”.
Múltiplas são as funções do pedagogo empresarial, suas atu-ações e seus objetivos de acordo com o empreendimento em que se trabalha, as estratégias e metodologias que asseguram uma melhor aprendizagem de informações e conhecimentos, já que considera a empresa como um ambiente ensinável, estruturado como uma as-sociação de pessoas com o mesmo objetivo profissional – a produ-tividade.
84
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
Entende-se que o treinamento e a educação profissional têm como finalidade melhorar o desenvolvimento do potencial humano na empresa.
A intervenção do pedagogo empresarial será diretamente na área de Recursos Humanos, onde desenvolverá dinâmicas de grupos, jogos de desenvolvimento de equipes e outros para se ob-ter uma relação interpessoal no trabalho saudável. O objetivo será apaziguar os conflitos de relacionamento, onde as pessoas poderão exprimir suas angústias e aflições, trocar informações e estabelecer um momento de descontração e interação.
Sobre esse ponto, Moscovici (1998 p. 47) afirma que:Vale enfatizar, reiteradamente, que as relações interpesso-ais no grupo são tão ou mais importantes do que a quali-ficação individual para as tarefas. Se os membros relacio-nam-se de maneira harmoniosa, com simpatia e afeto, as probabilidades de colaboração aumentam muito, a sinergia pode ser atingida e resultados produtivos surgem de modo consistente.
Para que ocorram constantes aprendizados dentro das organi-zações, os ambientes rotulados de “prisões intelectuais” devem ser eliminados na gestão. O pedagogo empresarial fará uso de técnicas como discurso, conferências, diálogos e utilização de audiovisuais para estimular as pessoas a expandir sua capacidade criativa e obter os resultados que realmente as satisfaçam, desenvolvendo um pen-samento sistêmico e abrangente, criando a troca de conhecimento em grupo.
O treinamento nas empresas passou a abranger aspectos psicossociais do indivíduo. Assim, os programas de trei-namento, além de visarem capacitar os trabalhadores para o desempenho das tarefas, passaram a incluir também ob-jetivos voltados para o relacionamento interpessoal e sua interação a organização (GIL, 1994, p. 63).
O pedagogo empresarial, no processo educativo das organi-zações, proporciona foco no incentivo de capacidade criativa por parte dos líderes, que precisam acompanhar a dinâmica das mudan-ças empresariais e, para isso, precisam primeiro aprender a apren-der e, pensando em seus colaboradores, aprender a ensinar.
85
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
O papel do pedagogo empresarial tem por objetivo propor-cionar um ambiente de aprendizado desenvolvendo nas pessoas o intuito das cinco disciplinas utilizadas nas organizações ensináveis, que Senge (2002, p. 40) classifica em: “[...] pensamento sistêmico, domínio pessoal, modelos mentais, a construção de uma visão com-partilhada e aprendizagem em equipe”.
Nota-se que a realização de orientações e treinamentos mo-tiva o colaborador a aprender mais sobre as suas atividades; desse modo, passa a enxergar que os novos conhecimentos favorecerão seu crescimento pessoal, profissional e implicará resultados provei-tosos no que se refere aos progressos da organização.
Na concepção de Gadotti (2000, p. 215): “Para mudar a prá-tica, é preciso reconceituá-la, ou seja, buscar novos conceitos que possam explicitá-la de outra forma”.
As pessoas apresentam uma capacidade grande de se desen-volver. O processo de desenvolvimento de pessoas está intimamen-te relacionado à educação. “Educar” (do latim educere) significa “extrair”, “trazer”, “arrancar”. Representa a necessidade do ser hu-mano de exteriorizar suas potencialidades.
Todo modelo de formação, capacitação, treinamento e, ges-tão de liderança deve proporcionar ao ser humano a oportunidade de se desenvolver a partir de suas próprias potencialidades, inatas ou adquiridas.
Destacam-se as políticas de desenvolvimento de líderes, pois, de acordo com Goleman (2002), diversos estilos de liderança têm efeito positivo no clima e nos resultados organizacionais. Ele sus-tenta que os líderes ou executivos mais eficazes, além de apresen-tarem habilidades técnicas e raciocínio analítico significativo, têm como requisito comum e indispensável um alto grau de inteligência emocional, conceito que reúne a capacidade de trabalhar em equipe e a eficiência na produção de mudanças; é composta de cinco ele-mentos: autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia e apti-dão social.
Elton Mayo (1933) promove a psicologia organizacional, sur-gindo a ciência capaz de facilitar a compreensão e a intervenção na
86
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
vida organizacional. O enfoque da administração de recursos hu-manos deixa de se concentrar exclusivamente nos aspectos legais e econômicos para atuar sobre o comportamento das pessoas.
Na concepção de Covey (1996), o líder do futuro deverá ter a capacidade para desenvolver uma cultura ou um sistema de valores baseado em princípios, a partir de uma visão, coragem e humilda-de para aprender e crescer continuamente. Nesse sentido, propõe o desmembramento da liderança em três funções ou atividades bási-cas: explorar, alinhar e dar autonomia.
De acordo com esse autor, os princípios afloram como valo-res, ideias, normas e ensinamentos que “[...] enobrecem, elevam, realizam, legitimam e inspiram as pessoas” (COVEY, 1994, p. 48).
A atuação do pedagogo empresarial será de estruturação e reestruturação do trabalho dos líderes e dos liderados em uma de-terminada área problemática, pois Morgan (1996) já avaliava que, quando a organização é vista por alguém de fora, essa pessoa tem a percepção de uma realidade diferente da atual, e, quando trabalha-do de forma combinada e em conjunto, o resultado será uma pro-dução totalmente diferente, com novas descobertas e interpretações entre pessoal e maquinário.
O pedagogo empresarial poderá promover ações multidisci-plinares nas diversas áreas da organização, articulando as pessoas (líderes e liderados) e estimulando a gestão de conhecimentos para a formação de cidadãos ativos e dinâmicos que são essencialmen-te significativos para o fomento de processos empreendedores no contexto organizacional.
3. GESTÃO ESTRATÉGICA NAS ORGANIZAÇÕES COM-PETITIVAS
O ambiente organizacional está cada vez mais competitivo, ágil, inovado e com desafios e exigências emergentes. Nestes úl-timos anos, com cenários econômicos conturbados, a gestão estra-tégica torna-se uma ferramenta indispensável para nortear as ações de qualquer organização.
87
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
O planejamento das ações empresariais parte primeiramente de uma análise dos pontos fortes e pontos fracos da empresa (fatores internos) e das oportunidades e ameaças para a organização (fatores externos). Após identificar esses fatores, devemos estabelecer a mis-são organizacional e os seus objetivos gerais, quantificando e/ou qua-lificando os resultados esperados num período predeterminado para o seu alcance. Depois, ocorre a formulação das estratégias levando em consideração os principais pontos a serem trabalhados para ala-vancar a organização. E, por fim, são elaboradas e implementadas as estratégias, e tornam-se necessárias atividades de controle que asse-gurarão o alcance dos objetivos organizacionais propostos.
Nesse contexto, a atuação das pessoas inseridas na organiza-ção é de extrema importância para que se alcancem os objetivos. As pessoas deixam de ser simples recursos “humanos” para serem abordadas como seres dotados de personalidade, inteligência, co-nhecimentos, habilidades, competências, aspirações e percepções singulares. A cultura organizacional passa a valorizar a mudança e a inovação com foco na gestão estratégica vislumbrando um futuro competitivo para a organização.
Os executivos que dirigem organizações devem começar a ver-se como líderes estratégicos que necessitam aceitar e unir líde-res visionários e gerenciais. Devem enfatizar a estratégia e entender os conceitos de conhecimento tácito e explícito, de pensamento li-near e não linear, e entender que podem integrá-los de modo que a organização se beneficie.
Estratégia, pedagogia e liderança é o caminho que uma orga-nização deve seguir. Envolve decisões no sentido de satisfazer as necessidades para as quais a organização existe e para alcançar os resultados financeiros desejados. Essas decisões devem ser consi-deradas estratégias quando for difícil voltar atrás, uma vez tomadas (ALMEIDA, 2007).
Destaca-se que, atualmente, a gestão do conhecimento repre-senta o maior capital da organização; desse modo, é oportuno ela que seja valorizada como ferramenta para a formulação de cenários empreendedores que propiciem a implementação de mudanças es-tratégicas.
88
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
As organizações buscam estimular a ampliação do conheci-mento de todos, de forma democrática e coexistindo em uma polí-tica participativa. Piletti (1995, p. 16) cita: “educação não se con-funde com escolarização, pois a escola não é o único lugar onde a educação acontece. A educação também se dá onde não há escolas”. A liderança e a pedagogia vêm ao encontro do aperfeiçoamento das relações nessa fase de reorganização do ambiente organizacional e de gestão estratégica de pessoas.
Sobre esse tema, Ribeiro (2003, p. 9) conclui:Considerando-se a empresa como essencialmente um es-paço educativo, estruturado como uma associação de pes-soas em torno de uma atividade com objetivos específicos e, portanto, como um espaço também aprendente, cabe à pedagogia a busca de estratégias e metodologias que ga-rantam uma melhor aprendizagem/apropriação de infor-mações e conhecimentos.
O diferencial competitivo são os atributos que transforma a organização em “única e superior” comparada a outras organiza-ções do mesmo segmento de mercado. São vantagens e benefícios exclusivos que a organização proporciona aos seus clientes e que a concorrência ainda não conseguiu oferecer. No entanto, ele so-mente é valorizado quando o mercado consumidor percebe essas vantagens. Por isso, além de possuir diferenciais, a organização precisa adotá-lo em sua estratégia de mercado e divulgá-lo de for-ma adequada.
Para Fischer (2002), a busca da valorização dos elementos humanos no sucesso das empresas teve início os anos 1970, com o desenvolvimento do conceito de capital humano. Segundo o au-tor, o objetivo básico era inverter a visão predominante da gestão de recursos humanos focada na otimização e nos custos para uma perspectiva de valorização de ativos.
Mais que um conjunto de valores e competências organi-zacionais, a prática da gestão estratégica orientada por princípios busca identificar e capacitar gestores que possam refletir sobre sua própria realidade e atribuir maior significado para a rotina de tra-balho, dentro de uma racionalidade econômica. Identificar e inte-riorizar princípios que possam orientar a ação individual e coletiva,
89
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
como mecanismos informais de coordenação, liderança pedagógica e motivação, tornou-se uma tarefa fundamental para as organiza-ções competitivas.
Sobre essa questão, Chiavenato (2008, p. 53) afirma que “o capital humano é o patrimônio inestimável que uma organização pode reunir para alcançar a competitividade e o sucesso”.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Torna-se possível afirmar que a liderança exercer forte in-fluência interpessoal em determinadas situações que, aliada à pe-dagogia empresarial, orienta e dirige a consecução de um ou mais objetivos específicos, sendo de essencial importância enfatizar que a pedagogia empresarial existe para dar suporte em relação à estru-turação das mudanças e à ampliação de aquisição de conhecimento no espaço organizacional. O processo de formação de líderes em uma organização é muito importante e necessário para proporcio-nar um ambiente fértil ao desenvolvimento do capital intelectual. O pedagogo empresarial tem por objetivo fazer que o empresário perceba, com nitidez, que, para o desenvolvimento organizacional, é necessário ampliar a atuação dos líderes educadores.
Vale ressaltar que a pedagogia empresarial e a liderança vi-sam melhorar a qualidade das organizações buscando sempre no-vas metodologias que proporcionem excelência no atendimento às exigências do mercado e da sociedade. O pedagogo empresarial desenvolverá dinâmicas de grupos, jogos de desenvolvimento de equipes e outros para se obter uma relação interpessoal no trabalho. Auxiliará o líder a apaziguar os conflitos de relacionamento exis-tentes.
O processo educativo das organizações proporciona o desen-volvimento dos líderes que primeiro aprendem a aprender e, de-pois, aprendem a ensinar. Diante das transformações ocorridas nas organizações, surge a necessidade de novas formas de liderança, aprendizado e a construção de novos saberes. Cada vez mais, elas descobrem a importância da liderança, do estímulo para formação de novos líderes e da educação no trabalho.
90
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
A pedagogia empresarial promove, nas diversas áreas da em-presa, ações multidisciplinares, articulando líderes/liderados e es-timulando a gestão de conhecimentos para a formação de cidadãos nos processos empreendedores diante do contexto organizacional.
Nessa perspectiva, é possível afirmar que a gestão estratégica, orientada por princípios, busca identificar e capacitar gestores que possam refletir sobre sua própria realidade, identificar e interiorizar princípios que possam orientar a ação individual e coletiva, tornan-do-se fundamental para as organizações se manterem competitivas, cabendo ao líder e ao pedagogo empresarial apresentar estratégias e metodologias que garantam uma melhor aprendizagem na organi-zação, a apropriação de informações e conhecimentos, tendo como finalidade principal atuar juntamente com a Gestão de Pessoas, ca-paz de provocar mudanças no comportamento dos indivíduos, de modo que estas melhorem a qualidade do seu desempenho tanto profissional quanto pessoal.
Neste contexto, podemos concluir que o pedagogo empresa-rial e o líder auxiliam no desenvolvimento das competências e ha-bilidades de cada indivíduo, para que cada profissional saiba lidar com várias demandas, com incertezas, com várias culturas ao mes-mo tempo, ensinando a liderança a direcionar o resultado positivo num mercado onde a competitividade está cada vez mais acentuada.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. I. R. Manual de planejamento estratégico. São Paulo: Atlas, 2007.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2000.
______. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
COVEY, S. R. Liderança baseada em princípios. Rio de Janeiro: Campus, 1994.
______. Os 7 hábitos das pessoas muito eficazes. São Paulo: Best Seller, 1996.
91
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2014
FISCHER, A. L. Um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de pessoas. In: Fleury, M. T. L. (Org.). As pessoas na organização. São Paulo: Gente, 2002.
GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Artmed, 2000.
GIL, A. C. Administração de recursos humanos: um enfoque profissional. São Paulo: Atlas, 1994.
GOLEMAN, D. Liderança que obtém resultados. In: Harvard Business Review on What Makes a Leader. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
HOLTZ, M. L. M. Lições de pedagogia empresarial. MH Assessoria Empresarial Ltda., Sorocaba: 2006. Disponível em <http://www.mh.etc.br/documentos/licoes_de_pedagogia _empresarial.pdf>. Acesso em: 13 maio 2013.
LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e pedagogos, para quê? 9. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2007.
MAYO, G. E. The human problems of an industrial civilization. New York: Macmillan Company, 1933.
MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996.
MOSCOVICI, F. Equipes dão certo: a multiplicação do talento humano. 4. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.
PILETTI, C. Didática geral. São Paulo: Ática, 1995.
RIBEIRO, A. E. A. Pedagogia empresarial – atuação do pedagogo na empresa. Rio de Janeiro: Wak, 2003.
ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
SENGE, P. M. A quinta disciplina – arte e prática da organização que aprende. São Paulo: Best Seller, 2002.
93
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
A importância do estudo de Metodologia da Pesquisa Científica para o desenvolvimento do aluno de licenciatura
Everton Luís SANCHES1
Resumo: Este artigo pretende abordar, sucintamente, a importância do estudo de Metodologia da Pesquisa Científica por parte do aluno de licenciatura, tendo em vista a relação entre a pesquisa científica, os procedimentos necessários para a prática docente e a vida cotidiana. Pretende estabelecer que o entendimento sobre as diferentes formas de conhecimento pode constituir uma estratégia para sensibilizar o aluno e torná-lo mais receptivo ao conhecimento promovido pelas escolas, tanto em nível básico como no nível superior. Igualmente, considera que o pensamento científico constitui ferramenta fundamental para orientar escolhas cotidianas e a prática docente.
Palavras-chave: Conhecimento científico. Docência. Cotidiano.
1 Doutor em História pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Licenciado em História pela mesma instituição – onde atualmente é pesquisador. Professor do Claretiano – Centro Universitário. E-mail: <[email protected]>.
94
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
The importance of studying Scientific Research Methodology for the development of licentiate students
Everton Luís SANCHES
Abstract: This article intends to briefly address the importance of the study of Scientific Research Methodology by the graduate student, considering the relation among scientific research, the necessary procedures for the teaching practice and quotidian life. Also, this study intends to establish that the understanding about the different forms of knowledge may be a strategy to sensitize the students and make them more receptive to the knowledge which is promoted by schools, in Primary, Secondary and Higher Education. This study equally considers that the scientific thinking is a fundamental tool to guide quotidian choices and the teaching practice.
Keywords: Scientific knowledge. Teaching. Quotidian.
95
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
1. INTRODUÇÃO
Empiricamente, podemos identificar nas aulas de Meto-dologia de Pesquisa Científica que o empenho na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso muitas vezes é interpretado por parte dos alunos de licenciatura como uma espécie de purgatório que precede a redenção que virá com a formatura. Considerando as mais diversas áreas de atuação com formação em nível superior, é possível identificar o questionamento quanto às diretrizes da reali-zação de uma monografia ou artigo científico para a conclusão de curso, sobre quais seriam os objetivos de tal realização. Podemos considerar, também, que esse questionamento decorra muitas vezes da falta de interesse por parte de diversos alunos na carreira acadê-mica. O interesse volta-se para o mercado de trabalho privado, para concursos públicos para áreas técnicas relacionadas à educação ou administrativas, ou, ainda, para a própria livre-iniciativa.
Todavia, em observação a essa demanda de alunos identi-ficada empiricamente no cotidiano da prática docente, este artigo procura destacar alguns fatores fundamentais para a elaboração de um trabalho acadêmico que contribuem igualmente para a prática profissional e docente, independentemente de sua área específica de atuação.
Nesse sentido, podemos considerar:Efetivamente, fazer uma tese significa: (1) escolher um tema preciso; (2) recolher documentos sobre esse tema; (3) pôr em ordem esses documentos: (4) reexaminar o tema em primeira mão, à luz dos documentos recolhidos; (5) dar uma forma orgânica a todas as reflexões precedentes; (6) proceder de modo que quem lê perceba o que se quer dizer e fique em condições, se for necessário, de voltar aos mes-mos documentos para retomar o tema por sua conta (ECO, 2007, p. 31-32).
Uma vez que o trabalho de pesquisa envolve o esforço de identificação de fontes de informação, análise e entendimento das informações obtidas, considerou-se, no presente artigo, que as ações cotidianas, assim como aquelas necessárias à prática docen-
96
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
te, podem ser alicerçadas em tais procedimentos, permitindo maior aproveitamento do tempo e organização.
Ao falar de tese, Eco (2007) pretende relacionar tanto o traba-lho do aluno de graduação quanto aquele que se propõe ao título de doutorado, uma vez que, em diferentes proporções, se trata igual-mente do entendimento acadêmico e de seu método de pesquisa. Posto isso, o significado social do trabalho de pesquisa é um fator de importância para a sua execução. Ainda que não haja segurança quanto ao futuro interesse de outrem pelo tema tratado, parte-se da premissa de que toda pesquisa – por mais simples e aparentemente óbvia –, se bem fundamentada e levada a sério quanto aos rigores técnicos e acadêmicos, permite a consulta por outros pesquisadores em diferentes níveis e áreas.
Contudo, a sensibilidade de vários alunos não está voltada para a possível importância social de seu trabalho, tendo todas as suas atenções voltadas para o encerramento rápido do curso e aqui-sição do diploma. Nesse sentido, a pesquisa prevalece como um campo infundado de atuação para o estudante. Ainda assim, temos que:
Fazer uma tese significa, pois, aprender a pôr ordem nas próprias idéias e a ordenar dados: é uma experiência de trabalho metódico; quer dizer, construir um «objecto» que, em princípio, sirva também para outros. E deste modo não importa tanto o tema da tese quanto a experiência de tra-balho que ela comporta (ECO, 2007, p. 32).
Nesse caso, Eco esclarece que, para além da importância so-cial do tema e do esforço de pesquisa, há o amadurecimento cog-nitivo daquele que executa a pesquisa. Podemos considerar, ainda, que o aprendizado acerca de tal processo de triagem de informa-ções, organização das informações e elaboração textual dos resul-tados de pesquisa será amplamente utilizado em toda a carreira do educador, seja como docente, seja na área de gestão educacional ou outros setores administrativos e educacionais.
Assim, podemos diagnosticar que não é necessário engaja-mento nas causas sociais ou no senso de contribuição pessoal para o bem coletivo (muito embora ambos sejam desejáveis) para que o
97
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
aluno entenda a importância de se fazer sua pesquisa de conclusão de curso, pois as próprias exigências consideradas na perspectiva individualista e mercadológica já indicam por si mesmas o caminho da constante atualização do profissional e conhecimento de pro-cedimentos de pesquisa. Tal dinâmica de mercado abrange a nos-sa sociedade e, simultaneamente, podemos considerá-la, também, dentro da prática docente.
2. A IMPORTÂNCIA DOS CONCEITOS E TÉCNICAS DE PESQUISA PARA O EDUCADOR
Um dos tópicos de estudo em Metodologia da Pesquisa Cien-tífica é a abordagem e a identificação dos diferentes tipos de conhe-cimento, a saber: conhecimento científico, conhecimento mítico/religioso e conhecimento de senso comum.
Inicialmente, ao considerarmos o conhecimento científico, tomamos como critério para sua definição que ele busca a ação e o controle dos múltiplos fenômenos experimentados e/ou observa-dos; que visa ao aprofundamento, à descoberta de princípios ex-plicativos que permitem a organização e a classificação. É o co-nhecimento científico que estabelece critérios de orientação que explicam as condições em que ocorrem os fenômenos e que propõe esquemas de entendimento entre os fenômenos e as condições que determinam a sua ocorrência (KÖCHE, 2009).
Dessa maneira, podemos considerar que ele é construído a partir da atitude científica, a qual usa os critérios de investigação da ciência. Todavia, os principais elementos da investigação cien-tífica são: a identificação de uma dúvida; o reconhecimento de que o conhecimento previamente obtido não responde a essa dúvida satisfatoriamente; a identificação da utilidade de responder a essa dúvida; a obtenção de resposta baseada em provas seguras e confiá-veis (também definidas como provas científicas); o estabelecimen-to de “leis” ou “teorias” racionais, impessoais, fundamentadas nas provas e argumentos científicos obtidos com a investigação. Tais teorias resultantes do estudo devem ser lidas com atitude crítica
98
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
pela comunidade científica e podem ser revistas conforme o avanço da investigação científica (KÖCHE, 2009).
O método científico que consideramos é, portanto, um “[...] conjunto de procedimentos não padronizados adotados pelo inves-tigador, orientados por postura e atitudes críticas e adequados à na-tureza de cada problema investigado” (KÖCHE, 2009, p. 35).
O conhecimento científico está presente na indústria, na me-dicina, na organização das cidades, na exploração dos recursos na-turais e em todo nosso cotidiano, porém nem sempre é identificado de maneira tão evidente, uma vez que permanecemos absortos nos desafios que envolvem nosso cotidiano. Assim, podemos elencar que nem sempre são esses conhecimentos de âmbito científico aqueles amplamente elencados e identificados como norteadores para as nossas decisões ou conclusões a respeito dos fenômenos que vivenciamos.
Nesse sentido, passamos à identificação de outras formas de conhecimento, conforme citamos anteriormente, as quais utiliza-mos de maneira espontânea ou repetindo irrefletidamente os costu-mes e tradições do ambiente social que nos envolve. De acordo com Almeida (s/d) podemos tratar como conhecimento mítico/religioso:
Uma resposta mítica ou religiosa apela à vontade de um Deus ou de deuses e conta uma história da origem do uni-verso. Essa resposta não se baseia em estudos sistemáticos da natureza, mas antes na observação diária não sistemáti-ca; e não são estudos racionais dado que não encorajam a crítica, mas antes a aceitação religiosa. Isto não quer dizer que as respostas míticas e religiosas não tivessem qualquer valor. Por exemplo, é óbvio que numa altura em que a ci-ência, com os seus métodos racionais de prova, ainda não estava desenvolvida, as explicações míticas e religiosas eram pelo menos uma maneira de responder à curiosida-de natural dos seres humanos. Além disso, as explicações míticas e religiosas de um dado povo dão a esse povo uma importância central na ordem das coisas. E têm ainda ou-tra característica importante: essas explicações constituem muitas vezes códigos de conduta moral, determinando de uma forma integrada com a origem mítica do universo, o que se deve e o que não se deve fazer.
99
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
Todavia, podemos analisar a condição de muitos alunos do ensino fundamental – e até mesmo de alguns do ensino superior – em que a aquisição do conhecimento científico a partir do estudo escolar parece fazer mais sentido quando é relacionada de alguma maneira com seu construto religioso. Dessa maneira, os novos co-nhecimentos, de âmbito científico, são alicerçados a partir da sua relação com os valores pertencentes à vida religiosa do aluno. Por exemplo, durante o estudo das demandas da atualidade, a noção de inclusão social pode ser algo muito distante das concepções do aluno, tornando-se, inclusive, objeto de crítica espúria devido às concepções individualistas presentes no mundo contemporâneo. Porém, considerando que haja predominância da formação cristã entre os alunos, quando feito o paralelo com o mandamento bí-blico “Ame o seu próximo como a si mesmo” (Mateus 22:39), é possível estabelecer um entendimento sobre o respeito aos direitos de participação na sociedade por parte de todas as pessoas. Assim, procura-se a sensibilização do aluno a partir do encontro entre o conhecimento científico e o construto religioso trazido por ele.
Da mesma maneira, podemos considerar o conhecimento de senso comum como forma de alcançar o universo vivenciado pelo aluno.
Quanto ao conhecimento de senso comum, podemos tomá--lo como espontâneo e instintivo, não possuindo método definido e partindo da necessidade de resolver problemas imediatos (viver sem conhecer). Desse modo, tende a transformar-se em crenças e tradições. Essas crenças e tradições, por sua vez, mudam apenas quando surge espontaneamente uma evidência que é identificada e corrige a interpretação anterior. Ele é, portanto, sustentado por crenças pessoais (KÖCHE, 2009).
Ao identificar essa forma de conhecimento, fazemos a dis-tinção entre diversas fontes dos conhecimentos que adquirimos, estabelecendo os limites de seus usos. A linguagem usada para transmitir essa forma de conhecimento, sendo pessoal, assume di-ferentes formas e significados, permitindo múltiplos entendimentos e variantes. Nunca se sabe exatamente em que medida ele é ade-quado, pois não há critérios claros compartilhados pelo diálogo que
100
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
auxiliem o discernimento e que permitam separar “o joio do trigo”. A ausência de critérios provoca uma variação no resultado, já que não se tem dimensão das variantes que interferem no fenômeno (KÖCHE, 2009). Ou seja, diz-se que “canja de galinha não faz mal a ninguém”, porém, se você tiver intolerância alimentar ou alergia à carne de galinha (ou a qualquer um dos ingredientes), poderá ficar muito doente comendo canja e não teremos informações suficien-tes, dentro do senso comum, para identificar a verdadeira causa do problema ocorrido.
Não é necessário tornar-se um pesquisador de carreira para que essa distinção seja útil, especialmente ao considerarmos os de-safios constantes impostos pela prática docente. Uma vez que nos colocamos diante do desafio de sermos educadores, estamos ma-nuseando os conteúdos de âmbito científico, utilizando estratégias didáticas e, nesse ínterim, expondo nossa subjetividade, nossa ba-gagem cultural e o jeito de ser individual.
Como afirmou José Manuel Moran: O importante, como educadores, é acreditarmos no poten-cial de aprendizagem pessoal, na capacidade de evoluir, de integrar sempre novas experiências e dimensões do coti-diano, ao mesmo tempo que compreendemos e aceitamos nossos limites, nosso jeito de ser, nossa história pessoal (MORAN, 2014, p. 73).
Tendo em vista o reconhecimento e a diferenciação das diver-sas formas de conhecimento, podemos considerar de maneira mais dinâmica as relações estabelecidas entre os conteúdos programáti-cos do currículo, nossa prática e o cotidiano do aluno.
Podemos ainda estabelecer que haja uma espécie de contra-dição entre o conhecimento de senso comum e o conhecimento científico, entre opinião e teoria, convicção e comprovação, cren-ça/tradição e avaliação dos resultados obtidos, conhecimento dog-mático e conhecimento analítico e crítico, conhecimento estático e conhecimento dinâmico/criativo (KÖCHE, 2009). Desse modo, trazemos à baila o autoconhecimento do uso das diversas formas de conhecimento, despertando os alunos para o entendimento de como a formação de uma opinião pode constituir-se de elementos que
101
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
ofereçam maior ou menor credibilidade, de acordo com as fontes utilizadas e o percurso analítico que o forjou.
Trata-se, contudo, de aquisição de arcabouço elucidativo tan-to para a redação de um texto científico quanto para a organização do pensamento e do campo cognitivo utilizado para determinar as suas ações cognitivas. Visto desse modo, a metodologia científica não se constitui apenas do campo de estudo necessário para a elabo-ração do Trabalho de Conclusão de Curso, obrigatório para diver-sos cursos de nível superior. Ela consiste no aprimoramento das ba-ses do pensamento que norteará escolhas dentro e fora do ambiente de trabalho, da sala de aula e da experiência docente, envolvendo conceitos científicos e, muitas vezes, superando preconceitos.
De acordo com Rudio (2007, p. 23) “O conceito é uma ati-vidade mental que produz um conhecimento, tornando inteligível não apenas esta pessoa ou esta coisa, mas todas as pessoas e coisas da mesma espécie”. Ele enfatiza que “Os conceitos, que alguém atualmente possui, não apareceram de repente, de uma só vez, mas foram formados progressivamente e o processo de sua formação continua”.
Desse modo, na medida em que não fragmentarmos as di-versas esferas da vida, mas considerarmos de maneira integrada a esfera do conhecimento científico e a formulação de valores e ideias no contexto social, poderemos traçar novos entendimentos a respeito da sociedade, da cultura e de toda a ação humana diante da sobreposição de conceitos – que são dinâmicos, racionalizados e estão em constante aprimoramento – aos preconceitos – que são estáticos e não racionalizados ou irracionais.
Diante do desafio atual de superarmos os limites estabeleci-dos historicamente por relações vexatórias e discriminatórias entre diversos grupos étnicos e sociais, o entendimento dos métodos uti-lizados pela ciência para comprovação e aprimoramento do conhe-cimento pode servir de auxílio na reconstrução destas relações.
Podemos considerar, ainda, que a definição do tema de uma pesquisa passa pelas palavras que traduzem conceitos e que alcan-çam uma discussão mais ampla ou uma teoria, apartando-a de ou-tras possibilidades de entendimento. Para Rudio (2007, p. 29-30):
102
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
Uma das exigências muito importantes para realizarmos uma pesquisa é estudarmos com profundidade e experien-ciarmos o tema, a fim de que as nossas definições sejam sempre corretas. Quando definimos, dizemos o que a coisa é, separando-a do que não é.
Desse modo, devemos dizer, no projeto de pesquisa, aquilo que se pretende pesquisar, diferenciando-o daquilo que pode ser pesquisado, mas que não é o que se pretende. “A definição de um conceito serve, portanto, para tornar claras e reconhecíveis suas ca-racterísticas, separando-as de conotações que não lhe pertencem” (RUDIO, 2007, p. 30).
Para delimitar claramente a abordagem que será realizada do tema, é preciso definir a problemática a ser investigada. Isso pode ser feito a partir da delimitação de uma pergunta. Com certeza, se-ria inadequado perguntar em uma pesquisa, por exemplo: quais são os problemas da humanidade e como podemos resolvê-los? Quan-tos litros de água serão necessários para matar a sede de todas as pessoas do mundo? Por outro lado, podemos considerar que seria adequado perguntar: quais são os principais desafios da sociedade de acordo com o relatório sobre o desenvolvimento humano das Nações Unidas e como o governo brasileiro se propôs a enfrentar esses desafios? Quais são os principais aspectos ambientais iden-tificados que geram a seca em uma região do nordeste brasileiro? Quais são as possíveis estratégias para diminuir o seu impacto nas comunidades daquela região?
Ou seja, a pergunta precisa ser mais específica e ser passí-vel de investigação, apontando em si mesma alguns caminhos para análise de possibilidades e encadeamento da resposta. Acerca dos aspectos socioculturais, podemos considerar igualmente que as per-guntas que fazemos cotidianamente sobre os fenômenos humanos são respondidas de maneira arbitrária e preconceituosa devido prin-cipalmente ao fato de serem perguntas mal feitas.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste breve artigo, pretendeu-se abordar alguns aspectos importantes do estudo da Metodologia da Pesquisa Científica por
103
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
parte de alunos de licenciatura. Desse modo, destacou-se a necessi-dade de relacionar o conhecimento científico com outras formas de conhecimento como estratégia para estabelecer uma aproximação entre a bagagem cultural do aluno e aquilo que está sendo propos-to para seu aprendizado. Também foi destacado que é fundamen-tal usarmos as técnicas de pesquisa e procedimentos científicos de análise para fazermos escolhas cotidianas, assim como para superar os preconceitos historicamente construídos e substituí-los por con-ceitos dinâmicos que se aprimoram constantemente.
Toda pesquisa científica parte da delimitação de perguntas que definem campos de investigação e, quando bem elaboradas, permitem o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa. Igual-mente, podemos traçar em nosso cotidiano o cuidado ao fazermos indagações sobre os fenômenos que vivenciamos diariamente, de modo a possibilitarmos melhor entendimento dos acontecimentos e obtermos critérios mais adequados para as escolhas pessoais e interpessoais que naturalmente fazemos.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Aires. Filosofia e ciências da natureza: alguns elementos históricos. Disponível em: http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/aires.htm. Acesso em: 3 set. 2014.
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 1985.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese em ciências humanas. Lisboa: Editorial Presença, 2007.
ECA. Home page. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/moran>. Acesso em: 3 ago. 2014.
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação científica. Petrópolis: Vozes, 2009.
LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto, relatório, publicações e trabalhos científicos. São Paulo: Atlas, 2001.
MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. Papirus: Campinas, 2014.
104
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 93-104, 2014
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: Vozes, 2007.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007.
105
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 105-112, 2014
Política Editorial / Editorial Policy
A Revista Educação é uma publicação impressa anual do Claretiano – Centro Universitário, des tinada à divulgação científica dos cursos, bem como de pesquisas e projetos co munitários.
Tem como objetivo principal publicar trabalhos que possam contribuir com o debate acerca de temas educacionais e os paradig-mas concernentes à educação na sociedade contemporânea, tendo como áreas de interesse a história da educação, movimentos cultu-rais, arte, literatura e filosofia.
A Revista Educação destina-se à publicação de trabalhos inéditos que apresentem resultados de pesquisa histórica ou de investigação bibliográfica originais, visando agregar e associar à produção escrita a produção fotográfica, vídeo ou áudio, sendo sub-metidos no formato de: artigos, ensaios, relatos de caso, resumos estendidos, traduções ou resenhas.
Serão considerados apenas os textos que não estejam sendo submetidos a outra publicação.
As línguas aceitas para publicação são o português, o inglês e o espanhol.
Análise dos trabalhos
A análise dos trabalhos é realizada da seguinte forma: a) Inicialmente, os editores avaliam o texto, que pode ser
desqualificado se não estiver de acordo com as normas da ABNT, apresentar problemas na formatação ou tiver reda-ção inadequada (problemas de coesão e coerência).
b) Em uma segunda etapa, os textos selecionados serão en-viados a dois membros do conselho editorial, que avaliarão as suas qualidades de escrita e conteúdo. Dois pareceres
106
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 105-112, 2014
negativos desqualificam o trabalho e, havendo discordân-cia, o parecer de um terceiro membro é solicitado.
c) Conflito de interesse: no caso da identificação de conflito de interesse da parte dos revisores, o editor encaminhará o manuscrito a outro revisor ad hoc.
d) O autor será comunicado do recebimento do seu trabalho no prazo de até 8 dias; e da avaliação do seu trabalho em até 90 dias.
e) O ato de envio de um original para a Revista Educação implica, auto maticamente, a cessão dos direitos autorais a ele referentes, devendo esta ser consultada em caso de republicação. A responsabilidade pelo conteúdo veiculado pelos textos é inteiramente dos autores, isentando-se a Ins-tituição de responder legalmente por qualquer problema a eles vinculado. Ademais, a Revista não se responsabilizará por textos já publicados em ou tros periódicos. A publica-ção de artigos não é remunerada.
f) Cabe ao autor conseguir as devidas autorizações de uso de imagens/fotogra fias com direito autoral protegido, de modo que estas sejam encaminhadas, quando necessário, juntamente com o trabalho para a avaliação. Também é do autor a responsabi lidade jurídica sobre uso indevido de imagens/fotografias.
g) Pesquisas envolvendo seres vivos: o trabalho deve ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição em que o trabalho foi realizado e cumprir os princípios éticos contidos na resolução 196/96. Na parte “Metodo-logia”, é preci so constituir o último parágrafo com clara afirmação desse cumprimento.
Publicação
A Revista Educação aceitará trabalhos para publicação nas seguintes categorias:
107
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 105-112, 2014
1) Artigo científico de professores, pesquisadores ou estu-dantes: mínimo de 8 e máximo de 15 páginas.
2) Relatos de caso ou experiência: devem conter uma abor-dagem crítica do even to relatado; mínimo de 5 e máximo de 8 páginas.
3) Traduções de artigos e trabalhos em outro idioma, desde que devidamente au torizadas pelo autor original e com-provadas por meio de documento oficial im presso; míni-mo de 8 e máximo de 15 páginas.
4) Resumos estendidos de trabalhos apresentados em even-tos científicos ou de te ses e dissertações; mínimo de 5 e máximo de 8 páginas.
5) Ensaios: mínimo de 5 e máximo de 8 páginas. 6) Resenhas: devem conter todos os dados da obra (edito-
ra, ano de publicação, cidade etc.) e estar acompanhadas de imagem da capa da obra; mínimo de 5 e máximo de 8 páginas.
Submissão de trabalhos
1) Os trabalhos deverão ser enviados: a) Em dois arquivos, via e-mail (attachment), em formato
“.doc” (Word for Windows). Em um dos arquivos, na primeira página do trabalho, deverá constar apenas o título, sem os nomes dos autores. O segundo arquivo deverá seguir o padrão descrito no item 2, incluindo os nomes dos autores.
b) Em caráter de revisão profissional. c) No máximo com 5 autores. d) Com Termo de Responsabilidade devidamente assina-
do, escaneado de forma legível e enviado para o e-mail [email protected].
108
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 105-112, 2014
2) O trabalho deve incluir: a) A expressão “TÍTULO” seguida do título em língua
portuguesa, em Times New Roman, corpo 12, negrito.b) A expressão “TITLE” seguida do título em língua in-
glesa, em Times New Roman, corpo 12, normal. c) A expressão “AUTORIA” seguida do(s) nome(s) do(s)
autor(es) e dos dados de sua(s) procedência(s) – filia-ção institucional, última titulação, e-mail, telefones para contato. Obs.: os telefones não serão disponibili-zados ao público.
d) A expressão “RESUMO” seguida do respectivo resu-mo em língua portugue sa (entre 100 e 150 palavras). Sugere-se que, no resumo de artigos de pesquisa, seja especificada a orientação metodológica.
e) A expressão “ABSTRACT” seguida do respectivo resu-mo em língua inglesa (entre 100 e 150 palavras).
f) A expressão “PALAVRAS-CHAVE” seguida de 3 até 5 palavras-chave em língua portuguesa, no singular.
g) A expressão “KEYWORDS” seguida de 3 até 5 pala-vras-chave em língua inglesa, no singular.
h) O conteúdo textual do trabalho. i) Os vídeos, as fotos ou áudios são opcionais. Todo o ma-
terial de mídia digital deve ser testado antes do envio e não ultrapassar 5 minutos de exibição.
Formatação do trabalho
1) Em Times New Roman, corpo 12, entre linhas 1,5 e sem sinalização de início de parágrafo.
2) Para citações longas, usar corpo 10, entre linhas simples, recuo duplo, espaço antes e depois do texto. Citações cur-tas, até 3 linhas, devem ser colocadas no interior do texto e entre aspas, no mesmo tamanho de fonte do texto (12).
109
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 105-112, 2014
3) Tabelas, quadros, gráficos, ilustrações, fotos e anexos devem vir no interior do texto com respectivas legendas. Para anexos com textos já publicados, deve-se incluir re-ferência bibliográfica.
4) As referências no corpo do texto devem ser apresentadas entre parênteses, com nome do autor em letra maiúscula, seguida de vírgula, seguida de espaço, da expressão “p.”, espaço e o respectivo número da(s) página(s), quando for o caso. Ex.: (FERNANDES, 1994, p. 74). A norma utili-zada para a padronização das referências é a da ABNT em vigência.
5) As seções do texto devem ser numeradas, a começar de 1 (na introdução) e ser digitadas em letra maiúscula; subtí-tulos devem ser numerados e digitados com inicial maiús-cula.
6) As notas de rodapé devem estar numeradas e destinam-se a explicações com plementares, não devendo ser utilizadas para referências bibliográficas.
7) As referências bibliográficas devem vir em ordem alfabé-tica no final do artigo, conforme a ABNT.
8) As expressões estrangeiras devem vir em itálico.
Modelos de Referências Bibliográficas – Padrão ABNT
Livro no todo PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. 4. ed. São Paulo: LTr, 2005.
Capítulos de Livros BUCII, Eugênio; KEHL, Maria Rita. Videologias: ensaios sobre televisão. In: KEHL, Maria Rita. O espetáculo como meio de subjetivação. São Paulo: Boitempo, 2004. cap. 1, p. 42-62.
110
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 105-112, 2014
Livro em meio eletrônico ASSIS, Joaquim Maria Machado de. A mão e a luva. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Dis ponível em: <http://machado.mec.gov.br/imagens/stories/pdf/romance/ marm02.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2011.
Periódico no todo GESTÃO EMPRESARIAL: Revista Científica do Curso de Administração da Unisul. Tubarão: Unisul, 2002.
Artigos em periódicos SCHUELTER, Cibele Cristiane. Trabalho voluntário e extensão universitária. Episteme, Tubarão, v. 9, n. 26/27, p. 217-236, mar./out. 2002.
Artigos de periódico em meio eletrônico PIZZORNO, Ana Cláudia Philippi et al. Metodologia utilizada pela bibliote-ca universitária da UNISUL para registro de dados bibliográficos, utilizando o formato MARC 21. Revista ACB, Florianópolis, v. 12, n. 1, p. 143-158, jan./ jun. 2007. Disponível em: <http://www.acbsc.org.br/revista/ojs/viewarticle. php?id=209&layout=abstract>. Acesso em: 14 dez. 2007.
Artigos de publicação relativos a eventos PASCHOALE, C. Alice no país da geologia e o que ela encontrou lá. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 33. 1984. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, SBG, 1984. v. 11, p. 5242-5249.
Jornal ALVES, Márcio Miranda. Venda da indústria cai pelo quarto mês. Diário Cata-rinense, Florianópolis, 7 dez. 2005. Economia, p. 13-14.
Site XAVIER, Anderson. Depressão: será que eu tenho? Disponível em: <http:// www.psicologiaaplicada.com.br/depressao-tristeza-desanimo.htm>. Acesso em: 25 nov. 2007.
Verbete TURQUESA. In: GRANDE enciclopédia barsa. São Paulo: Barsa Planeta Internacional, 2005. p. 215.
111
Educação, Batatais, v. 4, n. 1, p. 105-112, 2014
Evento CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA MECÂNICA, 14, 1997, Bauru. Anais... Bauru: UNESP, 1997.