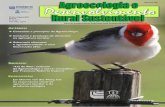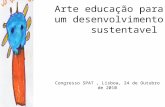[Segmedtrab] desenvolvimento sustentavel desenvolvimento sustentavel
Educação e desenvolvimento sustentavel
-
Upload
jamille-araujo -
Category
Documents
-
view
7.233 -
download
3
description
Transcript of Educação e desenvolvimento sustentavel
244
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEBReitora: Ivete Alves do SacramentoVice-Reitor: Monsenhor Antônio Raimundo dos Anjos
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS IDiretora: Adelaide Rocha BadaróNúcleo de Pesquisa e Extensão - NUPEPrograma de Pós-Graduação Educação e Contemporaneidade/UNEB - PECUNEB
FUNDADORES: Yara Dulce Bandeira de Ataide – Jacques Jules Sonneville
COMISSÃO DE EDITORAÇÃOEditora Geral: Yara Dulce Bandeira de AtaideEditor Executivo: Jacques Jules SonnevilleEditora Administrativa: Maria Nadja Nunes Bittencourt
Revisoras: Dilma Evangelista da Silva, Kátia Maria Santos Mota, Lígia Pellon de Lima Bulhões, Rosa HelenaBlanco Machado, Therezinha Maria Bottas Dantas, Véra Dantas de Souza Motta.Bibliotecária responsável: Debora Toniolo RauVersão para o inglês: Roberto Dias - trÁdus - traduções e versõesEstagiária: Elen Barbosa Simplício
CONSELHO CONSULTIVO: Adelaide Rocha Badaró (UNEB), Cleilza Ferreira Andrade (FAPESB), EdivaldoMachado Boaventura (UFBa), Jaci Maria Ferraz de Menezes (UNEB), Lourisvaldo Valentim (UNEB), ManoelitoDamasceno (UNEB), Marcel Lavallée (Univ. de Québec), Nadia Hage Fialho (UNEB), Robert Evan Verhine (UFBa).
CONSELHO EDITORIAL
Adélia Luiza PortelaUniversidade Federal da BahiaAntônio Gomes FerreiraUniversidade de Coimbra, PortugalCipriano Carlos LuckesiUniversidade Federal da BahiaEdmundo Anibal HerediaUniversidade Nacional de Córdoba, ArgentinaEdivaldo Machado BoaventuraUniversidade Federal da BahiaEllen BiglerRhode Island College, USAJacques Jules SonnevilleUniversidade do Estado da BahiaJoão Wanderley GeraldiUniversidade de CampinasIvete Alves do SacramentoUniversidade do Estado da BahiaJonas de Araújo RomualdoUniversidade de CampinasJosé Carlos Sebe Bom MeihyUniversidade de São PauloJosé Crisóstomo de SouzaUniversidade Federal da BahiaKátia Siqueira de FreitasUniversidade Federal da BahiaLuís Reis TorgalUniversidade de Coimbra, PortugalLuiz Felipe Perret SerpaUniversidade Federal da Bahia
Organização: Jacques Jules Sonneville e Nadia Hage FialhoCapa e editoração: Symbol Publicidade/Uilson MoraisImpressão e encadernação: Gráfica Santa HelenaTiragem: 1.500 exemplaresRevista financiada com recursos da UNEB
Marcel LavalléeUniversidade de Québec, CanadáMarcos FormigaUniversidade de BrasíliaMarcos Silva PaláciosUniversidade Federal da BahiaMaria José PalmeiraUniversidade do Estado da Bahia e UniversidadeCatólica de SalvadorMaria Luiza MarcílioUniversidade de São PauloMaria Nadja Nunes BittencourtUniversidade do Estado da BahiaMercedes VilanovaUniversidade de Barcelona, EspañaNadia Hage FialhoUniversidade do Estado da BahiaPaulo Batista MachadoUniversidade do Estado da BahiaRaquel Salek FiadUniversidade de CampinasRobert Evan VerhineUniversidade Federal da BahiaRosalba GueriniUniversidade de Pádova, ItáliaWalter Esteves GarciaAssociação Brasileira de Tecnologia Educacional /Instituto Paulo FreireYara Dulce Bandeira de AtaídeUniversidade do Estado da Bahia
245
Revista da FAEEBA
Educação e
Contemporaneidade
Departamento de Educação - Campus I
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEBRevista daFAEEBA Salvador v. 11 n. 18 jul/dez. 2002
Revista da FAEEBA Salvador v. 11 n. 18 jul/dez. 2002
ISSN 0104-7043
246
Revista da FAEEBA – EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADERevista do Departamento de Educação – Campus I(Ex-Faculdade de Educação do Estado da Bahia – FAEEBA)
Publicação semestral temática que analisa e discute assuntos de interesse educacional, científico e cultural.Os pontos de vista apresentados são da exclusiva responsabilidade de seus autores.
ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO: A correspondência relativa a informações, pedidos de permuta,assinaturas, etc. deve ser dirigida à:
Revista da FAEEBA – Educação e ContemporaneidadeUNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIADepartamento de Educação I - NUPEEstrada das Barreiras, s/n, Narandiba41150.350 - SALVADOR – BATel. (071)387.5916/387.5933
Instruções para os colaboradores: vide última página.
E-mail da Revista da FAEEBA: [email protected]
E-mail para o envio dos artigos: [email protected] / [email protected]
Homepage da Revista da FAEEBA: http://www.uneb.br/Educacao/centro.htm
Indexada em / Indexed in:– REDUC/FCC – Fundação Carlos Chagas - www.fcc.gov.br - Biblioteca Ana Maria Poppovic– BBE – Biblioteca Brasileira de Educação (Brasília/INEP)– Centro de Informação Documental em Educação - CIBEC/INEP - Biblioteca de Educação– EDUBASE e Sumários Correntes de Periódicos Online - Faculdade de Educação - Biblioteca UNICAMP– Sumários de Periódicos em Educação e Boletim Bibliográfico do Serviço de Biblioteca e Documentação– Universidade de São Paulo - Faculdade de Educação/Serviço de Biblioteca e Documentação.
www.fe.usp.br/biblioteca/publicações/sumario/index.html
Pede-se permuta / We ask for exchange.
Revista da FAEEBA / Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação I - v. 1, n. 1(jan./jun., 1992) - Salvador: UNEB, 1992-
Periodicidade semestral
ISSN 0104-7043
1. Educação. I. Universidade do Estado da Bahia. II. Título.CDD: 370.5
Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 243-462, jul./dez. 2002
S U M Á R I O
Editorial .................................................................................................................... 251
Temas e prazos dos próximos números da Revista da FAEEBA – Educação e Contempo-raneidade .................................................................................................................... 252
Educação e desenvolvimento sustentável: uma apresentaçãoNadia Hage Fialho e Jacques Jules Sonneville .............................................................. 253
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Educação e sustentabilidadeEdvalter Souza Santos................................................................................................. 259
Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade: enfrentando a polissemiado conceito pela vinculação deste aos conceitos Cultura, Tecnologia e AmbienteLuiz Antonio Ferraro Júnior......................................................................................... 281
Ecologia, ética e ambientalismo: prefácio de suas ambigüidadesMarco Antonio Tomasoni & Sônia Marise Rodrigues Pereira Tomasoni ...................... 303
O ambientalismo na mídia: da sustentabilidade pontual ao consumismo geralPaulo Roberto Ramos & Deolinda de Sousa Ramalho .................................................. 317
Valores culturais como estruturantes do desenvolvimento local sustentávelMaria José Marita Palmeira & Solange de Oliveira Guimarães...................................... 333
Cenários e agentes da educação ambiental: uma análise das condições macro-estruturaise a prática educativa escolarPaulo Ricardo da Rocha Araújo.................................................................................... 341
Educação: visão panorâmica mundial e perspectivas para a América LatinaErnâni Lampert........................................................................................................... 349
Políticas de educação do trabalhador brasileiro como política de desenvolvimentoEmília Maria da Trindade Prestes................................................................................. 361
Desenvolvimento local sustentável em políticas públicas educacionais de municipalizaçãoLanara Guimarães de Souza......................................................................................... 377
Transurbanidades e ambientes colaborativos em rede de computadoresAlfredo Eurico Rodríguez Matta................................................................................... 383
O museu e o turismo: a ação educativa para o desenvolvimento sustentávelGregórioBenfica.................................................................................................... 391
Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 243-462, jul./dez. 2002
ESTUDOS
A linguagem verbal e suas relações de poder: a interação lingüística como construto de resistênciaJane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios .................................................................. 409
Raça, gênero e educação superiorDelcele Mascarenhas Queiroz ................................................................................. 417
Ambientes virtuais de aprendizagem: por autorias livres, plurais e gratuitasEdméa Oliveira dos Santos ..................................................................................... 425
Jogos eletrônicos e violência: desvendando o imaginário dos screenagersLynn Rosalina Gama Alves ...................................................................................... 437
Educação e virtude na República de PlatãoRoberto Evangelista ................................................................................................ 447
RESENHA – INSTRUÇÕES
ATAIDE, Yara Dulce Bandeira de. Clamor do presente: história oral de famílias embusca da cidadania. São Paulo: Loyola, 2002, 277 p. “Clamor do presente”: a vidacotidiana revisitadaGey Espinheira........................................................................................................ 459
Instruções aos colaboradores ................................................................................... 461
Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 243-462, jul./dez. 2002
S U M M A R Y
Editorial ................................................................................................................ 251
Themes and deadlines for the next issues of “Revista da FAEEBA – Educação eContemporaneidade” ............................................................................................. 252
Education and sustainable development: a presentationNadia Hage Fialho e Jacques Jules Sonneville ......................................................... 253
EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Education and sustainabilityEdvalter Souza Santos........................................................................................... 259
Indicators of processes in education for sustainability: facing the polysemy of the con-cept by linking this to the Culture, Technology and Environment conceptsLuiz Antonio Ferraro Júnior.................................................................................... 281
Ecology, ethics and environmentalism: preface of their ambiguitiesMarco Antonio Tomasoni & Sônia Marise Rodrigues Pereira Tomasoni ................. 303
The environmentalism in the media: from punctual sustainability to general consumerismPaulo Roberto Ramos & Deolinda de Sousa Ramalho ............................................. 317
Cultural values as structuring elements of the local sustainable developmentMaria José Marita Palmeira & Solange de Oliveira Guimarães.................................. 333
Sceneries and agents of the Environmental Education: an analysis of the macro-structured conditions and the school educative practicePaulo Ricardo da Rocha Araújo................................................................................ 341
Education: world panoramic view and perspectives to Latin AmericaErnâni Lampert......................................................................................................... 349
Politics of education of the Brazilian worker as development politicsEmília Maria da Trindade Prestes.............................................................................. 361
Sustainable local development in educational public politics of municipalizationLanara Guimarães de Souza...................................................................................... 377
Trans-urbanities and collaborative environments in computer networksAlfredo Eurico Rodríguez Matta............................................................................... 383
The museum and tourism: the educative action towards the sustainable developmentGregório Benfica...................................................................................................... 391
Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 243-462, jul./dez. 2002
STUDIES
The verbal language and its relations of power: the linguistic interaction as resistanceconstructJane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios ................................................................... 409
Race, gender and superior educationDelcele Mascarenhas Queiroz .................................................................................. 417
Virtual learning environments: by unrestricted, plural and free authoringEdméa Oliveira dos Santos ...................................................................................... 425
Electronic games and violence: unraveling the imaginary of the screenagersLynn Rosalina Gama Alves ...................................................................................... 437
Education and virtue in the Republic of PlatoRoberto Evangelista ................................................................................................ 447
REVIEW – INSTRUCTIONS
ATAIDE, Yara Dulce Bandeira. Clamor of the present: oral history of families insearch for citizenship (Clamor do presente: história oral de famílias em busca dacidadania). São Paulo: Loyola, 2002, p. 277 “Clamor of the present”: everydaylife revisited (“Clamor do presente”: a vida cotidiana revisitada)Gey Espinheira......................................................................................................... 459
Instructions to contributors .. .............................................................................. 461
251Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 251.252, jul./dez. 2002
EDITORIAL
O número 18, dedicado ao tema EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL, é um marco na trajetória da Revista da FAEEBA – Educa-ção e Contemporaneidade. Nele iniciou-se concretamente a sua integração como Programa de Pós-Graduação Educação e Contemporaneidade/UNEB(stricto sensu), através da Linha de Pesquisa Educação, Gestão e Desenvolvi-mento Local Sustentável, a qual assumiu a coordenação desse número. Estaintegração continuará nos dois números seguintes, dedicados, respectivamente,aos temas: Educação e Pluralidade Cultural, a ser coordenado pela linha depesquisa Processos civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural;e Educação e Formação do Educador, a cargo da linha de pesquisa Educação,tecnologia, currículo e formação do educador.
Esta parceria entre a Revista e o Programa de Pós-Graduação tem comoobjetivo congregar autores-pesquisadores não só da UNEB, mas também dediversas outras universidades do país e do exterior, confirmando o compromis-so do nosso periódico de estar cada vez mais perto de seus leitores, autores egrupos de estudo, procurando corresponder às suas expectativas e incentivan-do-os a levar adiante a importante tarefa de discutir as questões contemporâne-as nos seus diversos níveis e aspectos. Com isso, a Revista da FAEEBA –Educação e Contemporaneidade pretende contribuir para o avanço do conheci-mento como uma construção coletiva e histórica capaz de aproximar pessoas epermitir interlocuções através das diversas linguagens, fomentando, assim, acontínua comunicação em busca da construção de uma sociedade mais justa esolidária.
Os Editores: Jacques Jules SonnevilleMaria Nadja Nunes BittencourtYara Dulce Bandeira de Ataide
252 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 251.252, jul./dez. 2002
Temas e prazos
dos próximos números da Revista da FAEEBA
Educação e Contemporaneidade
Nº. Tema Prazo de entrega Lançamento dos artigos previsto
19 Educação e Pluralidade 30.05.03 setembro de 2003 Cultural
20 Educação e Formação 30.09.03 março de 2004 do Educador
21 Educação e Leitura 30.05.04 setembro de 2004
253Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 253.256, jul./dez. 2002
EDUCAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL :
UMA APRESENTAÇÃO
Nadia Hage Fialho & Jacques Jules Sonneville ∗
Este número da Revista da FAEEBA - Educação e Contempora-neidaderepresenta um momento de rara significação. Há cerca de dez anos, um profes-sor levava a uma diretora de uma faculdade a idéia de uma revista. Ali, aRevista da FAEEBA começava a nascer das mãos do professor Jacques JulesSonneville. Publicada em 1992, a Revista trazia em seu primeiro número atemática da Universidade.
Agora, voltamos a receber do professor Jacques uma nova tarefa: a de pre-parar com ele a edição dedicada à Linha de Pesquisa Educação, Gestão eDesenvolvimento Local Sustentável, que coordenamos junto ao Programa dePós-Graduação Educação e Contemporaneidade/UNEB. Chegamos então aonúmero 18 desta Revista, dedicado ao tema EDUCAÇÃO E DESENVOLVI-MENTO SUSTENTÁVEL.
Grato re-encontro da amizade e das temáticas que nos juntam.Mais uma vez retorna à cena, inevitavelmente, a missão da universidade. E
uma universidade como a UNEB, com uma configuração multicampi que sedistribui por todo o estado da Bahia, não pode se calar diante das problemáti-cas do desenvolvimento, sobretudo aquelas vivenciadas pelas comunidades queacolhem seus campi.
O conjunto de artigos aqui reunidos insere-se no debate contemporâneo. Nasegunda metade do século XX vimos surgir uma série de ‘novas’ ciências, as-sistimos à emergência de impensáveis sínteses entre variados campos do conhe-cimento ... e o mundo acadêmico – regulado pelo rigor disciplinar – viu-sesacudido pelas perspectivas das ciências polidisciplinares e pelas abordagensmultidisciplinares, interdisciplinares ou transdisciplinares dos seus obje-
∗ Professores do Programa de Pós-Graduação Educação e Contemporaneida-de/UNEB - PECUNEB (stricto sensu). E-mails: [email protected] /[email protected]
254 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 253.256, jul./dez. 2002
tos, agora compreendidos num campo multidimensional e entrecortados pelosenfoques transversais. Basta ouvir o mundo e a vida ‘lá fora’ – recurso poéticoque alimenta em metáforas nossas vidas ‘de dentro’ – expondo-nos àefervescência dos debates sobre o meio ambiente, o desenvolvimento e asustentabilidade.
Abre esta coletânea o artigo Educação e Sustentabilidade, de autoria deEdvalter Souza Santos, que se debruça sobre a organização social e os estilosde vida impostos pela “civilização”, agravados pelo modo de produção capita-lista, para tentar falar do mal-estar moderno, lembrando-nos que a educação seinsere na gênese do problema, mas também nas esperanças de solução.
Segue-lhe Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade:enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação deste aos conceitos cultu-ra, tecnologia e ambiente, de Antonio Ferraro Júnior, ensaio onde discute quãoimbricados se encontram sustentabilidade e processos educacionais, as rela-ções de intencionalidade que ambos mantêm entre si e os efeitos que podemderivar das mesmas.
Marco Antonio Tomasoni e Sônia Marise Rodrigues Pereira Tomasoni es-crevem Ecologia, ética e ambientalismo: prefácio de suas ambigüidades, refle-tindo sobre essas complexidades, destacadas nos conceitos que envolvem aquestão ambiental, a sua aplicabilidade e as inevitáveis rupturas com as postu-ras utilitaristas e a visão dicotômica de mundo, para dar lugar à construção denovos paradigmas.
Analisando as abordagens da mídia sobre a problemática ambiental, PauloRoberto Ramos e Deolinda de Sousa Ramalho, no artigo O ambientalismo namídia: da sustentabilidade pontual ao consumismo geral, fazem um acompa-nhamento sistemático da programação da TV (particularmente da Rede Glo-bo), observando contradições da racionalidade discursiva que trata da questãosócio-ambiental, na medida em que apela para a educação ambiental e asustentabilidade de maneira pontual, ao tempo em que pulveriza o tema numaprogramação extremamente marcada pelo consumismo e pela degradação só-cio-ambiental.
No artigo Valores culturais como estruturantes do desenvolvimento localsustentável, as autoras Maria José Marita Palmeira e Solange de Oliveira Gui-marães consideram a perspectiva da multidimensionalidade como fundamentalpara a compreensão do processo de desenvolvimento local e sustentável, pro-curando ir além das dimensões geoambiental, econômica e política, para pôrem evidência a realidade local dos atores sociais, seus valores culturais e histó-ria.
Por sua vez, o trabalho de Paulo Ricardo da Rocha Araújo, Cenários eagentes da educação ambiental: uma análise das condições macro-estruturais
255Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 253.256, jul./dez. 2002
e a prática educativa escolar, aborda indicadores de insustentabilidade do mo-delo de desenvolvimento hegemônico para chegar a novos espaços de relaçãoentre o homem e natureza, na perspectiva dos seus ‘entornos eco-sócio-territoriais’, também aprendidos nos contextos educativos relativos à ecologiae à educação ambiental.
O campo da educação é re-visitado, numa abrangente abordagem, por ErnâniLampert, em Educação: visão panorâmica mundial e perspectivas para a Amé-rica Latina, com base no Fórum Mundial sobre a Educação – Dacar/Senegal(2000), considerando os desafios da educação na África subsaariana, países daÁsia e Pacífico, Estados Árabes, nos países mais povoados do mundo, Américado Norte e Europa, e países da América Latina e Caribe, para visualizar aAmérica Latina dentro do quadro mundial e as perspectivas da educação noséculo XXI.
A situação na qual se encontra a educação e os desafios colocados pelasproblemáticas do desenvolvimento atingem, por sua vez, os trabalhadores e,nessa linha, o artigo de Emília Maria da Trindade Prestes – Políticas de educa-ção do trabalhador brasileiro como política de desenvolvimento – examina asnovas políticas de educação do trabalho implantadas pelo Estado Brasileiro,através do Plano Nacional de Educação Profissional - PLANFOR, interrogan-do sobre seus alcances quanto às melhorias das condições de vida e de trabalhoda População Economicamente Ativa - PEA, ou seja, sobre a sua capacidadede reduzir condições de pobreza e exclusão dos trabalhadores de baixa escola-ridade ou com problemas de trabalho e contribuir na promoção do desenvolvi-mento e da sustentabilidade local.
Lanara Guimarães de Souza, em Desenvolvimento local sustentável em po-líticas públicas educacionais de municipalização, discute aspectos do processode municipalização da educação na perspectiva do desenvolvimento local sus-tentável, mostrando a importância da descentralização política e administrati-va – no e pelo município – fomentando a ação participativa da sociedade local.
Dentre as renovações conceituais ou terminológicas introduzidas pelo deba-te contemporâneo, insere-se o ensaio de Alfredo Eurico Rodríguez Matta,intitulado Transurbanidades e ambientes colaborativos em rede de computado-res, que trata das comunidades de práxis, de aprendizagem, de convivência eoutras, expressões alternativas da clássica urbanidade física e geográfica, exem-plos de organizações e espaços de convivência paralelos e em rede que facili-tam entendimentos, experiências e participações em problemáticas muitas ve-zes distantes do processo urbano local.
Também transitando pelas novas articulações temáticas e delas exigindo ore-pensar sobre a atualidade, Gregório Benfica, em O museu e o turismo: aação educativa para o desenvolvimento sustentável, analisa a evolução do mu-
256 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 253.256, jul./dez. 2002
seu e do turismo, indicando que a integração de ambos pode promoversustentabilidade, referenciando exemplos de regiões onde a participação da co-munidade foi possibilitada pela ação educativa de museus, criando condiçõespara o desenvolvimento sustentável do turismo nessas mesmas comunidades.
A Seção Estudos reúne um conjunto de cinco trabalhos abordando temasdiversos: A linguagem verbal e suas relações de poder: a interação lingüísticacomo construto de resistência, de Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios, emque a autora apresenta reflexões pedagógicas sobre a linguagem verbal comoformas sutis de poder que circulam na sala de aula; Raça, gênero e educaçãosuperior, em que Delcele Mascarenhas Queiroz trata das desigualdades entreos segmentos raciais e de gênero no sistema educacional; Ambientes virtuais deaprendizagem: por autorias livres, plurais e gratuitas, de Edméa Oliveira dosSantos, mostra possibilidades concretas de criação e gestão AVA que utilizamrecursos gratuitos do próprio ciberespaço; Jogos eletrônicos e violência: des-vendando o imaginário dos screenagers, em que Lynn Rosalina Gama Alvesdiscute a interação dos adolescentes com os jogos eletrônicos considerados vi-olentos; e Educação e virtude na República de Platão, de Roberto Evangelista,em que o autor estabelece o valor ontológico da educação na constituição dopróprio ser do homem em sua existência estética, ética e política.
Na última seção, Gey Espinheira apresenta uma resenha sobre o livro deYara Dulce Bandeira de Ataide, Clamor do presente: história oral de famíliasem busca da cidadania, tratando de uma população desafortunada que fala deseus sofrimentos, desilusões, desejos e perspectivas de vida.
259Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Edvalter Souza Santos
EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Edvalter Souza Santos*
RESUMO
No passado, o Homem enfrentou dificuldades para produzir seu sustento eproteção. Com o progresso tecnológico, aperfeiçoou suas armas, instrumentose processos, “venceu” os obstáculos e “inimigos” que a “Natureza” lhe opunhae anunciou o advento de um homem “civilizado” e feliz. Mas a organizaçãosocial e os estilos de vida impostos pela “civilização” – agravados pelos aspec-tos predatórios do modo de produção capitalista - geraram variadas formas demal-estar moderno ao manterem o princípio do homo hominis lupus, de explo-ração e violência dos dominadores sobre os dominados. A injusta apropriaçãodo saber e dos recursos pelos primeiros explica o “fracasso da modernidade” –que não é “culpa” da ciência, da razão, ou da “modernidade”, apontadas emcertos discursos como vilãs de todas as crises. Também, se pareceu “dominar”a natureza, o homem civilizado recebeu, como “resposta” ou “revanche”, aameaça do esgotamento dos recursos ambientais indispensáveis à vida: a criseecológica, ou “questão ambiental”. A educação se insere na gênese do proble-ma, mas também nas esperanças de solução. Quanto aos anúncios da “mortedo Planeta” ou “extinção da vida”, são ameaças que se dirigem tão só e direta-mente à vida humana. Vida que (tanto!) nos interessa preservar.
Palavras-chave: Crise ecológica – Questão ambiental – Meio-ambiente –Sustentabilidade – Desenvolvimento sustentável – Educação ambiental – Edu-cação para a cidadania.
ABSTRACT
EDUCATION AND SUSTAINABILITY
In the past, Man faced difficulties to produce their nurture and protection. Withthe technological progress, they have perfected their guns, instruments and pro-cesses, have “overcome” the obstacles and “enemies” that “Nature” proposedand have announced the advent of a “civilized” and happy man. However thesocial organization and the life styles imposed by “civilization” – aggravated bythe predatory aspects of the capitalist mode of production – have generatedvarious forms of modern discomfort when maintaining the principle of the homohominis lupus, of exploitation and violence of the dominators over the domi-nated. The unfair appropriation of knowledge and of resources by the first ex-
* Professor Titular da UCSAL - Universidade Católica de Salvador. Mestre em Planejamento Urbano eRegional pelo IPPUR/UFRJ – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional/UniversidadeFederal do Rio de Janeiro. Doutorando em Planejamento Urbano e Regional, IPPUR/UFRJ. Endereçopara correspondência: Rua Piauí, 312 ap. 602, Pituba – 41.830-270. Salvador/BA. E-mail:[email protected].
260 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Educação e Sustentabilidade
plains the “failure of modernity” – which is not “responsibility” of science,reason, or “modernity”, indicated in certain speeches as responsible for all cri-sis. Also, if they seemed to “dominate” nature, civilized men have received, in“return” or as “return match”, the threaten of depletion of the environmentalresources necessary to life: the ecological crisis, or “environmental matter”.Education is inserted in the genesis of the problem, but also in the hope forsolution. As for the advertising of the “death of the planet” or “extinction oflife”, these are threats directed to the human life only. The life we want (somuch!) to preserve.
Key words: Ecological crisis – Environmental Matter – Environment –Sustainability – Sustainable development – Environmental education – Educa-tion for citizenship.
INTRODUÇÃO
Se hoje for um dia comum no planeta Terra,os seres humanos irão adicionar quinze mi-lhões de toneladas de carbono na atmosfera,destruirão cento e quinze mil metros quadra-dos de floresta tropical, criarão setenta e doismil metros quadrados de deserto, elimina-rão entre quarenta a cinqüenta espécies, cau-sarão a erosão de setenta e um milhões detoneladas de solo, adicionarão duzentos esetenta toneladas de CFC à estratosfera e au-mentarão sua população em duzentos e ses-senta e três mil pessoas. (ORR, 1992, p. 3)1.
Admite-se que o ser humano enfrentou, numpassado remoto, dificuldades para produzir seusustento e proteção, dispondo de poucas e rudi-mentares armas e instrumentos. Essas carênci-as foram supridas pela via do progresso técnicoque permitiu o aperfeiçoamento das armas, ins-trumentos e práticas, facilitando a produção dasubsistência e da proteção, e o aumento do ta-manho e da complexidade dos grupos. Tendo“vencido” os obstáculos e “inimigos” que a“Natureza” lhe opunha, o Homem2 pôde divi-sar o advento de uma vida “civilizada” e feliz.Não foi o que aconteceu. Prevaleceu o princí-pio – e a prática – do homo hominis lupus, doque resultou e resulta para o homem “mais fra-co” as variadas formas de exploração e de vio-lência impostas pelo “mais forte”. A organiza-ção social e os estilos de vida impostos pela“civilização”3 produziram e produzem um cau-
dal de problemas. O modo capitalista de produ-ção engendrado pela civilização cristã ociden-tal européia conduziu – e inexoravelmente con-duz – ao agravamento da pobreza, da poluiçãoambiental, da corrupção e da guerra.
Na segunda metade do século XX, o homemdeu-se conta de um “novo” e grave problema.O estilo “capitalista” de vida – consumista, vo-raz de recursos –, enquanto pareceu “dominar”a natureza recebeu, como “resposta” desta, aameaça de esgotamento dos recursos ambientaisindispensáveis à vida humana. Ante a“revanche” da natureza agredida, pergunta-se:o que vem a ser a crise ecológica? Como foiproduzida? Que ameaças aporta? O tema acio-na expressivas categorias como ecologia eecossistemas, ambientalismo e meio-ambiente,desenvolvimento sustentável e justiça ambiental,
1 A tradução desta – e de qualquer outra citação, nestetexto – é da responsabilidade do autor do presente artigo.2 Neste trabalho utiliza-se o substantivo Homem no sen-tido da espécie, do homo sapiens sapiens.3 Não se pode definir/delimitar uma “civilização”. Des-taca-se, aqui, a civilização cristã ocidental, uma forma-ção histórico-cultural que se consolidou em solo europeua partir do Império Romano, girando em torno de valorescristãos difundidos pela Igreja e de valores e tradiçõesherdados dos romanos (e, ainda, dos gregos antigos), en-gendrou os fenômenos do Renascimento, do Iluminismoe por fim da chamada “modernidade” e logrou irradiar-se amplamente pelos demais continentes.
261Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Edvalter Souza Santos
balanço energético e “sociedade de risco”, den-tre outras. A crise ancora-se num sistema decrenças e num conjunto de práticas que deri-vam daquelas e/ou, retroativamente, as consti-tuem. Como se formaram essas crenças e práti-cas, historicamente? O que lhes garante trans-missão e continuidade? De onde retiram legiti-midade para manterem-se ativas?
As respostas poderiam explicar, em parte, agênesis do problema e apontar soluções. Quaisdestas crenças devem ser descontinuadas e queoutras postas no lugar? Que práticas e tradi-ções devemos descontinuar (e em favor de queoutras)? Que papel, se algum, terá tido a edu-cação na instauração da crise? Que papel pode-rá ter como auxiliar da eventual solução?
Divergimos dos discursos que demonizam aciência, a razão, ou a “modernidade”,indigitadas vilãs da crise ecológica e demaisformas modernas de mal-estar. O “fracasso damodernidade” explica-se pela visão de que “ahistória de todas as sociedades (...) tem sido ahistória das lutas de classes” (MARX;ENGELS, 2000, p. 75), das lutas entre opres-sores e oprimidos, quaisquer que sejam uns eoutros em cada formação histórica. A causa dosproblemas sociais é a injusta apropriação/ex-propriação – pelos dominantes e exploradores– do saber e dos recursos em geral, e não umahipotética “falência da razão” (ou da ciência).Quanto aos receios ambientalistas sobre a “mor-te do planeta” ou “extinção da vida”, convémter presente que a ameaça de extinção dirige-se,direta e tão somente, à vida humana. Mas é jus-to esta... que tanto nos interessa preservar!
1. AMBIENTALISMO E CRISE ECOLÓ-GICA
O ambientalismo, em sentido amplo, podeter suas origens remontadas ao século XIX,quando foi denunciada a degradação ambientaldas áreas residenciais da classe operária e asligações entre poluição ambiental, pobreza efalta de saúde, e pugnou-se por soluçõesambientalmente informadas para a arquiteturae para o planejamento urbano. No plano
explicativo da evolução biológica dos seres vi-vos, a ênfase no efeito das condições externasde vida sobre populações de organismos comodeterminantes para o surgimento de novas es-pécies (DARWIN, 1859) veio contrariar as te-ses que atribuíam esta evolução apotencialidades pré-existentes em espécies an-teriores. As teorias pré-formacionistas eepigenéticas marcaram a história da embriologiae, já no século XX, embasaram o debate sobreos papéis da “natureza” versus “educação” naformação dos atributos individuais humanos. Ateoria genética moderna fortaleceu o ponto devista dos adeptos da hereditariedade, comoFrancis Galton, Karl Pearson e outros, e o de-bate resvalou para movimentos racistas eeugênicos, com desdobramentos genocidas.Franz Boas, G. H. Mead, R. H. Lowie e A. L.Kroeber, na antropologia cultural; W. B.Watsone, os behavioristas, na psicologia; e JohnDewey, no campo filosófico, combateram o ra-cismo e defenderam a supremacia do culturalsobre o biológico, no desenvolvimento humano(OUTHWAITE et al., 1996).
Em 1945, a construção da bomba atômica esua cruel utilização contra as populações civisde Hiroshima e Nagasaki despertaram os pen-sadores para o risco de destruição da biosferapelo homem. Nos anos 60, o movimentoambientalista4 ganhou contornos românticos nomovimento hippie, enquanto a ecologia, comociência, adentrou as pautas do pensamento po-lítico e social. O movimento cresceu, diversifi-cou-se, e tomou a forma de partidos políticos“verdes” ou alas ambientalistas de outros parti-dos; ou de movimentos sociais e ONG’s, quelutam por objetivos amplos (leis, regulamentos)em setores como agricultura, alimentação, ener-gia, ou mais restritos e localizados. Esses mo-vimentos têm encontrado apoio pela repercus-são de seguidos desastres ambientais, como osacidentes com os reatores nucleares de Three-
4 Entre os livros de época, cf. Silent spring (RACHELCARSON, 1962) e The population bomb (H. J.EHRLICH, 1968).
262 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Educação e Sustentabilidade
Miles Island e Chernobyl, e o vazamento de óleodo petroleiro Exxon-Valdez. Estudos recentesconcluem que a degradação ambiental ameaçaa saúde e a segurança das pessoas, como efei-tos dos buracos de ozônio e de mudanças cli-máticas antropogênicas, e que a degradaçãodecorre, sobretudo, das atividades humanas li-gadas à industrialização (OUTHWAITE et al.,1996; DALBY, 1997).
Ecologia e Ecossistemas
Barry Commoner (1971) condensou em lin-guagem simples, para consumo popular, qua-tro “leis básicas da ecologia”, na forma deprincípios super-simplificados, mesmo assimúteis para uma abordagem inicial e didáticados temas complexos da ecologia:
1) “Everything is connected to everythingelse” [Cada coisa está conectada a cada outra]
2) “Everything must go somewhere” [Cadacoisa vai para algum lugar]
3) “Nature knows best” [A natureza sabemelhor]
4) “There is no such thing as a free lunch”[Não existe nada tipo “almoço grátis”]
O primeiro princípio aborda ainterconectividade e a impossibilidade de isola-mento completo de qualquer sujeito, ou proces-so, no planeta, e combate todas as formas depensamento isolacionista. Nós não estamos naTerra, nós somos a Terra. Não é útil pensar-mos como se estivéssemos separados da natu-reza, ou sobre o planeta. Nós somos uma ques-tão de natureza e uma questão de civilização, ea civilização faz coisas à natureza no processode fazer coisas a si mesma e, como espécie, te-mos a capacidade de mudar a ecologia do pla-neta.. Pelo segundo princípio, não existem “so-bras”, todos os produtos dos processos biológi-cos vão para “algum lugar”, eles não “vão-seembora” simplesmente. É crucial entender quelixo não se “joga fora”, pois todo lixo vai serdepositado em algum lugar e, no novo lugar,pode gerar problemas. Pelo terceiro princípio,o conhecimento humano dos processos ecológi-cos é sempre incompleto, e toda tentativa de
“melhorar” o ambiente pode, no fim, prejudicaros ecossistemas. Ele remete às propostas de con-servação e de gestão do ambiente e alerta con-tra a idéia de gestores globais. Pela quarta “lei”(emprestada da economia, em que cada coisatem um preço), em ecologia, cada coisa ou pro-cesso tem um “custo”, pois energia e matériasão usados e transformados em todo processoecossistêmico.
Um ecossistema é um complexo formado poruma comunidade biótica e seu ambiente, quepermanecerá num suposto estado de equilíbrio,se não perturbado. As populações das diversasespécies flutuam no ecossistema, a depender doclima, do processo sucessório das plantas e dasrelações predador/presa, dentro da capacidadede carga. Perturbações, humanas ou não, aba-lam o (suposto) equilíbrio dos ecossistemas e,em muitos, casos os destroem. Tendências delongo prazo indicam que sistemas estáveis nãosão tão comuns como antes se pensava.
Boas práticas de gerenciamento de recursosdevem, em teoria, permitir a colheita de biotascom um rendimento sustentável, desde que nãose exceda a capacidade de carga. Mas, se seentendem os ecossistemas como sistemas maisvariáveis e menos previsíveis, que são abertos enão fechados e, por isso, vulneráveis a interaçõesem maior escala, suposições harmoniosas deestados de equilíbrio não são premissas apro-priadas para o gerenciamento de recursos. Afalta de previsibilidade e a multiplicidade defatores operantes sugerem a necessidade de seincorporar mais complexidade ao lidar comfecundidade natural. A assertiva “a naturezasabe melhor” não deverá ser interpretada nosentido de que os ecossistemas perturbados po-dem se recompor naturalmente. Perturbaçõespor ação humana são às vezes tão extensas queabalam as possibilidades de “deixar a naturezarecompor-se sozinha”. As drásticas perturbaçõesda ecologia pelo sistema colonial europeu doúltimo milênio sugerem que suposições simplesde recuperação espontânea da natureza são im-possíveis. Entretanto, verifica-se a necessidadepreliminar de se decidir que tipo de natureza“nós” desejamos – o que deve ser conservado, e
263Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Edvalter Souza Santos
o que deve ser gerenciado, e para produzir queefeito (DALBY, 1997)5.
Dimensões demográfica e urbana dacrise
A população global, hoje estimada em 6,1bilhões de habitantes, deverá crescer em 2 bi-lhões de pessoas nos próximos 30 anos, e emoutro bilhão nos 20 anos subseqüentes. O acrés-cimo se dará quase totalmente no mundo emdesenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 2002).
Prevê-se que, em torno de 2050, 80% - oumais - das pessoas viverão em aldeias e cida-des. A urbanização criará oportunidades para areversão da expansão da agricultura emecossistemas terrestres mas fará aumentar apressão sobre a água potável. Os investimen-tos em infra-estrutura irão afetar o uso da terrae de energia, e a qualidade de vida dos habitan-tes, urbanos ou não. A partir de 2025, com ¾da população mundial vivendo próximo do lito-ral – a 100 quilômetros do mar, ou menos –crescerá muito a pressão sobre os ecossistemascosteiros (BANCO MUNDIAL, 2002).
Lembrando que se aponta um nexo específi-co entre pobreza e degradação ambiental; quehá nos países pobres cerca de 2,8 bilhões depessoas ganhando menos de 2 dólares por dia(1,2 bilhão, abaixo de US$1 ) e que os gover-nos desses países enfrentam difíceis problemaspara a geração e distribuição de renda e redu-ção da pobreza, pode-se prever o aumento dosproblemas ambientais. Em termos globais, pre-vê-se o crescimento da renda nos próximos 50anos à taxa média de 3% ao ano, devendo qua-druplicar o produto interno bruto (PIB) mundi-al no período, expandir o consumo e pressio-nar os recursos naturais. A inovação científicae tecnológica pode contribuir para a transfor-mação sócio-econômica e para a melhoria daqualidade de vida, ao acelerar a gestação e oaprendizado de processos para melhorar a saú-de e a produtividade dos povos, o acesso distri-buído aos bens e serviços e à informação, a re-dução da exclusão social e o acesso aos proces-sos decisórios, e para mitigar mudanças climá-ticas e a degradação ambiental. Para tanto, urge
ampliar os investimentos em educação, para oaumento das competências e do “capital inte-lectual” (BANCO MUNDIAL, 2002)6.
Dimensão sócio-econômica da criseambiental
Ao destacarem o risco do esgotamento dasreservas de insumos não renováveis que o mo-delo produtivista - o modo capitalista de pro-dução - implica, alguns estudos clamam por al-terações que garantam sustentação do modelono longo prazo; além de denunciarem os riscospara a sobrevivência humana decorrentes dosimpactos ambientais das atividades econômicase sociais. O movimento ecológico aponta fortesrelações entre ambiente e atividade econômica,entendendo esta última como um sistema comfortes interações com o “ambiente” e o cresci-mento da economia como um fator que está ab-sorvendo sempre mais da produção biosféricaprimária. Então, seus limites e suas perturba-ções tornam-se muito claros (DALBY, 1997;SANTOS & HAMILTON, 2000; ACSELRAD,1999).
O pensamento moderno alicerçou o modelotécnico-industrial que sustenta a separação ho-mem-natureza e considera a natureza como umafonte inesgotável de recursos para dar suporte àacumulação de riqueza da sociedade. A Revo-lução Industrial agravou a hegemonia da pro-dução em detrimento da conservação e ahegemonia humana sobre a natureza. O mito dodesenvolvimento fortaleceu a certeza de suces-so irrestrito da capacidade humana de produzire ocultou a barbárie do processo.
Ao tempo em que “dominava” a natureza, oHomem dominava o Outro, transformando-o emcoisa. Isto é, alguns poucos homens domina-vam outros tantos..., conferindo à civilização
5 Para uma bibliografia mais extensa sobre os temas des-te tópico, consultar as referências do artigo de Dalby e overbete ambientalismo na obra de Outhwaite.6 Após 2050 a população mundial deverá estabilizar-seentre 9 e 10 bilhões de pessoas e, praticamente, deixaráde crescer. Os governos deixarão de lidar com o proble-ma do crescimento populacional (BANCO MUNDIAL,2002).
264 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Educação e Sustentabilidade
um caráter excludente e destruidor, com pobre-za, desigualdades e degradação ambiental, ma-les que a globalização econômica e culturalmundializou. Na prática, será sempre necessá-rio enfrentar os conflitos advindos da diversi-dade dos atores sociais - indivíduos e grupos - ede seus interesses, sendo ingênuo esperar porum ser humano “ideal” que se relacioneharmonicamente com uma natureza genérica.Trata-se da milenar “luta de classes”, redefinida.O problema não reside, porém, na diversidadehumana e sim no agravamento social das desi-gualdades (GRÜN, 2002; VAN PARIJS, 1997).
Elmar Altvater (1995) apresenta e fundamen-ta a tese da contradição insolúvel entre o mode-lo de desenvolvimento capitalista vigente e apreservação dos recursos naturais e das fontesenergéticas desse modelo. Eficácia ecológicacom justiça distributiva e eficiência econômicacom base na alta produtividade do trabalho se-ria de fato a “quadratura do círculo”. Entretan-to, esta é impossível, não só de um ponto devista matemático, mas também ecológico e eco-nômico. “O sonho de um capitalismo ecológicoproduz monstruosidades” (ALTVATER, 1995,p. 281). O autor refuta a economicização daecologia, afirmando que ecologia é política. Acomunicação ecológica não pode confiar noscódigos econômicos, e o que está na ordem dodia não é a economicização da ecologia e, sim,a ecologização da economia e a politização deambas (ALTVATER, op.cit.).
Os protocolos internacionais
A Primeira Conferência das Nações Unidassobre o Meio-Ambiente, Estocolmo, 1972, trou-xe oficialmente à cena o tema da sobrevivênciada humanidade. Relatórios têm também sidoapresentados desde então pelo Clube de Roma.Em 1983, a Assembléia Geral da ONU criou aComissão Mundial para o Meio-Ambiente eDesenvolvimento, presidida por Gro HarlemBrundtland, que preparou o “RelatórioBrundtland” e cunhou as expressões “desenvol-vimento sustentado” e “nova ordem mundial”.Em 1992, a Conferência das Nações Unidassobre o Meio-Ambiente e Desenvolvimento
(Eco-92, Rio de Janeiro) produziu o protocoloconhecido como Agenda 21. Em 1993, foi a vezda Declaração de Kyoto7, internacionalmenteainda não validada, sobretudo pela recusa doGoverno Bush (EUA) em subscrevê-la. Anun-ciam-se as próximas adesões da Rússia e doCanadá, o que legitimaria este protocolo. Em2002, teve lugar em Johannesburgo, África doSul, a “Conferência Rio+10”.
A Agenda 21, da qual são signatários o Bra-sil e outros 176 países, preconiza aimplementação de políticas públicas compatí-veis com os princípios do desenvolvimento sus-tentável, através de projetos adaptados nacio-nalmente e financiados pelo Programa das Na-ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).O Brasil criou um Ministério do Meio Ambien-te e selecionou seis áreas temáticas para a açãosócio-ambiental, a saber: Infra-Estrutura eIntegração Regional; Cidades Sustentáveis;Agricultura Sustentável; Gestão dos RecursosNaturais; Redução das Desigualdades Sociais;e Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Sus-tentável
2. SUSTENTABILIDADE E DESEN-VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A noção de desenvolvimento desdobra-se,analiticamente, em desenvolvimento econômi-co e desenvolvimento social. A melhoria do es-tágio econômico de uma comunidade – cresci-mento econômico – requer a elevação do rendi-mento dos fatores de produção: recursos natu-rais, capital e trabalho (SANTOS & HAMIL-TON, 2000). Mas o progresso social implica“a satisfação de necessidades básicas, tais comonutrição, saúde e habitação ... e outras, comoacesso universal à educação, liberdades civis eparticipação política” (OUTHWAITE et al.,1996).
Durante séculos, o acesso aos recursos na-turais – terra e minerais – era considerado um
7 Kyoto Declaration on Sustainable Development of theInternational Association of Universities (IAU), 1993.
265Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Edvalter Souza Santos
pré-requisito do desenvolvimento. As Américase parte da África e da Ásia foram colonizadascom vistas à apropriação desses recursos peloscolonizadores, através de guerras coloniais eimperialistas8. Após as revoluções industriais,o capital físico – máquinas e equipamentos –tornou-se a base da acumulação da riqueza e,“industrializado”, tornou-se sinônimo de “de-senvolvido”. No pós-guerra, o fator tecnologia- conhecimentos e idéias – e o “capital huma-no” valorizaram-se e atraíram os investimen-tos. Durante os “anos de ouro” (1945-1973), aeconomia do “primeiro mundo” cresceu a altastaxas anuais, o desenvolvimento foi visto comoum problema dos “países subdesenvolvidos” eacalentou-se a idéia de que o desenvolvimentoeconômico era possível para todos os povos domundo, mediante a correta aplicação da técnicae a melhoria da eficiência, esperando-se, comosubprodutos, a melhoria geral da qualidade devida e das condições políticas. O último quartelde século veio abalar estas certezas, ao deixarclaro que o desenvolvimento nem era ubíquo nemconduzia automaticamente à eqüidade (BAN-CO MUNDIAL, 1997; OUTHWAITE et al.,1996)9.
A aurora do século XXI deixa perplexos osbrasileiros que se debruçam sobre a temáticado desenvolvimento nacional, pois o aumentoda dívida externa, o déficit comercial crônico,as altas taxas de juros, o “desajuste estrutural”criado pela conjugação da abertura comercialcom a sobrevalorização cambial, a perda desolidariedade federativa e a concentração derenda e riqueza, ameaçam o governo de perdade legitimidade ética e, junto com a retraçãoeconômica dos países centrais e as políticas pro-tecionistas dos que nos exigem a prática do li-vre comércio sem se obrigarem a tanto (EUA,UE), parecem fechar pouco a pouco todos oscaminhos pelos quais poderíamos pretender ven-cer a condição de subdesenvolvidos (FIORI,2001).
Desenvolvimento Sustentável e“sustentabilidade”
No centro dos esforços por compreender epromover o desenvolvimento sustentável se en-
contram quatro elementos chave: (a) a índolegrave e urgente do problema; (b) o alcanceinterdisciplinar e transdisciplinar das possíveissoluções; (c) a escala internacional de seus efei-tos; e (d) os imperativos éticos deautoconhecimento, moderação, equidade e jus-tiça. Como conseqüência de seu carátermultidimensional, o desenvolvimento sustentá-vel tem sido definido e caracterizado de manei-ras diversas. Pelo Princípio 1 da Declaração deEstocolmo,
O homem tem o direito fundamental à liberda-de, à igualdade e ao desfrute de condições devida adequadas em um meio de qualidade talque lhe permita levar uma vida digna e gozarde bem-estar, e tem a solene obrigação de prote-ger e melhorar o meio para as gerações presen-tes e futuras (DOCUMENTO 1, 2003).
Outrossim, os Princípios 1 e 3 da Declara-ção do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambienteestatuíram que:
Os seres humanos constituem o centro das pre-ocupações relacionadas com o desenvolvimentosustentável. Têm direito a uma vida saudável eprodutiva em harmonia com a natureza (...). Odireito ao desenvolvimento deve exercer-se emforma tal que responda eqüitativamente às ne-cessidades de desenvolvimento e ambientais dasgerações presentes e futuras (DOCUMENTO 2,2003).
Estas formulações reconhecem os direitoshumanos como uma meta fundamental e a pro-teção ambiental como um meio essencial de
8 A pilhagem – antiga e atual - dos demais continentespelas potências da Europa e pelos EUA explica em partea riqueza destas áreas do mundo. Também desautorizaqualquer tentativa ingênua de o Brasil tomar como mo-delo de crescimento qualquer daqueles países – já quenão pudemos nem poderemos pilhar país outro nenhum.9 Após os ‘choques do petróleo’, a crise econômica atin-giu também – ainda que em menor grau – os países ricos.A doutrina neoliberal e o Consenso de Washington, a partirda década de 70, imputaram ao Estado de Bem-Estar a‘culpa’ pela crise e preconizaram a redução do Estado e oretorno à lógica soberana do mercado como remédio uni-versal anti-crise. A recente débacle da Argentina (e ou-tros casos) pôs a nu a falácia do pensamento neoliberal.
266 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Educação e Sustentabilidade
alcançar as “condições adequadas” para “levaruma vida digna e gozar de bem-estar”. Elas vin-culam claramente os direitos humanos à prote-ção ambiental, uma vez que a saúde e a existên-cia humanas, protegidas juridicamente como odireito à saúde e o direito à vida, dependem dascondições ambientais. O conceito de desenvol-vimento sustentado foi apresentado pelo Rela-tório Brundtland da seguinte maneira:
(...) é o desenvolvimento que satisfaz as neces-sidades da geração presente sem comprometera capacidade das gerações futuras de satisfaze-rem suas próprias necessidades, e (...) o pro-cesso de câmbio no qual a exploração dos re-cursos, a orientação da evolução tecnológica ea modificação das instituições estão acordes eacrescentam o potencial atual e futuro para sa-tisfazer as ne-cessidades e aspirações humanas(BRUNDTLAND, 1991, p. 46 e ss.).
A análise crítica da definição acima leva aoquestionamento dos conceitos de desenvolvimen-to, de necessidades e, por último, das limita-ções imponíveis às gerações presentes em nomedos direitos das gerações futuras. As “necessi-dades” não são “naturais”, mas grandementeditadas pela cultura. Por outro lado, não pode-remos advogar uma eqüidade inter-geracionalse não formos capazes de praticar a eqüidadeintra-geracional, entre aqueles que estão vivosno presente. Desta forma, o desenvolvimentosustentável passa a ser aquele capaz de garantirqualidade de vida a todos, reduzindo as desi-gualdades sociais (que se alimentam da segre-gação, da exclusão e dos grandes desníveis so-ciais) e preservando a natureza, tanto em bene-fício dos viventes, quanto tendo em mira os vin-douros, com a redução da poluição e a recusa àdegradação e ao esgotamento dos recursos não-renováveis (ACSELRAD, 1999).
Estudos recentes tornaram cada vez maisclaras as relações entre desenvolvimento indus-trial e poluição. A “sustentabilidade” passou afazer parte dos debates sobre desenvolvimento,como uma categoria inovadora que introduzfatores de diferenciação nas bases de legitimi-dade (a eficiência técnica convencional) do con-
junto de atividades. É um campo de luta entretodos que pretendem, uns alterar, outros refor-çar, a distribuição de legitimidade e de podersobre mercados e sobre mecanismos de acessoa recursos do meio material – apresentando-secomo portadores da nova eficiência ampliada,a da utilização “sustentável” dos recursos. Mar-ca a disputa entre alternativas técnicas supos-tamente mais econômicas quanto aos níveis deuso/perturbação de ecossistemas e traz para aagenda pública sentidos extra-econômicos queacionam categorias como justiça, democratiza-ção e diversidade cultural (DALBY, 1997; SAN-TOS & HAMILTON, 2000; OUTHWAITE etal., 1996).
Entre as matrizes discursivas formadas emtorno do assunto, destacam-se a da eficiência,que pretende combater o desperdício da basematerial do desenvolvimento, estendendo aracionalidade econômica ao espaço “não mer-cantil” planetário; da escala, que propugna umlimite quantitativo ao crescimento econômico eà pressão que ele exerce sobre os “recursosambientais”; da eqüidade, que articula analiti-camente princípios de justiça e ecologia; daautosuficiência, que prega a desvinculação deeconomias nacionais e sociedades tradicionaisdos fluxos do mercado mundial, como estraté-gia apropriada para assegurar a capacidade deauto-regulação comunitária das condições dereprodução da base material; da ética, que ins-creve a apropriação social do mundo materialem um debate entre os valores do Bem e do Mal,evidenciando as interações da base material dodesenvolvimento com as condições de continui-dade da vida no planeta (ACSELRAD, 1999).
É através de suas relações sociais e de seusmodos de apropriação do mundo material queas sociedades produzem sua existência. Ainterface entre o mundo social e sua base mate-rial se observa através das práticas sociais, quepodem assumir formas técnicas, formas sociaise formas culturais de apropriação do mundomaterial (ALMEIDA NETO, 2000). As formastécnicas incluem modos de uso, transformaçãobiofísica, extração, inserção e deslocamento demateriais. Por sua vez, as formas sociais são
267Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Edvalter Souza Santos
os processos de diferenciação social dos indiví-duos a partir das estruturas desiguais de aces-so, posse e controle de territórios ou de fontes,fluxos e estoques de recursos materiais. Taispráticas são historicamente constituídas e con-figuram lógicas distributivas das quais se nu-trem as dinâmicas de reprodução dos diferentestipos de sociedade baseadas na desigual distri-buição de poder sobre os recursos. As formasculturais incluem as práticas e atividades deprodução de significados, operações de signifi-cação do mundo biofísico em que se constrói omundo social. Mais do que epifenômenos dasestruturas produtivas da sociedade, os fatosculturais fazem parte do processo de constru-ção do mundo, dando-lhe sentidos eordenamentos, comandando atos e práticas di-versas a partir de categorias mentais, esquemasde percepção e representações coletivas diferen-ciadas.
Ora, depreende-se daí que as técnicas nãosão meras respostas às restrições do meio, nemdeterminações unilaterais das condiçõesgeofisiográficas, mas estão integralmente con-dicionadas pelas opções da sociedade e mode-los culturais prevalecentes. As sociedades alte-ram seu meio material não somente para satis-fazer carências e superar restrições materiais,mas sim para projetar no mundo diferentes sig-nificados, como construir paisagens, democra-tizar ou segregar espaços, padronizar ou diver-sificar territórios sociais, etc. As diversas cate-gorias sociais - camponeses, capitais agro-ex-portadores, capitais especulativos, empreendi-mentos industriais, etc. - apresentam lógicaspróprias de apropriação do meio. As práticastécnicas são referenciadas a contextos históri-cos que condicionam os padrões/soluçõestecnológicos, mas também as categorias depercepção, julgamento e orientação que jus-tificam/legitimam tais práticas (ACSELRAD,2000).
Também a noção de eficiência – numa de-terminada sociedade – não é absoluta,transhistórica ou onivalente. Pode significareconomia de tempo de trabalho e/ou de materi-ais. O padrão tecnológico resulta de escolhas
técnicas condicionadas por estruturas de podervigentes, que procuram manter-se via dissemi-nação cultural de categorias de percepção quefazem valer socialmente os critérios dominan-tes de “eficiência”, “capacidade competitiva”,“níveis de produtividade”, etc. Tais critérios le-gitimam e reforçam a superioridade real e sim-bólica dos dominantes. As correntesdesenvolvimentistas-economicistas pretendemque o desenvolvimento sustentável seja simples-mente uma questão de eficiência e de progressotecnológico. Os otimistas tecnológicos que apói-am esta corrente argumentam que o avanço datécnica será capaz de dar conta de todos os pro-blemas ecológicos atuais ou futuros(ACSELRAD, 2000). Para Wolfgang Sachs, osimples aumento da eficiência não é capaz dedar conta dos problemas criados: “según losestándares en uso, sólo reduciendo en un 70 a90% el uso de energía y la materia a utilizardurante los próximos cincuenta años se fariajusticia a la seriedad del sistema. Sólo unoptimista muy audaz creería posible alcanzaresta meta con sólo mejorar la eficiencia. Ningunarevolución de la eficiencia bastará” (SACHS,1996).
Assim, a “sustentabilidade” do desenvolvi-mento somente pode ser considerada seriamen-te se as preocupações se estenderem para alémdo desenvolvimento econômico puro e simples,para incluir em seu bojo as questões relativas àeqüidade e à justiça social, além da preserva-ção da natureza e prevenção dos riscos ecológi-cos. Mas, sustentabilidade requer, ainda, legiti-midade. Não se pode pretender sustentável umasociedade cujos quadros dirigentes exercem opoder a partir de alternativas ilegítimas, poisaqueles a eles submetidos cedo ou tarde se re-belarão, diante da insustentabilidade da ilegiti-midade dos próceres.
Portanto, para muitas correntes de pensado-res, nem o aumento da eficiência, nem o pro-gresso da técnica justificam as propostas de re-duzir os problemas ecológicos a simples “fa-lhas de mercado” ou de tentar resolver as ques-tões ambientais via mecanismos deste mesmomercado.
268 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Educação e Sustentabilidade
Desenvolvimento Local Sustentável(DLS)
Altvater (1995), após dar por impossível aecologização global do capitalismo, sugere apossibilidade dos atores regionais emicroeconômicos iniciarem práticas que se opo-nham à lógica do capitalismo macroeconômico.E Henzel Henderson criou o conhecido lema:“thinking globally and acting locally” – “pensarglobalmente e agir localmente”.
A aplicação dos conceitos de desenvolvimen-to sustentável no nível territorial local constituio “desenvolvimento local sustentável” (DLS),cuja especificidade consiste na ampliação deiniciativas inovadoras e mobilizadoras da cole-tividade, articulando as potencialidades locais.Entre nós, o recorte padrão - nem sempre ade-quado - é o território do município. Os gover-nos do Acre e Amapá anunciam a aplicação doDLS no âmbito estadual, conforme as publica-ções Amapá, um norte para o Brasil e Uma sus-tentável revolução na floresta (AMAPÁ, 2000;LEONELLI, 2000).
Em sua experiência de DLS em Canudos10,a UNEB estabeleceu como metas: (a) partici-pação social e organização comunitária, comelevação quantitativa e qualitativa do nível departicipação da população local, com garantiasde continuidade; (b) descentralização progres-siva do processo decisório - envolvimento cons-ciente dos cidadãos nas decisões de interesse co-munitário, antes concentradas no poder públicolocal; e (c) desenvolvimento institucional –empowerment das organizações comunitárias,com apoio do governo municipal. É claro queeste projeto afronta a tradição de centralizaçãodas decisões nos prefeitos e suas forças de sus-tentação, mas sem tais mudanças não pode ha-ver DLS (SANTOS & HAMILTON, 2000).
3. ESCOLA E EDUCAÇÃO - na gê-nese e na saída da crise
(...) enfim, nós dispomos de princípios de es-perança na desesperança. (Morin & Kern, “Ter-ra-Pátria”).
Abordaremos agora o papel da escola e daeducação na gênese da crise, bem como nastentativas de sua superação, malgrado o apa-rente paradoxo de se pretender buscar na (su-posta) “causa” do problema os indicativos dasua solução. Mas, como agente privilegiado desocialização e fator relevante de consolidaçãoda sociedade e de suas práticas, a educação “de-veria ser capaz de reorientar as premissas doagir humano educando os cidadãos” (GRÜN,2002, p.19).
Educação é um conjunto de práticas que en-volve educadores e educandos, do qual resulta– ou deveria resultar – a formação do indivíduo‘educado’, isto é, portador de um repertório desaberes, de habilidades e de valores, e (supos-to) conscientemente mobilizado para um certorol de práticas. A educação é o processo de trans-missão dos conteúdos educacionais e pode serformal e não-formal. A parcela não-formal rea-liza-se fora do circuito do sistema escolar e, podeprovir dos Sistemas – Estado, empresas - ou doMundo da Vida11 - família, igreja, sindicatos,movimentos sociais e outros agentes. Pode to-mar a forma de campanhas institucionais queutilizam meios de comunicação de massa, e ou-tros, para incutir saberes, hábitos ou valores nopúblico. A “educação do povo” busca valori-zar, difundir e manter ativas as crenças cívicase as tradições, visando consolidar uma “culturanacional”. O presente artigo não se ocupará daeducação não-formal, mas a reconhece comoindispensável em qualquer tentativa que viseinstaurar nos corações e mentes os novos hábi-tos e valores requeridos por uma “consciênciaecológica” (GUIMARÃES, 2001; SEGURA,2001).
A educação formal é ministrada pela escola(ou sistema nacional escolar), que é o locus e ainstituição provedora desta forma de educação.
10 O plano de DLS de Canudos foi elaborado pela UNEB- Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino, junto com o Centrode Estudos Euclides da Cunha , CEEC – e pela Prefeitu-ra Municipal de Canudos, em 1997.11 Estamos usando Sistemas e Mundo da Vida no sentidoharbermasiano.
269Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Edvalter Souza Santos
A escola inclui a organização burocrática, asnormas e legislação vigentes, os recursos mate-riais, os corpus funcionais – com sua hierar-quia –, o currículo oficial. No Brasil, a educa-ção formal compõe-se dos níveis fundamental,médio e superior, ao que se somam a pesquisa ea extensão e a pós-graduação. A formação deprofessores constitui um momento especial nestesistema e deveria receber tratamento especial,já que é deles que se espera a formação de cida-dãos e de outros profissionais.
Razão, ciência e educação na gêneseda crise
Numerosos discursos atribuem a crise eco-lógica ao fato de “nossa civilização” ter se de-senvolvido segundo uma concepção de “sepa-ração entre homem e natureza”, segundo a qualaquele se faz sujeito e fez desta objeto. Separa-ção freqüentemente debitada à “ciência”, à “ra-zão” ou à “modernidade”, também “culpadas”pelas demais crises e outros males da atualida-de.
Grün (2002) destaca quatro tendências en-tre as causas da crise ecológica: 1) crescimentopopulacional exponencial; 2) depleção da basede recursos naturais; 3) sistemas produtivos queutilizam tecnologias poluentes e de baixa efici-ência energética; e 4) sistema de valores quepropiciam a expansão ilimitada do consumomaterial. Para numerosos autores12, e por dife-rentes abordagens, nossa civilização é insusten-tável se mantidos os nossos atuais sistemas devalores; e os seres humanos são a causa mesmada crise ecológica.
Detecta-se um nexo causal entre a crise eco-lógica e a ética antropocêntrica, a qual instituiuo Homem como centro de todas as coisas, su-bordinando tudo o mais unicamente a ele e aseus interesses. Esta ética é muito antiga nacultura ocidental e tem raízes judaico-cristãs13.Nesta ética, o Homem se vê como senhor edominador, separado da natureza – afinal, nãoposso dominar algo do qual sou parte. Oparadigma epistemológico que opõe sujeito eobjeto no estudo da natureza exige que o sujeitose isole, como condição para que possa obser-
var o objeto e submetê-lo à experimentação.Separação, dualismo e isolamento estão na raizda filosofia e da ciência legadas por Galileu,Bacon, Descartes e Newton (GRÜN, 2002).
O Humanismo renascentista desafiou a reli-gião e iniciou o processo de laicização do mun-do – na arte, na política, na filosofia, na ciên-cia. Valorizou o indivíduo e a liberdade. Gestoua Reforma e derruiu o poder da Igreja e a auto-ridade do Papa. Deste caldo cultural vai surgin-do, aos poucos, o Estado-nação e uma nova clas-se social, a burguesia.
O Homem é considerado capaz de transfor-mar o curso dos acontecimentos. Para e por in-tervir no mundo e no curso dos eventos, modifi-ca a noção de tempo e de espaço. O homemrenascentista transforma o espaço (ou o concei-to de espaço), ao introduzir a perspectiva que,para Da Vinci, “não é mais que um conheci-mento perfeito da função do olho”. O espaçoaristotélico, qualitativo (o “em cima” é diferen-te do “em baixo”) é tornado quantitativo, alturae largura são agora relações numéricas. Nasartes, o mundo passa a ser construído a partirde um ponto de vista privilegiado e único, o doHomem. Quanto ao tempo, que antes “perten-cia a Deus”, ou era o tempo da Natureza, vaiagora ser contabilizado, mercantilizado, paraque o comerciante possa vender a prazo e co-brar juros. Deflagrado o processo dequantificação do mundo, tempo, negócios e na-tureza passam a andar juntos. “Tempo é dinhei-ro”. Passa a se formar um sistema complexo deinter-relações entre mercado, natureza e lógicatemporal antropocêntrica. (GRÜN, 2002).
A idéia aristotélica de natureza era de algoanimado e vivo. A cultura européia vai propor a
12 Grün apoia-se em Milbrath (1984); Touraine (1987);Hays (1987); McCormick (1989); Paehlke (1989); Nash(1989); Caldwell (1990); Brown et al. (1990); e Young(1990). Optamos por omitir as referências completas.13 “Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e se-melhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, asaves do céu (...) e todos os répteis que rastejam sobre aterra” (Gênesis 1:26). A frase é do primeiro livro do Ve-lho Testamento da Bíblia, repositório da cultura hebraica.Pelo menos tão antiga seria a ética antropocêntrica.
270 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Educação e Sustentabilidade
idéia de uma natureza sem vida e mecânica. Anatureza de cores, tamanhos, sons, cheiros etoques é substituída por um mundo “sem quali-dades”, sem lugar para a sensibilidade. Surge ametáfora da natureza como um relógio, ummecanismo automático, criado por Deus. Kepler(1571-1630) estabeleceu como uma das suasmetas mostrar que a máquina celestial está li-gada não a um organismo mas a um relógio.Tratou-se, também, de um gesto político, parapermitir à ciência estudar o mundo, o“conhecível”, sem ofensa a Deus e à Igreja.(GRÜN, 2002, p. 28)
Galileu (1564-1642) abandona a físicaaristotélica e dá início à mudança paradigmáticado organicismo para o mecanicismo. Postula arestrição do estudo científico às propriedadesessenciais, ou “primárias”, dos corpos materi-ais – formas, quantidade e movimento – comabandono do estudo das propriedades “secun-dárias e terciárias”, da sensibilidade estética, dosvalores e da ética. As propriedades primáriasexistem por si mesmas, independem da cogniçãohumana, diz ele. Matematiza a descrição danatureza, privilegiando a quantificação. Ao cri-ar o telescópio, amplia a visão do objeto, masreduz a “visão” do contexto. Ao se tornar um“observador científico”, Galileu se coloca “dolado de fora” da natureza. Coetâneo de Galileu,Francis Bacon (1561-1626) desenvolveu a ló-gica indutiva e impulsionou o empirismo. Comofilósofo e pensador utópico, defendeu um papelativo para a ciência, na formação da cultura eno “progresso” humano. O Homem deveria sersenhor de seu destino e de todas as coisas domundo. Foi, assim, o defensor de umantropocentrismo radical na ciência14.
Mas, tendo rompido com as certezas do pas-sado e com as verdades teológicas perenes, opensamento europeu encontra-se perdido e frag-mentado. A necessidade de unidade vai ser pre-enchida por Descartes (1596-1650). Começan-
do pela matemática – “a matemática universalestende-se a tudo o que comporta a ordem e amedida” – Descartes busca a unidade do mun-do (do conhecimento do mundo) a partir da luznatural da razão. A razão é una, indivisível,autônoma - é o sujeito. A natureza é o objeto,subordinada, divisível, externa à razão e exter-na ao Homem. O procedimento metodológicona ciência moderna mantém este corte, da sepa-ração sujeito-objeto. Esta divisão penetrou pro-fundamente no espírito humano, segundoHeisenberg (1962). O cartesianismo e o cristia-nismo, juntos, lançaram as bases da éticaantropocêntrica – homem separado e dominadorda natureza (GRÜN, 2002).
Newton (1642-1727) aporta, em seu tempo,uma visão de mundo mecanicista e explicativo-causal. A possibilidade de uma descrição mate-mática da natureza encanta a Europa. O pensa-mento newtoniano domina sua época e se tornaa única maneira de fazer ciência. Kant identifi-cou o objeto científico única e exclusivamentecom a física newtoniana, bloqueando a possibi-lidade de surgimento e progresso de qualqueroutro modo de pensar nos meios científicos daEuropa. O pensamento não-mecanicista deSchelling foi um dos expurgados.
A ética antropocêntrica penetra fundo noâmbito educacional. Petrus Ramus (1515-1572)postulou a substituição da lógica aristotélica poroutra, “mais realista” – implicando apoio aoempiricismo. Johann Amos Comenius (1592-1670) adotou o empirismo de Bacon e trouxepara o âmbito da educação o projeto de Baconna ciência. “Pai” das metodologias chamadashoje de “ativas”, Comenius influenciou Dewey,Montessori, Decroly, Ferrière (Manacorda,1989). A Royal Society, fundada em 1660 “parapromover a instrução experimental físico-ma-temática”, adotou princípios semelhantes aos deComenius. O currículo clássico cede lugar a umcurrículo “realista”, baconiano, com presençadas “ciências”. A educação obrigatória tem iní-cio no Sec. XIX, como movimento das classesdirigentes – por necessidades do processo deindustrialização – para garantir a ordem social,levar o povo a assimilar as instituições, separar
14 Mais uma vez optamos por poupar o leitor das referên-cias completas de Grün, que desta vez incluemOelschlaeger (1993); P. Rossi (1966); A. Koyré (1982);Rodis-Lewis (1977); Flickinger (1994).
271Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Edvalter Souza Santos
a Igreja do Estado. O liberalismo valorizou aautonomia da razão e a liberdade individual. Anoção de que o indivíduo era fundamental paraa organização social parecia proporcionar amesma resistência à anarquia que podiam dar onacionalismo e a obediência a Deus(LUNDGREN, 1992).
Em 1809, Herbart sucede Kant na cátedrade filosofia em Königsberg. Herbart estabele-ceu a primeira teoria compreensiva dos proble-mas e fenômenos educativos. Sua obra conver-te-se na base científica da educação. E Herbarté um mecanicista-newtoniano (Idem).
Com o passar do tempo, a ciênciaprofissionaliza-se e as universidades funcionamcomo difusoras do pensamento newtoniano. Oscurrículos bifurcam-se mais tarde em “acadê-micos” e “profissionalizantes”. Uns e outros sãoobjetificantes da natureza, pelo utilitarismo des-tes ou pela centralidade que aqueles dão à auto-nomia do indivíduo e à filosofia da consciência(LUNDGREN, 1992; SILVA, 1994). A auto-nomia da razão é um dos elementos centrais doantropocentrismo. A autonomia do sujeitopensante, livre dos valores da cultura e da tra-dição, e sua independência do meio ambienteconstituem a própria base da educação. O cur-rículo tradicional do método científico não men-ciona a natureza. O método não repousa emnenhum lugar, é como se operasse fora de umcontexto cultural-ambiental. O antropo-centrismo está presente nos livros-texto escola-res e, de outras maneiras, ainda impregna o es-pírito dos educandos, com idéias como “raízese caules úteis ao Homem”; “animais nocivos”;“águas necessárias à população”, etc. (GRÜN,2002).
Questões de linguagem contribuem para di-ficultar a contribuição da educação na supera-ção da crise. Grün (2002) cita um protesto dofilósofo americano H. Rolston III contra o usode possessivos em documentos sobre meio am-biente, como “nossas reservas naturais”, e ou-tros. A natureza não deveria ser vista como “nos-sa” por uma comunidade restrita. O “eu” é qua-se sempre visto como usuário de tecnologias, asquais são “naturais”; os “recursos naturais” são
os insumos destas tecnologias; e assim pordiante.
Reconhecer como os padrões culturais docartesianismo influenciam no ensino e como eles,de certa forma, determinam nossos horizontes,é tarefa imediata e inadiável15. Bem assim, re-conhecer as “áreas de silêncio” do currículo: de-vemos preocupar-nos não só com o que o currí-culo contém – para fins de correção ou expurgo–, mas também com o que ele deixou de – masdeveria – conter, para inclusão. Como exem-plo, a presentificação do tempo removeu docurrículo a tradição, assim como a inclusão do“eu” autônomo removeu a natureza. Por outrolado, a linguagem disruptiva, explicativa ereducionista do ensino das ciências deveria sertornada integrativa e compreensiva, e portado-ra de uma abordagem complexa.
Algumas propostas de solução paraa crise
Numa época em que se fala em crise de va-lores, crise das ideologias, crise da (ou de) éti-ca, e outras, a crise ecológica aparece como umasuper-categoria que recobre todas as demais(Orr, 1992). A idéia de “crise dos paradigmas”encontra legitimidade político-científica e acei-tação na comunidade educacional (Orr, op. cit.).Trata-se de transformar, revolucionar e mudar“o mundo”, o que implica esquecer, abandonare deixar para trás o paradigma cartesiano. Mascomo? Diversos autores e correntesambientalistas apresentam soluções elaboradas,algumas racionais, outras ingênuas, esdrúxulasou fantasiosas. Não sendo aqui o lugar deexaminá-las a fundo, vamos apenas tecer ligei-ras referências a respeito de algumas propos-tas.
O holismo é uma proposta de substituição
15 O currículo norte-americano atual fundamenta-se nopragmatismo, individualismo e racionalismo - estes prin-cípios são, todos, objetificadores da natureza. Opragmatismo fundamenta-se em éticas utilitárias que con-sideram a natureza apenas quanto ao seu valor de uso(Pierce, William James, Dewey). A educação consiste emindivíduos e sua aprendizagem – é como se não houvessenatureza.
272 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Educação e Sustentabilidade
da visão fragmentária do mundo por outra, in-tegrada e integradora. Data do século XVIII,da obra de Gilbert White, The natural historyof Selborne e trabalha com o conceito de Mãe-Natureza, ou de natureza feminina. O arcaísmoprega a retomada de antigas tradições, a “voltaà natureza”, o corte drástico dos hábitosconsumistas. As propostas são apresentadasdentro de parâmetros pretensamenteracionalistas e científicos. O Holismo e o Arca-ísmo encontram apoio em Fritjof Capra (doElmwood Institute), Paul Shepard (autor dePost-Historic Primitivism, 1992), Van Matre (doEarth Education). Na extrema direita destesmovimentos, instala-se o ecofascismo e a“radicalidade verde”, que aparecem como no-vas teologias naturalizantes. Muitos desses pen-sadores não se dão conta de que, no seu presu-mido combate ao mecanicismo newtoniano-cartesiano, estão usando o mesmo tipo de lógi-ca explicativa, separadora e fragmentária(GRÜN, 2002).
O ecoterrorismo tenta difundir um medo pla-netário na suposição de que, assustadas, as pes-soas reagirão buscando corrigir os erros doparadigma. A proposta embute o risco dabanalização dos problemas e da indução de umsobrevivencialismo narcísico (individualista) ede um pessimismo cínico ante a inevitabilidadedo desastre. Já a solução da crise por meio dacolonização espacial nutre-se de fantasias futu-ristas de conquista tecnológica do espaço epotencializa os sentimentos separatistas e dehegemonia antropomórfica sobre o Universo(GRÜN, 2002).
Ulrich Beck (1994) tentou contribuir,conceituando uma “sociedade de risco”, susten-tada num tripé de esgotamento dos recursosnaturais em função do modelo industrial; inse-gurança constante; e individualização, em vir-tude do desencanto com o coletivo. As produ-ções de riqueza e de riscos são desigualmentedistribuídas. Os riscos atingem a todos, masmais severamente aos que têm menos condiçõesde identificá-los, por possuírem menos informa-ção e terem mais dificuldades para acessar ca-nais de participação nos processos decisórios.
A modernização reflexiva preconizada por Beckimplica consciência autocrítica dos riscos e pos-sibilita a mudança. A mudança ou transforma-ção social implica mudanças institucionais.Importa identificar os atores sociais responsá-veis pela tomada de decisão. A vantagem doconceito da sociedade de risco sobre o da soci-edade industrial é a tomada de consciência.Contradições existem; entre estas, o risco cal-culado. O “eu” atomizado promovido pela so-ciedade de massas deve ser substituído pelo“nós” da sociedade de risco.
Serres (1990) participa do debate negando,de início, um passado de convivência harmôni-ca entre homem e natureza. Serres discute oprocesso de “desligamento” entre o homemmoderno e o mundo natural, na mesma linhaacima exposta: a ciência moderna concebeu umanatureza sem sujeito, domesticada e subordina-da aos desígnios da humanidade, que não seconsiderava parte do mundo natural. O proces-so de racionalização da ciência e da produçãoeconômica mercantilizou as relações sociais emudou a concepção de tempo, aos poucos re-duzido ao tempo presente, ao curto prazo, “es-quecendo” o tempo dos processos naturais, olongo prazo. Para Serres, o “contrato social”deixou de fora a natureza. Daí propor ele um“contrato natural”, que viria conferir direito ànatureza.
O problema ambiental pode ser visto comoum desequilíbrio produzido pelo “estilo de vida”da sociedade moderna, que decorre do tipo dedesenvolvimento econômico e do tipo deracionalidade envolvida, cartesiana,particularista. Daí a necessidade de outro estilode vida, outra racionalidade – holística – e ou-tra ética – de respeito às diversidades biológicae cultural. A ação educativa justifica-se, então,pela necessidade de formar um novo homem,capaz de viver em harmonia com a natureza.Neste plano, a hermenêutica filosófica deGadamer apresenta-se como instrumento depensamento capaz de situar o ser humano nomundo, na história e na linguagem, e não comoum sujeito senhor de si e separado dos objetos.Os seres humanos estão inexoravelmente inse-
273Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Edvalter Souza Santos
ridos no círculo hermenêutico, no horizonte for-necido pela história, pela cultura e pela lingua-gem. A tradição – mas não o tradicionalismo,enquanto obscurantismo e atraso – é recupera-da, como origem constitutiva do presente(GRÜN, 2002; SEGURA, 2001).
Educação e escola como fatores parasolução da crise
La clave de un desarrollo sostenible e indepen-diente es la educación, educación que llega has-ta todos los miembros de la sociedad, a travésde nuevas modalidades, nuevas tecnologías a finde ofrecer oportunidades de aprendizaje duran-te toda la vida para todos... Debemos estar dis-puestos, en todos los países, a remodelar la edu-cación de forma de promover actitudes y com-portamientos conducentes a una cultura de lasostenibilidad. (Federico Mayor, Director Ge-neral de la UNESCO. UNESCO, 1998, p. 2).
A saída da crise ecológica passa por trans-formações sociais capazes de mudar os hábitosde consumo e desperdício da população, a ten-dência para a ilimitada acumulação do modo deprodução capitalista e as estruturas de pensa-mento que suportam estes hábitos e tendências.A conquista destas transformações atravessadiversas instâncias. Aos instrumentos doambientalismo – como o licenciamento e plane-jamento ambiental, tecnologias de conservação,auditorias ambientais, estudo e relatório de im-pacto ambiental, legislação, e outras – devemsomar-se a educação e a escola, como impor-tantes mecanismos de socialização (e aqui, deve-se considerar tanto o currículo oficial como ocurrículo oculto, como mecanismos de instau-ração de crenças e de práticas). A “educaçãopara a mudança” impõe, contudo, como condi-ção prévia, uma mudança da educação.
Admite-se facilmente que o processoeducativo pode auxiliar na formação de atorescomprometidos com a sustentabilidadesocioambiental. Contudo, a escola reflete osconflitos existentes no plano das relações soci-ais e é um ponto de convergência de problemasa serem enfrentados: desigualdade econômica,exclusão social, preconceito, discriminação,
degradação, violência. Além disso, intervêm asidiossincrasias do corpo docente e as barreirasinstitucionais (direção autoritária, centralismo,escassez de recursos) (SEGURA, 2001).
A educação elitista forma os que mandam eos que obedecem . A perspectiva emancipatóriada educação vai além do acúmulo de informa-ções e visa a construção de uma sociedade sen-sibilizada e capacitada a romper os laços dedominação e degradação que envolvem as rela-ções humanas e as relações entre a sociedade ea natureza. Mudar a educação implicaretrabalhar o conhecimento, considerando a di-versidade de cenários e a possibilidade de dife-rentes interpretações daqueles. Implica umapostura participativa e a cidadania, para ajudara construir uma nova sociedade a médio e lon-go prazos (Segura, 2001). Encaixam-se nestasrecomendações a educação para a cidadania e aeducação ambiental, práticas estas que andamjuntas: não se pode praticar uma sem a outra,embora não se confundam. “Embora as discus-sões a respeito da questão ambiental e da edu-cação para a cidadania tenham dinâmicas pró-prias e trajetórias diferentes, elas guardam afi-nidades já que buscam melhorar a qualidade devida e desenvolver o potencial humano de con-vivência social” (SEGURA, 2001, p.19).
Educação para a cidadania
Fugindo igualmente da utopia e da educa-ção puramente instrumental, a educação para acidadania deve fazer convergir os conhecimen-tos e as práticas. Segura (2001, passim), ao dis-correr sobre participação16 , assente que cida-dania é “envolvimento individual na esfera pú-blica (visando) discutir seus interesses coleti-vamente (e) participar das decisões que lhe di-zem respeito”. Daí a necessidade de se“formar(em) sujeitos ativos”, pois “diferente dacidadania outorgada pelo Estado, a cidadaniaativa pressupõe a formação de sujeitos atuantes
16 Denise de S. B. Segura chama em seu apoio Reigota(1994), Benevides (1996), Jacobi (1996), Bobbio (1986),Sorrentino (1991) e Carvalho (1997). Para referênciascompletas, consultar Segura (2001).
274 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Educação e Sustentabilidade
a partir de um aprendizado de convivência”.Telles (1994) considera lento o processo de
formação para a cidadania e de enraizamentoda cidadania nas práticas sociais cotidianas,numa sociedade regida formalmente pelo con-ceito de igualdade, mas marcada por diferen-ças. É preciso superar a mera e formal concep-ção de direito e garantir a participação e forta-lecimento dos sujeitos nos espaços públicos delegitimação do conflito e de negociação dos in-teresses de diferentes grupos.
Ao discutir uma nova ética global quereoriente os rumos do desenvolvimento e daspráticas cotidianas, inaugura-se uma lógicaemancipatória - isto é, “processos de lutas emdireção ao aprofundamento da democracia emtodos os espaços e a desocultação das opres-sões e exclusões” (SANTOS, 1997, p. 258) -que visa articular ações nos campos político ecultural em torno do princípio dasustentabilidade, ampliando os laços de socia-bilidade e democratizando a vida pública.
Educação ambiental
A educação ambiental ganhou o status deassunto oficial na pauta dos organismos inter-nacionais, através da recomendação nº 96 daDeclaração de Estocolmo, de 1972. A este even-to, seguiram-se as conferências da UNESCO“The Belgrado Workshop on EnvironmentalEducation”, em 1975, na ex-Iugoslávia e a“Conferência Intergovernamental sobre Educa-ção Ambiental” em 1977, em Tibilisi, Geórgia,ex-URSS. A orientação da Conferência deTibilisi desenvolveu-se no sentido de se consi-derarem os aspectos sociais, econômicos, cul-turais, políticos, éticos e outros, quando fossemtratadas as questões ambientais.
Há uma disputa no Brasil entre as alternati-vas de transformar a educação ambiental emtema de uma ou mais disciplinas, uma discipli-na autônoma ou, ainda, um tema transversal.Em 1989, a Espanha elegeu oito temas trans-versais17 como o eixo organizador da educaçãopara a cidadania e das áreas curriculares. NoBrasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) definidos pelo MEC contemplam cincotemas transversais: Ética, Pluralidade Cultural,Saúde, Orientação sexual e Meio-ambiente. OsPCN incorporam os temas transversais nas dis-ciplinas convencionais, relacionando-as com arealidade. A introdução da EA no ensino funda-mental tem como base os PCN de Ciências eGeografia, além de pressões da sociedade civil(ONG’s) e dos compromissos com os organis-mos da ONU/UNESCO (SIMÕES, 1995).
A organização dos conteúdos em projetos,sob a perspectiva da transversalidade, favorecea abordagem interdisciplinar. Machado (1997)vê na capacidade de elaborar projetos pedagó-gicos a possibilidade de aliar a criação indivi-dual e a imersão no imaginário coletivo. O pro-jeto representa uma arquitetura de valores embusca da transformação da realidade e diferen-cia-se do plano de ação, que tem uma preocu-pação mais operatória e instrumental.
A EA, tal como proposta pela UNESCO, visaconstruir uma nova sociedade orientada por umaética baseada na solidariedade planetária e nasustentabilidade socioambiental. Deve ser ummeio para fazer da educação uma verdadeirafonte de motivação para a transformação soci-al, o que implica uma revisão de valores, de ati-tudes, e da concepção de conhecimento e daeducação. A EA deve exceder o estudo da eco-logia, para ser um instrumento de construçãoda cidadania, incorporar a luta pelos direitos davida em todos os espaços e propagar uma novaproposta de vida e de compreensão do mundo aqual enfatize os valores éticos, estéticos, demo-cráticos e humanistas, inclusive o respeito àsdiversidades natural e cultural. Ao propugnar aformação de sujeitos-cidadãos, e de agentes so-ciais, a EA deve recusar o papel da meratransmissora de conhecimentos (teoria) e ado-tar uma natureza eminentemente prática. A EAtem que transcender um caráter pragmático, de
17 Educação Moral e Cívica, Educação para a Paz, Edu-cação para a saúde, Educação ambiental, Educação paraa igual oportunidade entre sexos, Educação sexual, Edu-cação do consumidor e Educação para o trânsito.
275Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Edvalter Souza Santos
resolução de problemas – embora isto lhe dêidentidade - para sustentar um significado epara criar práticas sociais efetivamente demo-cráticas e solidárias (SEGURA, 2001;SIMÕES, 1995).
Portanto, a proposta da EA compatibilizaconhecimentos, valores e atitudes. Implica no-vas orientações da educação junto com novaspráticas pedagógicas, que articulem novas re-lações de produção do conhecimento com pro-cessos de circulação, transmissão e dissemina-ção do saber. Incorpora complexidade, diversi-dade e o princípio da incerteza (Leff, 1995, apudSegura, 2001), estratégia epistemológica parauma nova racionalidade. Para Najmanovich(1995) o sujeito complexo reúne objetividade esubjetividade, e é neste último campo que sedesenvolvem a liberdade, a ética e a criatividade.
Certamente, seria ingênuo esperar uma trans-formação social operada pela escola, sozinha,pela EA, sozinha. Por outro lado, sem motiva-ção não se opera a mudança (FREIRE & SHOR,1996). Afinal, a Escola é uma estruturadesgastada e pouco aberta às reflexões e dinâ-micas socio-ambientais. Porém, a EA não seesgota na Escola, na educação formal, pois todaa sociedade tem responsabilidade na lutaambiental, conclusão que lembra o imperativoda educação não- formal. Não basta, ingenua-mente, “ser amigo das árvores e dos animais”.
Mas porque uma “educação ambiental”?Existe uma “educação não-ambiental”? Grün(2002) recorre novamente a Rolston para suge-rir que, de agora em diante, a educação que nãofor ambiental não pode ser considerada educa-ção de modo algum. Para Orr (1992, p.90),“tudo que é ensinado nas escolas influencia omodo como os estudantes entendem as relaçõesentre a cultura e o meio ambiente”. Grün (2002)recomenda, ainda, ampliar a noção historicistade que os sujeitos são socialmente construídospara incluir a idéia de que os sujeitos e as co-munidades são biorregionalmente construídos,como forma de ligar história e território. Por-que parece não existir um conceito de naturezaexplícito na teoria educacional, a natureza é umconceito negativo nesta teoria. O “ambiente” élargamene ignorado na educação moderna, tudo
se passa como se educássemos e fôssemos edu-cados fora de um ambiente.
O debate tem atingido vários setores sociais– educacional, empresarial, governamental –mas a mudança permanece pequena apesar detodo o conhecimento acumulado acerca da po-luição, degradação ambiental, riscos de esgota-mento dos recursos naturais e desigualdade deacesso a estes recursos, entre outras questõesque caracterizam o desequilíbrio sócio-ambiental. Para seus críticos, a Educaçãoambiental no Brasil (hoje) apresenta-se comoum discurso altamente normativo de uma cul-tura branca e “limpa” que quer se impor a ou-tras práticas culturais. Existe um discursocomportamentalista entre os educadoresambientais (GRÜN, 2002).
Faz-se necessário rever o papel da escolacomo instituição cujo papel social é formar ci-dadãos. Mais especificamente, será necessárioconstruir uma rede de significados sobre as açõese as relações que os educadores estabelecem noseu dia-a-dia quando resolvem trabalhar comEA. EA é uma práxis em formação, relaciona-da a várias concepções do mundo e submetida adiversas orientações metodológicas. A EAemancipatória não nega os conflitos e contradi-ções existentes na sociedade – prepara os indi-víduos para viver com elas, num contexto departicipação (SEGURA, 2001).
O papel dos educadores é o de desenvolver oconhecimento e a capacidade de julgamentoconsciente dos indivíduos – os educandos – demodo que, pelo acesso a diferentes visões demundo, os educandos tenham uma formação queos capacite para uma escolha consciente.Benevides (1996) enfatiza a responsabilidade doeducador como mediador da aprendizagem dosvalores democráticos e facilitador na introdu-ção de práticas comprometidas (seja com ostatus quo ou com a transformação).
Possibilidades da EA na escola pú-blica
Denise S. B. Segura (2001) apresenta os re-sultados de uma pesquisa sobre EA, realizadaem 17 escolas da Zona Leste da cidade de São
276 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Educação e Sustentabilidade
Paulo, na qual podemos tomar conhecimento dasclasses de problemas que – em nível empírico –envolvem as tentativas de prática da EA na es-cola pública, no ensino fundamental. A autoraexpõe alguns aspectos fundamentais para sus-tentar uma prática capaz de criar vínculos entreos processos educativos e a realidade, questio-na a relação entre o discurso e a prática, isto é,a eficácia das ações que visam formar uma“consciência ambiental” e promover mudançasnas práticas cotidianas e ressalta a importânciado diálogo, da criticidade, da ética, da respon-sabilidade, do envolvimento, da cooperação, daintegração, da interdisciplinaridade e da auto-nomia, para a prática emancipatória.
A autora questiona, ainda: como transfor-mar princípios em um projeto educativo? Comopassar das idéias para uma prática coerente? Edefine três objetivos básicos de investigação: 1)diagnosticar como os professores se posicionampedagogicamente ante a necessidade de formarcidadãos conscientes da degradação sócio-ambiental e engajados na mudança deste qua-dro; 2) investigar o caráter transformador naspráticas dos professores em relação ao conhe-cimento, aos alunos, à comunidade escolar e àsociedade, levando-se em conta seu contextoespecífico de trabalho e 3) investigar o potenci-al de produção de conhecimentos relacionadosàs questões ambientais locais e de participação/intervenção nessa realidade.
A motivação para a mudança é essencial: “amotivação pessoal é o reservatório energéticode um projeto coletivo” (BOUTINET, apudSEGURA, 2001, p.309). Sentimento e sensibi-lidade são categorias condicionantes da ação.O sentimento é uma forma sutil de consciênciadesperta. Os indivíduos devem sentir-se partedo processo; por isso é necessário resgatar umsentido pessoal nas atividades que (os alunos)realizam. Para muitos alunos, a escola não re-presenta o “seu lugar” mas apenas uma obriga-ção, etapa necessária para um futuro melhor doqual eles não se percebem como construtores.O sentimento de pertencimento é o oposto daalienação.
Educação superior e sustentabilidade
Em seu documento de base para a Confe-rência Internacional sobre “Meio ambiente eSociedade: Educação e Sensibilização em ma-téria de Sustentabilidade” (Tessalônica, 1997),a UNESCO determinou alguns fatores impor-tantes e inter-relacionados que contribuem paraas crescentes preocupações pela“sustentabilidade” entre os povos do mundo eque vão desde o rápido crescimento e a distri-buição cambiante da população mundial, a per-sistência da pobreza generalizada e da degrada-ção ambiental, até a própria noção de “desen-volvimento”.
Enfim, que tem a ver o desenvolvimento sus-tentável com a educação superior, em particu-lar com as universidades? a resposta de DavidL. Johnston, o então Diretor e Vice-Chancelerda McGill University do Canadá e membro doConselho de Administração da AIU na NonaMesa Redonda da AIU (Kyoto, 19 de novem-bro de 1993), foi sumamente clara:
As universidades estão singularmente equipa-das para mostrar o caminho. Por sua missãoespecial de ensinar e formar os dirigentes deamanhã; por sua rica e extensa experiência narealização de investigações transdisciplinares,superando as fronteiras tradicionais entre de-partamentos baseados em disciplinas, e por suaíndole fundamental de motores do conhecimen-to, as universidades tem um papel importante adesempenhar no mundo ... um papel indispen-sável. (UNESCO, 1998, p.6).
Até que níveis deveremos elevar-nos parafazer frente aos desafios e compartilhar as res-ponsabilidades comuns de maneira justa? Osdirigentes universitários presentes chegaram àconclusão de que as universidades têm uma con-tribuição singular a dar, implícita em sua mis-são e totalmente conforme com ela, de fomentaro saber mediante a investigação e o ensino.
CONCLUSÃO
Não parecem estar disponíveis, ainda, res-postas adequadas para a crise ecológica, a edu-cação ambiental ou o desenvolvimento susten-
277Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Edvalter Souza Santos
tável. Tampouco o pretendeu o presente artigo,que apenas buscou apresentar alguns traços re-levantes destas questões, bem como indicar al-gumas das correntes de pensamento que se pro-põe dar-lhes conteúdo e apontar caminhos.
O autor se opõe ao inculpamento da ciência,ou da razão, pela origem dos problemas trata-dos. Cumpre lembrar que estamos tratando deuma específica formação histórico-cultural –uma certa “civilização”, a qual (hoje) se defineprincipalmente pelo modo capitalista de produ-ção – com seu particular e exarcebado culto domercado e sua lógica de acumulação não limi-tada; por uma retórica política democrático-re-presentativa; uma religiosidade predominante-mente cristã; uma filosofia “cartesiana” e ciên-cia “newtoniana”. Esta formação é filha diretada civilização cristã ocidental que, após desen-volver-se numa certa parte da Europa, expor-tou suas formas de agir e de pensar pelo restodo mundo, muito especialmente o continenteamericano (que ingleses e ibéricos – e em graumenor os franceses - povoaram com seus filhos,enquanto exterminavam os autóctones).
Apoiada nas formas filosóficas, científicase político-militares que foi engendrando com otempo, esta civilização conheceu grande desen-volvimento material e construiu artefatos pode-rosos. Suas classes dominantes concentraram opoder em torno dos senhores do comércio e daindústria e partiram para as pilhagens continen-tais das guerras coloniais e imperialistas. É naganância sanguinária desses estratos dominan-tes que devemos localizar a origem do rosáriode males que a contemporaneidade conhece. Nãose trata de culpa ou incapacidade da “razão” ouda “ciência” em cumprir os sonhos dohumanismo mas, sim, da apropriação das con-quistas dos cientistas e dos filósofos por extra-tos societários ávidos e egoístas, que continu-am ainda hoje ditando as regras do cenário po-lítico-institucional mundial – a “direita”, os “fal-cões” e a “banca” do hoje denominado G718.Razão e ciência não são sujeitos, nem atores,nem agentes. Atores e agentes são sempre ho-mens, indivíduos e seus grupos, que usam a ra-zão e a ciência para beneficiar ou para prejudi-
car – intencionalmente ou não - seus semelhan-tes; e para preservar ou deteriorar o “habitat”comum.
Não parece possível (ou necessário) cons-truir uma “outra razão” ou “outra ciência”.Possível, e necessário, é construir outra ética eoutra política, que usem a razão e a ciência deforma menos destrutiva. Substituir o paradigmado “homem separado da natureza” pela primei-ra lei de Commoner, ou equivalente:conscientizarmo-nos de que não “estamos” noPlaneta e sim que “somos parte” dele. Estamudança cognitiva e de percepção não pareceimpossível de ser alcançada, não parece desper-tar demasiada oposição. Não reside aí, porém,o núcleo do problema e, sim, (sem a pretensãode exaurir o assunto) em como será possívelmudar:
(a) os hábitos de consumo e desperdício daspopulações, principalmente as dos países ricos;(b) os hábitos de acumulação capitalista da altaburguesia e dos que aspiram vir a integrá-la;(c) as estruturas de pensamento que suportamestes hábitos.
Por fim, é necessário lembrar que os hábitose as estruturas de pensamento que ora estamosdesejando modificar foram plasmados ao longode séculos, com forte ajuda dos mecanismos desocialização, entre eles a escola e a educação.O desafio atual, neste campo, é fazer com que aeducação, suposta um dos fatores genéticos dacrise, se converta em vetor da sua solução –muito especialmente através da educaçãoambiental, quer seja esta tornada realidadecomo um elemento do currículo, quer como novae revolucionária reforma deste.
18 G7, “clube” dos 7 países mais ricos do mundo, EUA,Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Itália e Canadá.
278 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Educação e Sustentabilidade
REFERÊNCIAS
ACSELRAD, Henri. Sustentabilidade e desenvolvimento: modelos, processos e relações. Cadernos deDebate, Rio de Janeiro, n.4, p.13-33, 1999.
ACSELRAD, Henri e LEROY, Jean-Pierre. Novas premissas da sustentabilidade democrática. Cadernosde Debate, Rio de Janeiro, n.1, p.13-47, 1999.
ACSELRAD, Henri. Discursos da sustentabilidade urbana. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regi-onais, Rio de Janeiro, n. 1, p. 79-89, p.79-89, maio 1999a.
ACSELRAD, Henri. Sustentabilidade. Rio de Janeiro: UFRJ: IPPUR, 2000. (mimeografado).
ALMEIDA NETO, Luiz Paulo de. A (in)sustentabilidade do desenvolvimento local: o caso de Canudos.Revista CANUDOS, Salvador, v. 4, n. 1-2, p.7-29, dez. 2000.
ALTVATER, Elmar. O preço da riqueza. São Paulo: UNESP, 1995.
AMAPÁ. Amapá, um norte para o Brasil. São Paulo: Cortez, 2000.
BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desenvolvimento mundial. Washington: Banco Mundial, 1997
BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desenvolvimento mundial (projeções para o ano de 2003). Wa-shington: Banco Mundial, 2002.
BECK, Ulrich. Risk society. Londres: Sage, 1994.
BENEVIDES, Maria Vitória M. A cidadania ativa. São Paulo: Ática, 1991.
BRUNDTLAND, Gro Harlem. Nosso Futuro Comum. Rio de Janeiro: FGV, 1991.
COMMONER, Barry. The Closing Circle. New York: Knopf, 1971.
DALBY, Simon. Metáforas ecológicas de segurança: política mundial na biosfera. Ottawa: CarletonUniversity of Ontario, 1997
DESCARTES, René. Discurso sobre o método. São Paulo: Amos, 1968.
DOCUMENTO 1 Disponível em <http://www.riomaisdez.gov.br/documentos/1752-declaracadorio.doc>Acesso em 20 jan. 2003.
DOCUMENTO 2 Disponível em < “http://www.2.uerj.br/~ambiente/emrevista/documentos/estocolmo.htm>Acesso em 20 jan. 2003.
FIORI, José Luís. 2001: o Brasil no escuro. In: FIORI, José Luís. 60 Lições dos Anos 90: uma década deneoliberalismo. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 225-228.
FREIRE, Paulo e SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
GRÜN, Mário. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. Campinas: Papirus, 2002.
HEISENBERG, W. Physics and Philosophy. New York: Harper and Row, 1962.
GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. Campinas: Papirus, 1995.
LEONELLI, Domingos. Uma sustentável revolução na floresta. São Paulo:Viramundo, 2000.
LUNDGREN, U. Teorias del curriculum y escolarización. Morata: Madrid, 1992.
MACHADO, Nilson. Cidadania e Educação. São Paulo: Escrituras, 1997.
279Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 259-279, jul./dez. 2002
Edvalter Souza Santos
MANACORDA, M. A. História da Educação. São Paulo: Cortez, 1989.
NAJMANOVICH, Denise. El lenguaje de los vínculos: de la independencia absoluta a la autonomiarelativa. In: DABAS, E. et al. Redes, el lenguaje de los vínculos. Buenos Aires: Paidós, 1995. p. 33-76.
MARX, K.; ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Global, 2000.
ORR, David. Ecological literacy and the transition to a postmodern world. Albany: State University ofNew York, 1992.
OUTHWAITE, William & BOTTOMORE, Tom (Org.). Dicionário do pensamento social do século XX.Rio de Janeiro: Zahar, 1996.
SACHS, Wolfgang. Anatomia política del ‘Desarrollo Sustenible’. Espacios. Costa Rica, v. 7, p. 96-116,jan./jun. 1996.
SANTOS, Boaventura S. Pela mão de Alice. São Paulo: Cortez, 1997.
SANTOS, Edvalter S. e HAMILTON, Susana. “Desenvolvimento local sustentável no sertão: desafios àação social em terras de latifúndio”. Revista CANUDOS, Salvador, v.5, p.119-148, maio 2001.
SILVA, T. T. da. O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Porto Alegre: Vozes, 1994.
SEGURA, Denise de Souza Baena. Educação ambiental na escola pública: da curiosidade ingênua àconsciência crítica. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2001
SERRES, Michel. O Contrato Natural. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.
SILVA, T. T. da. O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Porto Alegre: Vozes, 1994.
SIMÕES, Eliane. Uma educação ambiental possível: a natureza do programa da Ilha. São Paulo, 1995.Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
TELLES, Vera. Sociedade civil e a construção de espaços públicos. In: DAGNINO, E. (org.). Anos 90:política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 91-102
UNESCO. La Educación Superior y el Desarrollo Humano Sostenible. Paris: UNESCO, 1998.
VAN PARIJS, Philippe. O que é uma sociedade justa? São Paulo: Ática, 1997.
Recebido em 01.11.02Aprovado em 15.01.03
281Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Luiz Antonio Ferraro Júnior
INDICADORES DE PROCESSOS EM EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE:
enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação
deste aos conceitos Cultura, Tecnologia e Ambiente
Luiz Antonio Ferraro Júnior *
RESUMO
A polissemia do conceito de sustentabilidade atravanca a construção de proces-sos educacionais gerados, muitas vezes, pelas boas intenções que o termo susci-ta. Sustentabilidade é o resultado natural das sociedades autônomas, que aoescolherem e construírem seu destino como comunidade, o fazem na produçãoindissociável de sua cultura, suas tecnologias e seu ambiente, entendidos comoaspectos dinâmicos de uma realidade, frutos de um processo histórico e dialético.A participação dos indivíduos neste processo nasce e se qualifica na subjetivi-dade e no contexto de sua comunidade, é nesta participação e em sua qualifica-ção que incide a educação. Os indicadores de qualidade de tais processos, por-tanto, referem-se à sua habilidade em possibilitar a articulação (nas percepçõese nas ações) dos tempos históricos, sociais e biológicos, assim como em provo-car uma reinvenção territorializada das relações humanas, sociais e com o am-biente.
Palavras-chave: Sustentabilidade – Ambiente – Tecnologia – Cultura – Socie-dade – Comunidade – Educação Ambiental – Participação
ABSTRACT
INDICATORS OF PROCESSES IN EDUCATION FORSUSTAINABILITY: facing the polysemy of the concept by linking this tothe Culture, Technology and Environment concepts
The polysemy of the sustainability concept lumbers the construction of educa-tional processes generated, many times, by the good intentions that the themegenerates. Sustainability is the natural result of the autonomous societies that,when choosing and constituting their destiny as community, do so in the insepa-rable production of their culture, technologies and environment, understood asdynamic aspects of a reality, fruit of a historical and dialectic process. The
*Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, Departamento de Tecnologia;Coordenador do Curso de Especialização em “Educação Ambiental para a Sustentabilidade”. Endereçopara correspondência: Rua Boa Vista do Paraíso, 18, Res. Delta Ville Santa Mônica II, 44040-365. Feirade Santana (BA) E-mail: [email protected]
282 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade: enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação...
participation of the individuals in this process is born and qualifies itself in thesubjectivity and context of their community. It is in this participation and in itsqualification that education incides. The indicators of quality of such processes,therefore, refer to their ability in making possible the articulation (in the per-ceptions and actions) of the historical, social and biological times, as well as inprovoking a territorialized reinvention of the human, social and with the envi-ronment relations.
Key words: Sustainability – Environment – Technology – Culture – Society –Community – Environmental Education – Participation
INTRODUÇÃO
Se quer ser universal, fale sobre sua aldeia.(Tolstoi)
Perder-se nos interstícios dos discursos, nosmeandros dos conceitos e nas panacéiasmetodológicas... Tem sido muitas vezes este odestino da adesão, mesmo quando bem intenci-onada, de muitos profissionais às propostas deeducação ambiental e educação para asustentabilidade. Por que? São inúmeros os pe-rigos para quem tem paixão (capacidade de serafetado pelo outro) nesta vida, talvez mais po-derosa seja a compaixão (capacidade de ser afe-tado pela paixão do outro), coloca-nos BaderSawaia (2001). Há de se tentar compreender asintencionalidades das propostas, sua construçãohistórica, a ontologia destes “sujeitos ecológi-cos” (CARVALHO, 2001).1
Neste artigo pretendo contribuir, sem a pre-tensão de ser conclusivo, para a resposta a estaquestão e assim apoiar as diversas intervençõespedagógicas envolvendo a resolução de proble-
mas sócio-ambientais; para isso há que se en-frentar os riscos da polissemia inerente aos con-ceitos educação e sustentabilidade, nas suas di-mensões epistemológicas e metodológicas.
Pretende-se, assim, promover o entendimentode sustentabilidade como conceito eminentemen-te relacional, vinculado à tríade indissociávelcomposta pelos conceitos cultura-tecnologia-ambiente e assim fomentar a busca por princí-pios metodológicos e estratégias educacionaisque signifiquem a sustentabilidade no resgateda produção local desta associação (cultura-tecnologia-ambiente). Entendo que este textolança algumas hipóteses teóricas sobre as quaisse sustenta e as quais deseja corroborar. Estashipóteses ou proposições podem ser resumidasdo seguinte modo:1. A sustentabilidade só existe quando cultu-
ra, tecnologia e ambiente são produzidosmutuamente;
2. Esta associação entre cultura, tecnologia eambiente deve ocorrer, necessariamente,tanto nos espaços locais, quanto regionaise globais e, ainda, em uma associação quenão deveria ser constituída tão somente apartir de uma racionalidade dita instrumen-tal, técnica e/ou econômica;
3. A principal função da educação para asustentabilidade é apoiar o desenvolvimen-to de espaços (de locução/reflexão/negoci-ação/ação) e capacitar indivíduos e coleti-vos para a produção autônoma de cultura etecnologias adequadas às necessidades, ex-pectativas e peculiaridades ambientais delocais e regiões, para que eles possam pen-sar (e sentir) e agir local, regional e global-
1 Quando busco em mim mesmo os motivos da minhaadesão à temática e aos processos de educação para asustentabilidade encontro racionalidade ecológica, pai-xões e compaixões, razões que minha própria razão nãoexplica, um impulso “de dentro”. Nesta arqueologia do“eu” vou re-encontrando os prazeres dos encontros hu-manos, tantos, tão bons, dos encontros com espaços me-nos entropizados/antropizados, encontros com a arte, apoesia. É muito disso que acabo sistematizando aqui. Seráque as perspectivas e orientações que esta arqueologiapessoal me despertam podem servir a outros? Acho quedesta esperança me armei para escrever o que pode nãoser classificado como “científico” ou “acadêmico”.
283Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Luiz Antonio Ferraro Júnior
mente, orientados por uma solidariedadesincrônica e diacrônica.
Assim, neste artigo, o leitor encontrará umquadro do histórico e do estado da arte das dis-cussões que inter-relacionam educação, ambi-ente, cultura, política, tecnologia, sociedade esustentabilidade; em seguida, uma análise dedois processos (da área de educação ambientalpara a sustentabilidade), um formal e outro não-formal. Ao final estão apresentadas diretrizespara o enfrentamento de alguns equívocos sub-reptíceos das compreensões e estratégias de edu-cação ambiental, e alguns indicadores de quali-dade para tais processos. 2
FUNDAMENTAÇÃO – ARGUMENTA-ÇÃO TEÓRICA
Sustentabilidade é uma expressão usada àexaustão nos dias de hoje, de acordo comDiegues (2001), está presente nos discursos edeclarações de princípios e estratégias de go-verno, partidos, empresas, ONG´s, fundações,instituições financeiras e dos principais orga-nismos mundiais. Uma verdadeira panacéia,remédio para todos os males. Entretanto, se pers-crutarmos além das palavras encontraremos ofato de que o termo comporta hoje projetos po-líticos dissonantes e que o termo carrega, paraa prática, pouca ou nenhuma implicação de prin-cípios e metodologias. Se não compreendermos
o contexto e as raízes políticas e históricas des-sa “onda”, ela permanecerá vazia de significa-dos práticos para qualquer possível transforma-ção sócio-ambiental. A palavra encontra guari-da entre aqueles que acreditam que todo um pro-cesso civilizatório chamado desenvolvimento seesgotou e também entre os que acreditam quesó precisamos “apertar alguns parafusos” paracorreção dos caminhos do processo de desen-volvimento. A polissemia do conceito, aponta-da por Leff (2000), coloca-o simploriamenteentre a questão da internalização dos aspectosecológicos que sustentam o processo econômi-co e a permanência deste próprio processo eco-nômico. Esta noção vulgarizadora não conse-guiu unificar os discursos e contradições; as-sim, os desacordos emergem nas dificuldadesde todas as tentativas de trazê-lo para a práticapor implicar em negociação das diferenças. Parafundamentar as análises, percorramos, breve-mente, as relações sociedade/ambiente para cor-roborar algumas idéias que sustentam minha li-nha argumentativa nesta etapa do artigo:1. Não há relação sem impacto, os homens
sempre impactaram o ambiente; harmoniae equilíbrio estático inexistem na natureza;a degradação foi “simplesmente”potencializada pelas especializações e peloaumento do poder de interferência (potên-cia) das tecnologias;
2. A explosão da problemática ambiental é fru-to fundamentalmente do processo de trans-ferências de tecnologias e da profundaassimetria de poder e de interesses entre ospaíses do Norte e do Sul. Estamos numanova fase do desenvolvimento, na qual,embora caracterizada por uma outra índolede dependência, “esse tipo de desenvolvi-mento continua supondo heteronomia e de-senvolvimento parcial, daí ser legítimo fa-lar de países periféricos, industrializados edependentes” (CARDOSO; FALETTO,1970, p.127 – por que FHC esqueceu? Tal-vez falte-lhe a fundamentação ecológica-termodinâmica para entender que o condi-cionamento está para além da desigualdadeeconômica nas trocas). Se pudermos corro-
2 Para tanto, respaldo-me na experiência de coordenação(na UEFS) de duas turmas e na docência em quatro tur-mas (UEFS, UESB, USP) de especialização em Educa-ção Ambiental para a Sustentabilidade; na vivência dacoordenação (por dois anos) de um programa de exten-são e educação ambiental (USP); na assessoria a projetos
educacionais e sócio-ambientais no Instituto ECOAR paraa Cidadania; em atividades de apoio a Organizações So-ciais em Planejamento Participativo; na Coordenação de
uma equipe de treze profissionais e estudantes, em inter-venções educacionais em 50 comunidades rurais (APAdo Lago de Pedra do Cavalo). Além, é claro, de conver-sas tanto úteis quanto agradabilíssimas com os professo-res e amigos Carlos Brandão, Claudia Coelho, EdaTassara, Ludmila Cavalcante, Marco Malagodi, MarcosSorrentino, Vitor Rosa e com vários alunos com os quaisvenho trabalhando.
284 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade: enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação...
borar adequadamente estas hipóteses, serásimples avaliarmos os múltiplos interessesque se deseja manter sob o ícone dasustentabilidade, apoiando de fato o próprioestado das coisas.
ras centenas de milhares de anos da históriahumana, a 10-20 hp dos moinhos e daí a 1,5milhão de hp das grandes usinas elétricas doséculo XX (GOLDEMBERG, 1998).
Um fato político interessante para a refle-xão sobre este caminho do desenvolvimento éque a desigualdade de acesso e consumo de ener-gia entre países e grupos sociais não se refleteno que hoje as teorias de desenvolvimento reco-nhecem como desenvolvimento humano; o IDH(Índice de Desenvolvimento Humano) pratica-mente não aumenta a partir de 1 TEP/capita(Tonelada Equivalente de Petróleo, por pessoa),enquanto a maior parte dos grupos ricos conso-mem até 10 TEP/capita (GOLDEMBERG,1998). A tecnologia passou a ter significado “perse”, a tecnologia pela tecnologia; toda evolu-ção, entendida como complexificação, aumentode potência e rapidez, começou a ser percebidae associada ao próprio desenvolvimento huma-no. Assim, a crise ambiental é resultado, em boaparte, do desconhecimento da 2ª Lei daTermodinâmica (Lei da Entropia) que desenca-deia, segundo Leff (2001), no imaginário doseconomistas, um desejo de crescimento e pro-dução sem limites, ecológica etermodinamicamente equivocada. Para Leff(2001, p.210 – grifos nossos), “desse limite docrescimento e da entropização do mundo é queemerge a necessidade de transgredir essa desor-dem (gerada pelas buscas humanasentropizantes que têm origem no seu desejolatente de totalidade hedonística e continui-dade para além da morte) organizada pelaracionalidade econômica, que permita construiruma ordem produtiva sustentável, fundada emuma racionalidade ambiental.”
Esta potencialização transformadora eimpactante condicionou os fenômenos daglobalização e o sub-jugo cultural, econômicoe tecnológico das regiões ao Sul pelo Norte.Afinal, sem a expansão das fronteiras do siste-ma de troca de energia e de matéria, a exaustãode um sistema fechado, que desenvolve potên-cias energéticas e níveis de consumo tãoexorbitantes, ocorreria em pouquíssimo tempo.
Da evolução dos impactos ambien-tais à atual crise ambiental
Os primeiros hominídeos foram registradoshá quase dois milhões de anos. Ao longo do tem-po a plasticidade do desenvolvimento humanopermitiu ao homem ocupar, praticamente, to-dos os biomas do planeta. Segundo Santos(1997) os sistemas técnicos sem objetos técni-cos desta fase da história humana não eramagressivos por serem indissolúveis em relaçãoà natureza; ou seja, não há natureza sem o to-que humano, não é o humano algo diferente denatureza e sua existência não é inevitavelmentedegradante para o meio. O humano sempre foiagente transformador do meio; entretanto, amodificação da paisagem de modo intencional,para otimizar os serviços naturais de interessehumano, é fenômeno recente, há dez ou dozemil anos, quando surgiu a agricultura.
A agricultura foi a tecnologia-chave não sópara a ampliação dos impactos como paraviabilizar um grande incremento populacionale o sedentarismo, ou seja, o fim progressivo donomadismo. O sedentarismo não só é a base parao adensamento populacional como também deoutros elementos associados. Sedentarismo eadensamento populacional viabilizaram o cami-nho da produção da tecnologia a passos largos,em função, basicamente, da possibilidade deespecialização de funções dentro dosgrupamentos humanos. Cidade, especializaçãoe tecnologia reforçaram-se mutuamente até oinício da era industrial, marcada pela máquinaa vapor de Watt; daí para frente a velocidade demudanças, alterações e impactos cresceu emescala geométrica, proporcional ao aumento daspotências desenvolvidas, de 0,05 hp (horse-power ou cavalo-força) desenvolvidos por umhomem usando alavanca, máximo das primei-
285Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Luiz Antonio Ferraro Júnior
Das rupturas das relações cultura-tecnologia-ambiente na origem daatual “insustentabilidade”: a deman-da por uma nova racionalidade
Devemos compreender melhor aindissociabilidade de cultura/política, tecnologiae ambiente. A cultura que reúne os códigos, ati-tudes, a semi-ótica nas interações3, tem na polí-tica o seu olhar para o futuro, que reúne em umprojeto de sociedade sua intencionalidade, ou oconjunto, mais ou menos democrático, dos de-sejos. A tecnologia, por sua vez, é produto dacultura e do ambiente, é a forma de intervençãode um grupo social sobre um ambiente em fun-ção de suas intencionalidades políticas (de novo,mais ou menos democráticas). Assim, cultura eambiente produzem-se, condicionam-se atravésda tecnologia, o homem participa da dinâmicahistórica deste processo. Cultura e ambienteconstroem-se permanentemente, condicionam-se em permanente interação dialética. Assim,política ambiental deveria ser entendida como aintenção transformadora de um grupo sobre seuambiente, a vontade de um povo que se auto-determina e faz suas opções imerso em seu con-texto cultural e ambiental. Para produzir as al-terações intencionadas, que levam ao futurodesejado, o grupo social gera tecnologia, con-juntos de instrumentos e procedimentos para aintervenção sobre o meio. Desta forma, é re-dundante dizer que tecnologia e ambientecondicionam-se mutuamente.
O atual status e a gravidade da questãoambiental são fruto da ruptura desta tríade, da“mimetização” de tecnologias exógenas(SACHS, 1986), entendidas como atalhos parao desenvolvimento (em seu sentido de progres-so, positivista); equívoco grave que conduz àdegradação da cultura, do convívio, à degrada-ção social, econômica e ambiental reforçada pela
dependência (em relação às metrópoles) de cu-nho econômico, político e cultural, em funçãoda tecnologia “mimetizada”. A tecnologia, en-tendida como organização do conhecimento paraprodução, “inseriu-se nos fatores de produçãoe da força de trabalho e excluiu deste processoo homem e a natureza” (LEFF, 2001, p.87).Assim a tecnologia instrumentalizou aracionalidade econômica e creio que o própriopositivismo. Os objetivos políticos e princípiosse esvanecem numa “fuga para a frente”, rumoa um desenvolvimento que a nenhum lugar podelevar, uma vez que não foram enunciados osobjetivos daquela sociedade, objetivos estes quepassam a ser definidos de fora para dentro apartir de uma perspectiva positivista e materia-lista. Assim, uma das bases da insustentabilidaderelaciona-se à não-democracia, à inexistênciade espaços de participação que propiciem ne-gociações, exposições de necessidades e vonta-des, para produção de relações e de qualifica-ção dos códigos destas relações. Tais espaçosdemocráticos podem contribuir para a supera-ção da hegemonia da economia e daracionalidade instrumental nas construções epercepções do desenvolvimento, trazendo devolta a ele sua humanidade.
Cultura e educação são processos associa-dos, em interação dialética, que deveriam pro-duzir as práticas (tecnologias) de transforma-ção do ambiente no sentido dos desejos de umdeterminado grupo social ou comunidade. Acultura e o ambiente determinariam, naturalmen-te, as tecnologias, sendo esta associação a ga-rantia da sustentabilidade; afinal os grupos so-ciais e as comunidades desejam sua própria per-petuidade e qualidade de vida. O transborda-mento de culturas e tecnologias para além dasfronteiras dos contextos sociais e ambientais nasquais foram geradas é um fato antigo; sua in-tensidade, entretanto, cresce exponencialmentedesde as Cruzadas, chegando hoje a seu ápicecom o processo denominado Mundialização.Para Santos (1997), cada novo instrumento éapropriado, ou deveria ser, de modo específico,pelo lugar. Assim, o aporte excessivo,hegemoneizante e impositivo (via crédito, edu-cação, mídia), de novas técnicas prejudicam esta
3 A cultura reúne, além de códigos, regras, valores, com-portamentos e tecnologias, uma produção semi-ótica quese refere às relações, à forma como o “real” é lido e daíagido... A importância de se perceber isto relaciona-se àprodução de uma leitura técnico-racional-econômica so-bre natureza e sociedade.
286 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade: enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação...
apropriação, o que conduz à perda das faculda-des (conhecimentos, opções) sobre a transfor-mação do próprio espaço. A partir desta pers-pectiva, Leff (2001) propõe o desvelamento deuma nova racionalidade, dita ambiental ou eco-lógica, que traz consigo o conceito de adapta-ção, oposto ao de domínio que fundamenta aracionalidade econômico-instrumental. Deladerivaria um novo paradigma produtivo, fun-dado na produtividade ecotecnológica, que adiferencia da produtividade econômica tradici-onal, na qual as condições ecológicas de um dadolocal mobilizariam as comunidades, autogeridas,para produzirem os valores de uso socialmentenecessários, através da melhoria e transforma-ção da produtividade primária de ecossistemas.Há que se pontuar que o colonialismo de 300anos da América deu à Europa a folgademográfica e financeira suficiente para seugrande salto nas relações imperialistas e seudescolamento da racionalidade ambiental. Apartir de 1800, as nações do Norte puderamprescindir do domínio político, econômico emilitar exercido sobre as demais nações; elastinham mais que espelhos para trocar, tinhamuma tecnologia que acendia nos demais povoso mesmo olhar de desejo e admiração recebidopor Prometeu. Assim, a hegemonia pôde per-correr caminhos menos beligerantes e mais po-derosos, pois produzem dependência de ordemcultural e tecnológica e por isso também políti-ca e econômica.
No Brasil, foi ignorada a voz lúcida de JoséBonifácio de Andrade e Silva que, ao lutar pelaabolição, enxergou que o modelo de“plantation”, voltado às exportações, fundamen-tado na distribuição desequilibrada de terras,era um caminho de inferioridade e propunha ummodelo voltado para o mercado interno, comênfase à reforma agrária e ao desenvolvimentode tecnologias adequadas às nossas condições,pois, pasmem, percebia a associação de todoesse caminho à degradação ambiental (PÁDUA,2002). A clareza desta análise não permitiu queo cerne de suas propostas fosse levado a sério,as elites terceiro-mundistas aprenderam cedo seupapel no mundo “livre”, de manter o “statusquo”, o qual propicia o desequilíbrio interno e
externo, na desigualdade das trocas de bens eserviços, ou intercâmbio ecologicamente desi-gual (GUIMARÃES, 1991; MARTINEZ-ALIER, 1999), ou ainda nesta“Raubwirtschaft”4.
O que está implícito na proposta de JoséBonifácio é a indissociabilidade epistemológicafundamental entre cultura/política, tecnologiase ambiente. Hoje, as potências das tecnologiaspermitem, mais que em qualquer tempo, umaprofunda intervenção sobre o ambiente assimcomo uma interferência ambiental entre os po-vos, agravada pelo neo-colonialismo de ordemtecnológica (e biotecnológica). O discurso glo-bal sobre a crise ambiental foca, simplesmente,a necessidade, como estratégia fundamental, deos países pobres assimilarem as tecnologias“limpas” dos países ricos (LEFF, 2000); entre-tanto, a indissociabilidade acima referida é de-monstrada deliciosamente em nove exemplos(“prova dos 9”) listados por Marques (1999),nos quais povos utilizam tecnologias “sujas”,ou realizam atos “criminosos” aos olhos daracionalidade instrumental ou do higienismoambiental, estando em sintonia com a históriaou com os processos ecológicos locais, suasnecessidades e desejos, a curto e longo prazo,ou, ao contrário, quando a inserção das “coisaslimpas” da modernidade é que coloca em riscoa dinâmica homem-natureza.
Concluindo esta etapa para corroboração dashipóteses enunciadas creio que podemos perce-ber que todo processo de “mimetização”, comodisse Sachs (1986), ou mera transferênciatecnológica leva a uma grave dependênciatecnológica e cultural que sustenta a assimetriaeconômica e conduz à degradação ambiental. Abusca dessas tecnologias, vendidas como ata-lho para o desenvolvimento, é a grande faláciae equívoco terceiro-mundista e é chamado, muitoapropriadamente, por vários teóricos do desen-
4 Literalmente, economia de pilhagem, entendida noexemplo da importação de produtos de países pobres,pelos países ricos ou pelas elites do 3º mundo, por pre-ços que não consideram a exaustão dos recursos naturaislocais nem a degradação ambiental associada.
287Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Luiz Antonio Ferraro Júnior
volvimento, de “fuga para a frente”. A ordemglobal é desterritorializada e tenta impor umaúnica racionalidade e os lugares respondem comsua própria racionalidade, ou seja areterritorializam; assim cada lugar é ao mesmotempo objeto de uma razão global e de uma ra-zão local, convivendo dialeticamente (SANTOS,1997). Esta profunda inter-relação prática exi-ge um diálogo que para os mais otimistas anun-cia a produção de uma sociedade global ou deuma sociedade civil mundial (IANNI, 1997;GUTIERREZ, 2000) e exige uma cidadaniaglobal, a crise então se apresenta como oportu-nidade única de construção desta,otimisticamente enunciada, sociedade humanaglobal.
Dos caminhos do ambientalismo àspropostas sobre sustentabilidade:fundamentos para entender o con-texto da educação para asustentabilidade
A degradação ambiental dos espaços urba-no-industriais ingleses e dos aspectos ruraisamericanos decorrentes, respectivamente da in-dustrialização e da corrida ao Oeste(“Homestead Act”), foram percebidos por gru-pos intelectualizados que iniciaram a sistemati-zação das idéias que alimentaram o Arcadismo,o Romantismo e o preservacionismo. A percep-ção de que um modelo de desenvolvimento eradegradante acima da resiliência dos sistemasnaturais levou à inferência de que o humano,tem em si o “mal”, o pecado que destrói o para-íso feito por Deus. Não aprofundaremos nossacrítica ao preservacionismo mas cabe registrarque sua proposta básica, a criação de espaçosnaturais (ilhas) protegidas da ação do homem,apesar de sobreviver até os dias de hoje, éderrotista, pois não vislumbra a busca de novoscaminhos, injustamente seletiva, pois raramen-te atende espaços naturais menos “queridos”pelos humanos urbanos como savanas e man-gues, eurocêntrica, pois não reconhece que ou-tros povos produziram diferentes relações como mundo natural, ineficiente, pois depende devigilância e pode levar à degradação pela falta
de conectividade entre áreas ecologicamenteinterdependentes.
No mesmo período, no seio do Serviço Flo-restal Americano, surgiu a propostaconservacionista, de corte mais antropocêntricoe utilitarista, compatível com o desenvolvimen-to econômico, considerada a raiz das atuais pro-postas para a sustentabilidade, pois discutia oscaminhos para a perpetuação do uso dos recur-sos naturais5.
Foram estas as linhas básicas doambientalismo até a década de 60, marginais,sem relacionar seu debate e proposições à ne-cessidade de um repensar das questões sociaisou do modelo de desenvolvimento, quando osmovimentos sociais, estudantis, de minorias,pela paz ploriferaram e progressivamente searticularam em um movimento de contra-cultu-ra, crítico da lógica e da racionalidade dos mo-delos capitalistas e socialistas. Romperam comuma perspectiva dicotômica e estruturalista,pretenderam questionar os caminhos propostostanto pelo capitalismo quanto pelo socialismo,considerando ambos degradadores dos huma-nos e do ambiente. O movimento ambientalistaamadureceu e percebeu-se, aos poucos, sócio-ambiental.
Os relatórios científicos como os do Clubede Roma respaldaram em 1972 o ingresso dosEstados no debate. A grande marca de 1972, aConferência de Estocolmo, marcou uma cisãodas posições Norte e Sul (“Vocês estão preocu-pados com a fumaça de teus carros e nós com afome de nosso povo”), sendo o Brasil um doslíderes da posição desenvolvimentista, que im-pediu qualquer decisão pragmática e/oumandatória na conferência. Mesmo assim, estatornou-se um marco da política ambiental emescala mundial, não só por ter promovido umaampliação do debate – tanto que dez anos de-pois observava-se que o número de países comórgãos ambientais federais passava de 12 para
5 No Brasil o conservacionismo deu origem ao Códigodas Águas e ao Código Florestal, ambos de 1934. Opreservacionismo só produziu seu primeiro ato em 1937com a criação do Parque Nacional de Itatiaia (RJ).
288 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade: enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação...
140 – como ainda por inserir a questão da po-breza, das relações Norte-Sul e da desigualda-de social, definitivamente, na pauta ambiental.
Na década de 70 surgiu a proposta teóricado “Ecodesenvolvimento” (SACHS, 1986), comum conteúdo político profundamente crítico esistêmico, apontando para uma recusa explícitaà dependência cultural e técnica implícita natransferência de tecnologia. Talvez pelo com-ponente mais transformador (menos reformis-ta), quanto por seu aparente pouco pragmatismo,a proposta foi esvaziada e teve seu conteúdocrítico diluído a partir da Declaração deCocoyoc6 (apud LEFF, 2000) que iniciou o de-lineamento do que viria a ser a proposta de De-senvolvimento Sustentável e seu tom profunda-mente reformista, subordinando as preocupaçõesambientais à busca da sustentabilidade econô-mica. Em resumo, como aponta Leff (2000), ofato das estratégias e dos discursos do Desen-volvimento Sustentável estarem desvinculadosdos movimentos sociais que lutam pela apro-priação de recursos faz que com esta propostade desenvolvimento, agora dita sustentável, pa-reça uma simples resposta do capital à atual criseecológica que ignora a própria racionalidadeeconômica como causa da crise ecológica.
O formato teórico do Desenvolvimento Sus-tentável só veio a ser sistematizado em 1987pela comissão do Relatório “Brundtland” (1991,p.46), que o definiu como o desenvolvimentoque “atende às necessidade do presente sem com-prometer a possibilidade das gerações futurasatenderem a suas próprias necessidades” e con-sidera a satisfação das necessidades e aspira-ções humanas como principal objetivo do de-senvolvimento. A matriz conceitual do Relató-rio foi a base para o desdobramento de políticasnacionais, diálogos e acordos globais da áreaambiental. Os principais méritos das propostasde Desenvolvimento Sustentável são o compro-misso de minimizar os impactos do desenvolvi-mento e de associar a isso a redução dos malesda pobreza. Na Rio-92 as estratégias para oDesenvolvimento Sustentável foram detalhadasna Agenda 21, como um documento7 nãomandatório, mas um firme protocolo de inten-
ções; o suporte legal e institucional para garan-tir a efetivação dos compromissos só se cria comas convenções internacionais específicas. O prin-cipal documento específico encaminhado é oFCCC (Framework Convention on ClimateChange), fruto dos relatórios do IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)trabalhados e negociados no âmbito da ONU. Adespeito do grande sucesso do Protocolo deMontreal sobre a camada de ozônio, o FCCCnão tem tido na prática uma efetivação consis-tente. As razões para isso são, provavelmente,a posição Americana renitente (principal emis-sor de CO
2), o bloqueio da OPEP e de países
produtores7 de carvão, as controvérsias cientí-ficas em torno da natureza e implicações doacúmulo de gases estufa, assim como damultiplicidade das fontes destes gases cuja re-dução drástica na emissão implicaria num xe-que-mate sobre toda atual base tecnológica. Ooutro documento importante é a convenção dabiodiversidade, que vem sendo amplamente de-batido por perceber-se o papel estratégico dabiodiversidade no desenvolvimento. O que vemtravando o avanço é a questão fundamental tra-tada em um único artigo, o qual debate a pro-priedade intelectual, patentes e gestão dabiotecnologia e da biodiversidade. Alguns paí-ses desenvolvidos também resistem à Conven-ção sobre Direito de Mar, que cerceia os movi-mentos transfronteiriços de rejeitos perigosos,uma vez que não pretendem assumir em seupróprio território a gestão destes (GUIMA-
6 Declaración de Cocoyoc, 1974. Comercio Exterior.México, v. 25, n. 1, p. 24, Jan. de 1975.7 A agenda global tem 40 capítulos em 4 seções: das di-mensões sociais e econômicas(saúde, pobreza, consumo,integração de M.A. e desenvolvimento nas decisões), daconservação e gestão de recursos para o desenvolvimen-to, do fortalecimento do papel de grupos e dos meios deimplementação (tecnologia, ensino, cooperação, jurispru-dência internacional). Faz parte das estratégias mundi-ais para o Desenvolvimento Sustentável a elaboração deAgendas 21 Locais, que vêm sendo desenvolvidas emdiferentes espaços. Sobre os limites desta estratégia te-ceremos algumas considerações ao comparar a propostade Sociedades Sustentáveis e o Desenvolvimento Sus-tentável.
289Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Luiz Antonio Ferraro Júnior
RÃES, 1991). O Tratado de Não-ProliferaçãoNuclear criou duas categorias de países: aque-les responsáveis, livres e nuclearizados e suaantítese, os países-criança, sem competênciatécnica e/ou maturidade para dispor de ferra-menta tão perigosa.
Alimentado no âmbito de ONG´s, governos,BID, Banco Mundial, FMI, ONU, FAO e insti-tuições de pesquisa, o Desenvolvimento Susten-tável não é um consenso. Se não percebemos oprofundo dissenso, criamos a ilusão de um con-senso, grave na medida em que abafa as discus-sões centrais. Pedrini (1997, p.92) cita o artigode Layargues (1996), “A cortina de fumaça:ideologia e discurso empresarial verde”, que fazuma análise do discurso verde do meio empre-sarial e conclui que a nova racionalidade é puraretórica, o discurso se evidencia incoerente eesconde a manutenção total da lógica vigente.Um grupo significativo de pesquisadoresambientalistas e de ONG´s vem construindo umasólida crítica ao “conjunto de obras” Desenvol-vimento Sustentável e propondo estratégias al-ternativas. Vamos às principais críticas:1. As associações, herdadas do positivismo,
entre desenvolvimento e progresso, progres-so e riqueza, riqueza e industrialização sãoclaramente veiculadas na idéia de Desen-volvimento Sustentável (o imperativo estra-tégico primeiro é a retomada do crescimen-to econômico). Estas vinculações delinei-am um único caminho possível de desen-volvimento, os níveis altos de consumo con-tinuam como objetivo e fundamentam-se emuma fé na tecnologia que parece ignorar aentropia;
2. A capitalização dos recursos naturais fun-damentou-se na crença, mesmo que velada,da capacidade do mercado em alocar recur-sos financeiros e atender à conservação dosrecursos naturais. O equívoco relaciona-seaos fatos de que a racionalidade econômicafunciona a partir da lógica da escassez, deque a valorização econômica tem limitesmuito claros e de que a medida da solidari-edade diacrônica será dada pelas taxas dejuros;
3. A proposta de Desenvolvimento Sustentá-vel trata problemas ambientais e pobrezacomo externalidades do processo de desen-volvimento a serem solucionadas com ajus-tes procedimentais e reformas. O ambienteé apenas um fator para a tomada de deci-sões, a proteção é somente parte dos pro-cessos econômicos, cuja “sustentabilidadegravita sobre os princípios de suaracionalidade mecanicista” (LEFF, 2000,p.262);
4. Desenvolvimento e sub-desenvolvimentosão faces de uma mesma moeda (Teoria daDependência) e têm no paralelo campo-ci-dade uma perfeita metáfora dos aspectostermodinâmicos dessa associação. Energianão se cria, ela flui entre sistemas e decres-ce em disponibilidade. O amplo progressomaterial de alguns locais é fruto de umaporte 25 vezes maior de matéria e energia,em detrimento dos recursos disponíveis paraoutros locais (GUIMARÃES, 1991);
5. O ser humano não possui limites, instru-ções genéticas ao consumo exossomático eàs aspirações materiais; além disso, as uni-dades político-territoriais não restringem, anão ser quando assim se deseja, o fluxo dematéria e energia, ou seja cumprem umafunção de invalidar fluxos ecológicos natu-rais (migração para onde haja mais recur-sos). Desta forma, as argumentações emtorno do Desenvolvimento Sustentável sãoflagrantemente políticas, seletivas e podemser entendidas como um “intento debiologizar as desiguladades sociais”(MARTINEZ-ALIER, 1998, p.94-95). Ouseja, posturas basicamente NIMBY (not inmy back yard), ou ainda racismo ambiental.
Um exemplo crítico está no fato de que, asso-ciada ao processo de globalização, a propostade Desenvolvimento Sustentável deu vazão ànoção de vantagem comparativa ambiental depaíses subdesenvolvidos para sediar indústriasde maior potencial poluidor (NIMBY). Não hátambém como supor necessidades humanas (anão ser o ar e a água) que sejam perenes e uni-formes (tempo/espaço) sobre as quais se possa
290 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade: enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação...
planejar; o polimorfismo cultural das necessi-dades implica na circunstancialidade temporale espacial de qualquer planejamento, tese cor-roborada por Marques (2000).
Uma simplificação para diferenciar a expres-são Desenvolvimento Sustentável do termo “So-ciedades Sustentáveis”8, neste contexto, seriadizer que a primeira propõe estratégias do glo-bal para o local e a segunda, do local para oglobal e de volta a esse. Esta simplificação tal-vez tenha alguma validade quando percebemosa absoluta dissociação entre agendas global,nacional, estaduais e locais, uma vez que umaefetiva articulação exigiria fortes negociaçõespolíticas a partir da perspectiva local e implica-ria em “forçar” a população do Norte a seperguntar se seus padrões de consumo são sus-tentáveis. Afinal, quem é insustentável? Sem queemerja uma resposta que possa desconsideraros aspectos locais, o conceito de SociedadesSustentáveis configura-se como único aceitável,por trazer explícita a necessidade da democra-cia e da justiça entre locais e quebra com pro-postas hegemoneizantes e despolitizadoras
Da ontologia das relações homem-natureza e a semi-otização do ambi-ente: uma questão mal resolvidapara a educação ambiental
A percepção usual do conceito de meio am-biente deriva de um processo de semióticainstrumentalizante, da racionalidade instrumen-tal, da história da produção da sociedade oci-dental humana enquanto algo diferente da natu-reza e/ou que a vê como reserva de recursos.Para Leff (2000), a natureza está em processode incorporação ao capital por duas vias, umaeconômica (a internalização de custosambientais do progresso material) e outra sim-bólica (que recodifica num “cálculo de signifi-cação” homem, cultura e natureza, como for-
mas aparentes de uma mesma essência). Assim,continua Leff (2000, p.294), surgem CapitalNatural e Capital Cultural que podem entãoadentrar codificados a linguagem do Capitaldentro do processo econômico, de modo que“esta estratégia discursiva da globalização con-verte-se em um tumor semiótico, numametástase do pensamento crítico que dilui acontraposição, a oposição e a alteridade, a di-ferença, a alternativa, para nos oferecer, em seusexcrementos retóricos, uma revisão do mundocomo expressão do Capital”. O resultado des-tes filtros semi-otizantes é uma produção contí-nua de um conceito de natureza cada vez maisdistante do que de fato é, por precisarmos en-tender que a história humana não se depreendeda história da natureza. Nesta operação simbó-lica, o discurso da globalização pode ser vistode forma crua, como um “olhar voraz” que in-tegra e instrumentaliza o olhar do capital sobrenatureza e cultura, prepara as condições objeti-vas para engoli-las (cultura e natureza) com todaa argumentação racional econômica; e, assim,muito mais que uma “visão holística” é a ex-pressão do capital em “sua gula infinita eincontrolável por todo o real” (LEFF, 2000,p.296). Leis (1999), numa interpretação atualdas questões colocadas por Adorno eHorkheimer, pergunta-se se é possível pensar-mos sobre a sustentabilidade a partir de qual-quer separação, de ordem epistemológica ouontológica, entre homem e natureza. ParaThomas (1988), a separação entre natureza esociedade é uma das características da culturaocidental, cujas bases religiosas, históricas epolíticas fundamentaram a sujeição de todas as“coisas” pelo homem (masculino, branco, cris-tão, proprietário ou mais modernamente WASP– White, Anglo Saxon, Protestant), profunda-mente reforçadas pelos fenômenos contempo-râneos. Isto implicaria, segundo Gutierrez(2000), na necessidade de uma revolução deordem espiritual, radical, que supere osparadigmas judaico-cristãos de dominação esubmissão. Assim como é preciso conceber oshomens como iguais para vê-los como livres(Locke), talvez precisemos conceber a socieda-
8 Conceito sistematizado na Rio-92 pelo Fórum das ONGsno Tratado de Educação Ambiental e ResponsabilidadeGlobal para Sociedades Sustentáveis
291Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Luiz Antonio Ferraro Júnior
de como natureza para relacionarmo-nos comela em bases sustentáveis.
O ambiente, de fato, é o palco no qual (como qual) nós existimos, no qual nos tornamoshumanos: é do ambiente que nossa própria hu-manidade emerge, é no ambiente que nossa cul-tura se cria. Talvez seja o homem a naturezatomando consciência de si mesma, diz Alves(2002, p.72), dialogando com a reflexões deBachelard em relação à imaginação da matériaviva. A natureza é o espelho da alma e com aimagem que vemos nos reconhecemos, nos per-cebemos, produzimos nossa humanidade, nelainteragimos; ela é a mediadora maior das rela-ções humanas, nela percebemos o outro, nela ecom ela (a natureza) existimos com o outro.Segundo Leff (2001, p.205), “é o ambiente quenos impele ao saber”, ou, ainda, “é a falta insu-perável do conhecimento, esse vazio onde seaninha o desejo de saber” (p.78). Guattari (1990)propõe uma articulação ético-política, à qualdenomina ecosofia, entre os três “registros eco-lógicos”: do meio ambiente, das relações soci-ais e da subjetividade humana; são, desta for-ma, três ecologias que devem ser trabalhadasde modo articulado; e não se deve nunca redu-zir a questão à ecologia ambiental que “tal comoexiste hoje, não fez senão iniciar e prefigurar aecologia generalizada que aqui preconizo e queterá por finalidade descentrar radicalmente aslutas sociais e as maneiras de assumir a própriapsique” (GUATTARI, 1990, p.36). Ainda, estaecosofia mental deve reinventar a relação dosujeito com o corpo, com os fantasmas do in-consciente, com a “flecha do tempo”(PRIGOGINE, 1993) que não conseguimos re-ter, e com os mistérios da vida e da morte; devebuscar antídotos contra a intermediação exter-na da produção da sua própria subjetividade.Leff (2000) sugere a necessidade de uma peda-gogia da complexidade ambiental que possibi-litaria o encontro de outridades, o enlaçamentodas diferenças, a complexificação dos seres e adiversificação de identidades. O ambiente trazconsigo uma ontologia e uma ética opostas aqualquer princípio totalitário, homogeneizante,a todo conhecimento unitário ou à globalidade
totalizante. Para Santos (1996, p.336) “(...) anatureza é a segunda natureza da sociedade e,como tal, sem se confundir com ela, tão-poucolhe é descontínua (...)”. Gutierrez (2000) falada necessidade da imbricação da pessoa plane-tária com os sujeitos coletivos específicos decada lugar, também da ecologia do eu e da eco-logia sócio-ambiental, da cotidianeidade e daplanetariedade.
A racionalidade ecológica talvez necessite umcomplemento de ordem emocional, afetiva, umaafetividade ecológica, de matiz poético, estéti-co, ontológico. Vem se formando a questão aoseducadores: como promover racionalidade eafetividade ecológicas?
Sobre educação para a sustenta-bilidade, sua polissemia e seu con-texto de dissensões políticas
Neste quadro politicamente complexo e di-verso a educação surge naturalmente com múl-tiplas perspectivas. Como aponta Sorrentino(1995), a educação ambiental reúne quatro gran-des correntes: a primeira concentra a atuaçãode entidades e grupos ambientalistas que visamestimular a defesa de matas, animais em extinçãoe assumem um tom preservacionista; uma se-gunda, bastante antiga relaciona-se às práticaseducacionais ao ar livre, encontra-se nas práti-cas dos naturalistas, escotismo, trilhas ecológi-cas e ecoturismo; a terceira corrente, denomi-nada gestão ambiental, está presente nas lutasdos movimentos sociais da América Latina, vin-cula-se à busca da participação democrática depopulações marginais para o enfrentamento dosdanos sofridos por estas populações em virtudedo progresso capitalista (perda de área, polui-ção de águas...); e a quarta categoria denomi-nada Economia Ecológica, fundamenta-se prin-cipalmente nas idéias do Ecodesenvolvimentode Sachs (1986), na valorização do pequeno(“Small is beautiful”) de Schumacher (1983).Apesar de existirem práticas antigas, como oescotismo, relacionadas à educação ambientala sistematização teórica é mais recente e evo-luiu em paralelo aos debates iniciados na déca-da de 70, em conferências internacionais como
292 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade: enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação...
a de Tbilisi (1977). A educação ambiental nãoevoluiu apenas em paralelo às discussõesambientalistas, mas também em diálogo com asevoluções do debate da educação. Leite &Mininni (2000) definem duas vertentes, umaEcológico-Preservacionista (mais relacionada aoensino de ecologia, mais afetiva, que bebe maisdiretamente das abordagens tradicionais,behavioristas ou da Escola Nova) e outra Só-cio-Ambiental (mais integrativa na visão socie-dade-natureza, histórica, crítica do desenvolvi-mento e que se relaciona a diversas escolas maismodernas como a sócio-cultural com Freire, aPedagogia Radical com Giroux, e a sócio-interacionista com Piaget e Vygotsky). Umadefinição interessante da educação ambiental édada por Sorrentino (1995), que define o seuobjetivo como sendo o apoio à conservação dabiodiversidade para a auto-realização individu-al e comunitária e para a gestão política e eco-nômica através de processos educativos quepromovam a melhoria do meio ambiente e daqualidade de vida.
Em substituição ao conceito desustentabilidade, talvez devamos construir, paraorientar os processos educacionais, uma acepçãorelacional, na qual sustentabilidade deva ser en-tendida como resultado natural de sociedades au-tônomas, cônscias da sua responsabilidade, dassuas relações ecológicas com outras comunidades,das relações entre a produção da cultura, datecnologia e do ambiente, para que cada comuni-dade perceba desenvolvimento diferentemente doprogresso material e, por conseguinte, a si mesmae a sua história como parte do ambiente e da histó-ria deste. A partir desta percepção, consciência eautonomia produzem-se a solidariedade interna ea solidariedade em redes.
Assim, a Educação Ambiental para aSustentabilidade deve atuar na construção e namediação da participação para consolidação deindivíduos e coletivos autônomos e solidários.Sawaia (2001) sugere que a práxis participativaseja artífice da potência de ação cotidiana epública; para tanto há que se assumir a lutacontra a potência de padecer, contra a posturavitimizada, contra a contemplação da afetividade
e da subjetividade no planejamento da participa-ção; evitar o empobrecimento do campo perceptivoe das necessidades; evitar o planejamento de açõesde diferentes temporalidades e a diversificação deestratégias de ação. A busca da potência de açãocotidiana enfatiza a estética da existência “em si”e deve atentar para os riscos de, ao fazer isso, pro-mover uma estetização da desigualdade e da po-breza; a busca da potência de ação pública, porsua vez, enfatiza a eficácia política e deve atentarpara não se perder nas armadilhas da razão ins-trumental.
Galvani (2000) sugere a necessidade de umprocesso de auto, hetero e ecoformação (defini-do como triplo movimento de tomada de cons-ciência reflexiva) como um processotranscultural, transdisciplinar e transpessoal,fundante desta reconstrução das relações doshumanos, consigo, com seu meio e entre seuspares. Quem são os pares? Surge a necessidadede definir o recorte da atuação. Onde atua o téc-nico, o professor, o educador ambiental, o inte-lectual orgânico? Definitivamente, na comuni-dade. Segundo Leff (2000), este processo rela-ciona-se à reconstrução da democracia, quepassa do princípio de “a cada pessoa um voto”,à busca de possibilitar a cada comunidade apossibilidade de satisfazer suas necessidades eaumentar a sua qualidade de vida.
“A relação face a face e o espaço geográficonão são fundamentais na configuração da co-munidade, mas são sua base cotidiana deobjetivação. Nessa perspectiva, comunidadeapresenta-se como dimensão temporal/espacialda cidadania, na era da globalização, portanto,espaços relacionais de objetivação da socieda-de democrática, plural e igualitária.” (SAWAIA,1996, p.50-51). Assim, creio que a “comunida-de”9 deva ser entendida como o espaço natural,
9 Considere-se que o recorte de uma comunidade podeser geográfico (urbano, rural, local, regional, global...)ou institucional (hospital, escola, universidade...) desdeque haja relações face-a-face ou simplesmente qualquerinterferência mútua entre grupos, indivíduos ou destessobre o meio, que possam fazer sentido para estes grupose indivíduos.
293Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Luiz Antonio Ferraro Júnior
ou o conceito que orienta a Educação Ambiental,desta forma incidindo sobre a participação.
Gutierrez (2000) aponta como indicadoresde processo para intervenções educacionais, nalinha da eco-pedagogia, a tendência àsmicroorganizações autônomas e produtivas, aprodução do poder sapiencial como auto-regu-lador social, à lógica do sentir como fundamen-to da sociedade planetária, a produção do “pú-blico” enquanto espaço social para a constru-ção da cidadania ambiental, o equilíbrio dinâ-mico nas relações de gênero, a conformação demovimentos e grupos sinérgicos para a vivênciados processos de educação e comunicação.
A produção de redes de susten-tabilidade: uma necessidade paraqualquer proposição de transforma-ção social pelas vias da educação paraa sustentabilidade
O tempo como sucessão, o tempo histórico,há muito foi a base dos estudos de descrição dapaisagem. Santos (1997, p.130) propõe a simul-taneidade das diversas temporalidades sobre aTerra para respaldar os entendimentos dos pro-cessos modificadores do espaço. Assim, o quedá a universalidade aos eventos, segundo ele,não é seu simples acontecer mas sua imbricação,assim “cada evento é um fruto do mundo e dolugar ao mesmo tempo”. Ao propor uma Geo-grafia das Redes Santos (1997, p.211) tambémacusa a polissemia do vocábulo “redes” queafrouxa seu sentido. As redes não são uma rea-lidade recente; a grande distinção entre as dopassado e as de hoje é que atualmente a delibe-ração na constituição de redes são estratégiasde avanço da civilização material. As estratégi-as e tecnologias desenvolvidas para sustentarum “enredamento” com objetivos capitalísticospodem e devem ser adaptadas para fins huma-nos. Guattari (1990) considera que a atual re-dução de custos e o desenvolvimento detecnologias de comunicação podem facilitar este“contra-feitiço”; eventos ocorridos distantes,cuja relação com nossa vida, nossas lutas e uto-pias não perceberíamos e sobre os quais nãorefletiríamos, podem entrar para nosso cotidia-
no e fazer vislumbrar a possibilidade de inter-conexões solidárias. Para Gutierrez (2000), arevolução eletrônica cria um espaço acústicocapaz de globalizar os acontecimentos cotidia-nos e possibilita as interações e percepções queconduzam a uma solidariedade para com todavida da Terra sendo estas as bases para umacidadania ambiental mundial.
Martinez-Alier (1999) já aponta a existên-cia de vários casos nos quais o “local” estáconectado ao global em um movimento de re-sistência generalizado. A transnacionalizaçãodos movimentos sociais é uma das estratégiasfundamentais apontadas por Scherer-Warren(1996); se analisarmos a defesa da agroecologiae biodiversidade agrícola no terceiro mundopercebemos as idéias globais sobre meio ambi-ente usadas e apoiadas pelas lutas locais(MARTINEZ-ALIER, 1999). “Aos poucos, oude repente, o mundo se torna grande e pequeno,homogêneo e plural, articulado e multiplicado”e, assim, “nacionalismo, regionalismo eglobalismo são totalidades que se subsumemreciprocamente, em termos históricos e teóri-cos, são polarizações decisivas quanto ao jogodas forças sociais, opções econômicas, contro-vérsias políticas e as possibilidades do imagi-nário ou dos movimentos da história.” (IANNI,1999, p. 89; 116).
Como aponta Guattari (1990), as comuni-dades humanas imersas na tormenta tendem acurvar sobre si mesmas, deixando nas mãos dospolíticos profissionais a função de reger a orga-nização social. Em meio à individualização ali-enada e à atomização da sociedade crescentes,reforçadas pela migração, pelos meios de co-municação, violência e sentimento de impotên-cia, subsistem espaços coletivos que buscampotência para a construção de alternativas e deutopias. Assim, a articulação destes espaços emredes de movimentos sociais, como propõeScherer-Warren (1996), pode viabilizar umaintervenção na formação de políticas públicasalém, é claro, de possibilitar o fortalecimentomútuo, na troca de informações e em estratégi-as cooperativas.
Como indivíduos precisamos, ao mesmo tem-
294 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade: enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação...
po, nos tornar solidários (iguais) eressingularizados (diferentes), como sugereGuattari (1990). Creio que o mesmo valha paraos coletivos, para as comunidades. Assim, apercepção das relações sociais e ambientais,associada à reinvenção das singularidades indi-viduais e coletivas, seriam os aspectos subjeti-vos fundamentais à constituição das Redes So-lidárias de Sociedades Sustentáveis.
REFLEXÃO SOBRE AS PRÁTICAS
Análise das estratégias e dificulda-des originadas na educação formal10:o caso da especialização em “Educa-ção Ambiental para a Susten-tabilidade”11
A partir de uma reflexão sobre os cursos deespecialização em Educação Ambiental para aSustentabilidade da UEFS, da UESB-Jequié eda USP-ESALQ-Piracicaba trago algumas bre-ve análises para este texto. Os três cursos tive-ram como eixo pedagógico central a interven-ção educacional para resolução de problemassócio-ambientais; assim, quase cem projetosforam desenvolvidos junto a escolas, bairros,feiras-livres, hospitais, universidades, comuni-dades rurais, comunidades de unidades de con-servação, grupo de mulheres, empresas.
Grande parte dos alunos de pós-graduaçãoque se propõe a desenvolver projetos de Educa-ção Ambiental para a Sustentabilidade possuiinúmeras pré-concepções epistemológicas emetodológicas. Exemplificando tais pré-concep-ções: 1) educação como um processo perten-cente ao meio escolar; 2) ambiente como aspec-to técnico; 3) pesquisa como ação acadêmica;4) sustentabilidade como necessidade que tocao manejo dos recursos naturais para que estes
não se esgotem; 5) educação ambiental comoprocesso destinado à melhoria das atitudes daspessoas em relação ao ambiente, percepção naqual temas como resíduos sólidos ganham gran-de destaque.
As proposições metodológicas geralmenteenveredam pela “conscientização” e“sensibilização” dos sujeitos para que estes, pelaaquisição de novas informações (nem sempretão novas), decidam não mais agir como antes.As técnicas em geral têm cunho fundamental-mente conceitual-cognitivo, dentre as quais sedestacam palestras, campanhas, teatros, passei-os de observação do ambiente, estudos do meio.
O conceito de sustentabilidade aparece nasfalas e ações de modo diferente em dois momen-tos; num primeiro momento o conceito marcafortemente os discursos, fica solto em frases ecitações de documentos que tratam da solidarie-dade diacrônica, da multidimensionalidade dasustentabilidade (econômica, ambiental, social,política, cultural, tecnológica), do caráterinterdisciplinar da busca da sustentabilidade eda necessidade de um pensamento dito holísticoe sistêmico; alguns mais pragmáticos desenvol-vem argumentos neo-malthusianos ou bio-cêntricos. A sustentabilidade é, muitas vezes,percebida como uma necessidade do terceiromundo, as comunidades ricas parecem mais sus-tentáveis que as pobres, que são percebidas comoinsustentáveis por seu pior saneamento básico.Num segundo momento, com o andamento dosprojetos, os alunos começam a se perguntar so-bre “Onde está a sustentabilidade no meu proje-to de intervenção?”. O encaminhamento da dis-cussão então segue para a necessidade dasustentabilidade do projeto de intervenção. Nestesegundo momento, a sustentabilidade do proje-to de intervenção começa a ser vista como umdesafio à manutenção das práticas sugeridas peloprojeto ou então um desafio à manutenção dogrupo de trabalho criado por ele.
É como se, neste grupo de pessoas, as estra-tégias de dominação presentes no discursoambientalista (TASSARA, 2000) encontrassemseu terreno mais fértil. Os alunos, pressupondoclareza e obviedade quanto aos problemas e es-
10 Educação Ambiental Formal é entendida como aquelaexercida como atividade escolar, de sala de aula, da pré-escola ao 3º grau (LEONARDI, 1999)11 A análise deste curso merece aprofundamentos posteri-ores com os demais participantes, neste momento tragobreve exemplos originados nele que permitem maior cla-reza sobre as questões pertinentes para este artigo.
295Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Luiz Antonio Ferraro Júnior
tratégias, anseiam, muitas vezes, que os cursosapenas os instrumentalizem com discursos maiselaborados e técnicas mais diretivas para aindução de novos comportamentos ambientais.A transformação dos sujeitos em sujeitosambientalizados, já imaginados e criados a par-tir da necessidade óbvia de novos comportamen-tos, só precisaria de um processo eficiente deeducação ambiental. A função da educação for-mal seria, para os alunos, possibilitar-lhes darvazão ao “nobre” desejo de, através da educa-ção, corrigir os graves e urgentes problemasambientais. Questões que costumam incomodaros alunos são: “Como vou saber o que é obra“minha”? ou “E se o grupo decide ir em outradireção?” Retomando as palavras de Sawaia(2000), a paixão (ser movido pelo outro) é umsentimento menos mobilizador e poderoso do quea compaixão (ser movido pela paixão do ou-tro); se a compaixão fosse o sentimento nestasperguntas, estas perderiam o sentido.
Aos problemas como: disposição inadequa-da de lixo (por alunos, por moradores), extra-ção de madeira ou simples desmatamento (porpequenos agricultores), erosão de solos, a caça,a inadequada extração de pedras ou areia, pre-tende-se oferecer os melhores discursos, pales-tras, teatros, oficinas, poesias possíveis que fa-çam com que estes alunos percebam, seconscientizem, se sensibilizem e reformem seucomportamento. O que se configura muitas ve-zes é um conjunto de atividades soltas que nãose articula para uma finalidade; esta finalidade,dita pedagógica, simplesmente não se explicita,perde-se num “fazismo” disperso, um certodiversionismo contraproducente. As “melhores”estratégias, neste contexto de falta de clarezadas finalidades, seriam aquelas capazes de mer-gulhar na sensibilidade, na subjetividade dosindivíduos fazendo-os sentir-se culpados e des-ta forma motivados para a transformação deseus comportamentos e atitudes. A subjetivida-de surge então num rol de estratégiaspsicologizantes manipulativas (SAWAIA, 2001)que tentam empurrar o foro da solução de pro-blemas para dentro de cada indivíduo, numsolipsismo individualista marcadamente
manipulativo e despolitizador do debate sócio-ambiental. Claro que esta redução da educaçãoe a despolitização dos próprios processos “trans-formadores” resultam não tanto das pessoasquanto do sistema educacional no qual se for-maram que, este sim, vem reduzindo os proces-sos educacionais a vestibulares e à merainstrumentalização.
Grande parte dos desafios dos cursos de Edu-cação para a Sustentabilidade refere-se aoenfrentamento desses preconceitos, desta tendên-cia meramente instrumentalizante, que alguns alu-nos tentam induzir (fruto talvez da própria forma-ção e do medo de não ser “operacional”), e contrao qual resistimos, por estarmos convictos da pro-posta de não simplificar e não metodologizar, ape-nas; ao mesmo tempo, precisamos lograr apoiaresses discentes nos seus processos de ação-refle-xão. Uma questão pertinente então é: há um currí-culo mínimo em educação ambiental formal? Al-guns autores têm refletido sobre esta “indigênciaintelectual” da educação ambiental, fruto da enor-me diversidade de conhecimentos e metodologiaspertinentes. Assim, creio que o desafio de cursosem educação ambiental não seja tentar cobrir su-perficialmente uma enorme gama de assuntos,tampouco criar feudos disciplinares cujos senho-res necessitem a todo momento provar sua impor-tância; a pertinência dos temas só pode ser defini-da a partir de um processo ativo e reflexivo, ouseja, na práxis, no projeto de intervenção.
Análise das estratégias e das dificul-dades originadas na educação não-formal 12 em comunidades rurais: ocaso do projeto da APA do Lago dePedra do Cavalo
No contexto da Área de Proteção Ambientaldo Lago de Pedra do Cavalo, uma equipe daUEFS, conveniada com o Centro de Recursos
12 Educação Ambiental não-Formal é exercida em diver-sos espaços da vida social, pelas mais variadas entidadese profissionais em contato com outros atores sociais noespaço público ou privado (LEONARDI, 1999). Ou sim-plesmente aquele processo que se destina à comunidadecomo um todo (MMA, 2001).
296 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade: enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação...
Ambientais, vem desenvolvendo um conjunto deestratégias educacionais para o estabelecimen-to do Conselho Gestor da referida APA. Paratanto, a equipe tem promovido diagnósticos,discussões e processos de capacitação em 55comunidades rurais dos dez municípios envol-vidos na APA.
O diálogo entre os professores da UEFS eos técnicos do CRA, que originou o convênioque visa a promoção do projeto de educaçãoambiental para a implantação do ConselhoGestor da APA, foi tomado por ruídos, tantoquanto à epistemologia quanto às metodologiasem educação ambiental para a sustentabilidade.Para alguns, as estratégias deveriam ser maiscentradas no aporte de conteúdo em ecologia elegislação, para outros na mobilização de von-tades a partir das reflexões sobre a realidadepercebida localmente; outro ruído relacionou-se à intensidade de ações no âmbito comunitá-rio versus uma concentração destas junto aosrepresentantes das associações e do poder pú-blico no âmbito do município. Apesar disso oconvênio que viabiliza o projeto foi assinado eagora, durante o processo, percebem-se, em altoe bom tom, o significado e a repercussão destasdissonâncias aparentemente fúteis. Trabalhá-lasantes de tramitar um convênio, no entanto, po-deria ser visto como academicismo ou falta depragmatismo, típicas do meio universitário. Ametodologia desenvolvida pelo grupo da UEFStem soado excessiva e exaustiva para as demaispartes, a falta de palestras sobre educação e le-gislação ambiental é muitas vezes cobrada, tantoque para alguns “nem parece educaçãoambiental”.
Temos visitado cada uma das comunidadesrurais, reunido os moradores, apresentado o nos-so trabalho e diagnosticado, participativamente,inúmeros aspectos da realidade local (educação,saúde, ambiente, estrutura, organização, lazer,economia e renda). Um dos focos principais temsido a organização do trabalho e aspectos rela-cionados à qualidade da representação local emoutros fóruns de negociação. De cada comuni-dade saímos com um quadro diagnóstico e qua-tro representantes que serão capacitados para
compor sub-foruns municipais e o futuro Con-selho Gestor.
A visão primeira, de fora do processo, é queos moradores são responsáveis por tantos pro-blemas ambientais que sob o ponto de vista dosinteresses da APA a receita seria primeiro a “edu-cação” (“por bem”) para que todos saibam “oque podem” e “o que não podem” fazer e, emsegundo lugar, viria a legislação (“por mal”)para que aqueles que, mesmo sabendo, não agemadequadamente, sejam punidos pois não têmmais “a desculpa da ignorância”. A visão doprocesso, à luz das reflexões contidas neste tex-to expõe, neste caso específico, outros aspec-tos:1) grande parte dos problemas locais derivam
da questão fundiária, ou seja, pouca terra(menos de dois hectares por família), o queinviabiliza um manejo ambientalmente ade-quado;
2) baixa renda é base para um extrativismoabusivo de recursos comuns (peixe, lenha,caça);
3) o tecido social esgarçado prejudica a possi-bilidade do surgimento de práticas para asustentabilidade e a superação dos proble-mas comuns dentro e entre as comunida-des;
4) a baixa capacidade estrutural, decapacitação e os poucos recursos das pre-feituras e órgãos públicos dificultam a so-lução de problemas que exigem ações alémdas capacidades locais;
5) há, muitas vezes, nas comunidades, profun-da consciência e “sensibilidade” para osproblemas ambientais existentes, mas fal-tam poder, capacitação, recursos e organi-zação social para resolvê-los.
No geral, percebemos que os desafios vãoainda além: a) como estratégias locais podemser efetivas frente a uma realidade condiciona-da pelo sistema de modo sistêmico-articulado?b) como resgatar a humanidade nas discussõessobre as finalidades do desenvolvimento local?c) como produzir e/ou estimular a constituiçãode redes? d) como deflagrar/ influenciar políti-cas públicas? e) como estimular a constituiçãode parcerias fundamentadas em princípios e
297Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Luiz Antonio Ferraro Júnior
objetivos negociados e não em circunstâncias eoportunismos?
Proposições gerais a partir destabreve análise
As intervenções educacionais para asustentabilidade exigem, em primeiro lugar, a“desdogmatização”, a construção de uma pos-tura voltada à mediação e à produção de umdiscurso “terapêutico” (conceito de Habermas)no qual:1) a comunidade (rural, urbana, da escola, do
hospital, do bairro...) se reconheça na his-tória, na realidade e no destino partilhados.Este reconhecimento pode contribuir paraa recostura do tecido social, para a criaçãoe/ou fortalecimento de espaços de convívioe/ou diálogo visando enfrentamento da rea-lidade distópica e também na busca das uto-pias coletivas;
2) haja uma capacitação local para produzirnovos acordos (códigos sociais e de postu-ras), projetos, ações e negociações;
3) mapeiem-se os obstáculos objetivos, estru-turais e políticos, conforme a transforma-ção desejada para assim possibilitar ainstrumentalização local paraenfrentamento;
4) sejam as estratégias de enfrentamento aque-las que orientem a construção do currículoda Educação Ambiental nos espaços for-mais; ou seja o currículo mínimo é mesmomínimo, o restante do currículo deve serauto-gerido (negociado e acessado) dentrodo contexto das necessidades de reflexõescoletivas, como em qualquer comunidadeque vê, julga e age sobre sua realidade;
5) percebam-se as relações desta comunidadecom outras e com decisões tomadas fora deseu espaço (heteronomia), assim como suainfluência sobre outros espaços.
A sustentabilidade progressiva relaciona-se,destarte, à recostura do tecido social, para quevenham a surgir comunidades que produzindosua cultura, suas políticas, suas tecnologias, seuconhecimento acerca do ambiente, possam exis-tir e perdurar com qualidade de vida. A partici-
pação de cada indivíduo, neste processo, não évista apenas como mera obrigação política, ne-cessidade anti-distópica (contra o pesadelo darealidade) mas como imanente à sua condiçãohumana, à alegria de viver sem ser governado,de poder em comunhão com os seus buscar uto-pias e sonhos (SAWAIA, 2000). Só a possibili-dade de voar e sonhar pode enraizar e compro-meter o indivíduo com seu espaço. Quem seri-am “os seus” com os quais cada indivíduo háde produzir, em comunhão, a dinâmica social eambiental? A comunidade teria inúmeros recor-tes possíveis, do indivíduo à família, ao conjun-to de famílias de um local, ao conjunto de famí-lias de um município, de uma APA, ao conjuntodos atingidos por barragens, ao conjunto dossem-terra do país, ao grupo etário, ao grupo degênero, ao grupo de interesses/sonhos. Todosdevem produzir seu convívio, suas práticas co-operativas, sua cultura, seus meios, tecnologiase solidariedade.
O desafio metodológico encontra então oconceito de rede, rede de escolas (não me refiroà estadual de ensino que hoje encontramos), demovimentos sociais, de universidades.
Assim a proposta de Sociedades Sustentá-veis exige uma absoluta endogenia do processopara construção de Sociedades Sustentáveis,num resgate das dimensões cultural, política,tecnológica e ambiental local. A base para oprocesso está na construção de espaços, nosquais surja a irreprimível motivação da eman-cipação política, cultural, tecnológica, econô-mica e ambiental, e na conseqüente articulaçãode uma comunidade de riscos compartilhados(conceito de Habermas). Tal caminho exige umaparticipação qualitativa, em termos derepresentatividade, legitimidade, capilaridade(diálogo permanente com a base) e planejamen-to. “Sociedades Sustentáveis” contempla e exi-ge a bio e sócio-diversidade. O caminho para aefetiva e pragmática solidariedade diacrônicaestaria pavimentado pelo fato de que nas lógi-cas locais a racionalidade econômica não seriahegemônica mesmo que presente. A endogeniae a tendência à restrição da circulação de ener-gia e matéria levariam a uma adequação à 2ª
298 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade: enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação...
Lei da termodinâmica (da entropia), inspiradana sintropia dos sistemas naturais. A Agenda21 Global seria então uma rede dinâmica deSociedades Sustentáveis na qual flui informa-ção e delineiam-se as estratégias comuns a se-rem desenvolvidas numa lógica sistêmica e nãocurativa, estilo “Fix the Fail”. Podemos inferirque a proposta de Sociedades Sustentáveis éantagônica à idéia de globalização, da qual aproposta de Desenvolvimento Sustentável é ali-ada.
Um dos principais desafios da proposta So-ciedades Sustentáveis, além do seu absolutoalheamento dos debates globais e governamen-tais e da marginalização destes, é incluir as pre-ocupações de Adorno, Horkhermer, Marcuse,Capra, Boff no que tange à superação,ontológica e epistemológica, da cisão socieda-de e natureza, e no que diz respeito ao estabele-cimento também de uma efetiva solidariedadeinter-específica.
Onze proposições de indicadoresgerais para os processos (interven-ções e projetos) educacionais para asustentabilidade
Ao final, alguns indicadores gerais (ou tal-vez devam ser entendidos como estratégias, oueixos articuladores) que sinalizam a construçãode uma educação para a sustentabilidade rela-cionada à autonomia de comunidades na pro-dução indissociável de cultura-tecnologia eambiente. Assim, são interessantes os proces-sos que:1. proporcionam o resgate (ou talvez seja mais
adequado dizer revalorização) e levanta-mento, não mitificador, de tradições e co-nhecimentos que possam contribuir combases para a produção de cultura etecnologia apropriadas às aspirações soci-ais e ao ambiente local; assim como contri-buir para o reforço da percepção de que acomunidade, destarte, não partilha só umespaço mas também uma história e um des-tino comuns;
2. promovem a produção de conhecimento lo-cal sobre os aspectos pertinentes da reali-
dade, o entendimento dos aspectos e de suasmúltiplas relações, destacadamente da eco-logia, da história do ambiente e dos proces-sos que produziram a heteronomia que sedeve enfrentar;
3. contribuem para a geração de processosautônomos na busca e acesso a informaçõespertinentes;
4. induzem a um incremento da qualidade dosespaços de participação, entendidos comoparticipação da base, legitimidade de repre-sentantes, transparência de procedimentos,participação nos planejamentos (DEMO,1996);
5. comprometem-se com a inclusão de grupossocialmente vulneráveis, como idosos, mu-lheres, jovens e crianças, pobres, analfabe-tos, não-brancos, inclusive como parte daestratégia de ruptura com a lógica daracionalidade instrumental que é usualmentereforçada pelos grupos dominantes;
6. corroboram o aumento de conexões e dapercepção das conexões sociais e ambientaisno local, regional, nacional e global, con-firmando a reinvenção da comunidade en-quanto partilha de histórico e/ou presentee/ou futuro comuns;
7. auxiliam na produção de uma nova relaçãosociedade-natureza, não apenas da inserçãode elementos da natureza nos processos detomada de decisão, mas que, além disso, sejapragmática e fundante de novasmetodologias e tecnologias (nunca apenasnuma semiótica meramente instru-mentalizante), e que promova uma novaracionalidade, também poética, estética ereligiosa enquanto transcendência da con-dição humana;
8. levam à inserção dos grupos autônomos emredes de interesse e de negociação políticaprincipalmente quando há interferênciasecológicas entre estes grupos que levem àconstituição de práticas cooperativas e no-vas políticas públicas;
9. propiciam uma maior percepção sistêmicada problemática enquanto imbricamento dosaspectos da realidade que se auto-reforçame se condicionam; ou seja a realidade é um
299Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Luiz Antonio Ferraro Júnior
sistema e, desta forma, necessitamos deum planejamento anti-sistêmico, compre-endendo-se que o sistema só pode ser en-frentado num anti-sistema que seja tam-bém imbricado, com aspectos mutuamentereforçados;
10. convergem para uma capacitação, para aexperimentação e produção de tecnologias
locais apropriadas (definidas por Viezzer,1995, e Sachs, 1986);
11. apoiam claramente o planejamentoparticipativo e a ação para a resolução deproblemas concretos (ver Cavalcante &Ferraro, 2002);
12. sugiram os seus a partir dos princípiosenunciados no texto...
REFERÊNCIAS
ALVES, Rubem. Por uma educação romântica. Campinas: Papirus,.2002.
BRUNDTLAND, Gros (Coord.). Nosso futuro comum. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e De-senvolvimento. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991.
CARDOSO, Fernando H.; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América Latina. 7. ed..Rio de Janeiro: Zahar, 1984;
CARVALHO, Isabel Cristina M. A invenção do sujeito ecológico: sentidos e trajetórias em educaçãoambiental. Porto Alegre, 2001. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação da UFRGS.
CAVALCANTE, Ludmila Oliveira Holanda; FERRARO JÚNIOR, Luiz Antonio. Planejamentoparticipativo: uma estratégia política e educacional para o desenvolvimento local sustentável (Relato deexperiência do programa comunidade ativa). Educação & Sociedade, Campinas, v.23, n.81, p.163-190,dez. 2002
DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. São Paulo: Cortez, 1996. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo,104).
DIEGUES, Antonio Carlos Sant’Ana. Ecologia humana e planejamento em áreas costeiras. 2. ed. SãoPaulo: NUPAUB/USP, 2001.
GALVANI, Pascal. Auto-formação: uma perspectiva transpessoal, transdisciplinar e transcultural. In:ENCONTRO CATALISADOR CETRANS DA ESCOLA DO FUTURO DA USP, 2. Guarujá, 2000.Anais...Guarujá: USP, 2000. (Palestra).
GOLDEMBERG, José. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: Editora da USP, 1998.
GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas: Papirus., 1990.
GUIMARÃES, Roberto P. A assimetria dos interesses compartilhados: América Latina e a agenda globaldo meio ambiente. In: LEIS, Hector R. (org.). Ecologia e política mundial. FASE-PUC-RJ. Rio de Janei-ro: Vozes, 1991. p. 99-134.
GUTIERREZ, Francisco Cruz Prado. Ecopedagogia e cidadania planetária. 2. ed. São Paulo: Cortez:Instituto Paulo Freire, 2000.
IANNI, Octavio. A sociedade global. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1997.
IANNI, Octávio. A era do globalismo. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1999.
LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: racionalidade ambiental, democracia participativa e desen-volvimento sustentável. Blumenau: Ed. da FURB, 2000.
300 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Indicadores de processos em educação para a sustentabilidade: enfrentando a polissemia do conceito pela vinculação...
LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001.
LEIS, Héctor R. A modernidade insustentável: as críticas do ambientalismo à sociedade contemporânea.Petrópolis: Vozes; Santa Catarina: Editora da UFSC, 1999.
LEITE, A.L.T. de A. & MININNI-MEDINA, N. (orgs.) Educação Ambiental: curso básico a distância:educação e educação ambiental II. 2.ed. ampliada. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2001.
LEONARDI, Maria Lúcia Azevedo. A educação ambiental como um dos instrumentos de superação dainsustentabilidade da sociedade atual. In: CAVALCANTI, Clóvis. Meio Ambiente, Desenvolvimento Sus-tentável e Políticas Públicas. 2.ed. São Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1999. p.391-408.
MARQUES, José Geraldo W. Dinâmica cultural e planejamento ambiental: sustentar não é congelar. In:BASTOS Filho, J.B. et al. (orgs.). Cultura e desenvolvimento: a sustentabilidade cultural em questão.Maceió: PRODEMA: UFAL, 1999. p.41-68.
MARTINEZ-ALIER, Joan. Da economia ecológica ao ecologismo popular. Blumenau: Editora da FURB,1998.
_____. Justiça Ambiental: local e global. In: CAVALCANTI, Clóvis. Meio Ambiente, DesenvolvimentoSustentável e Políticas Públicas. 2.ed. São Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1999. p.215-231.
PÁDUA, José Augusto Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista,1786-1888. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
PEDRINI, Alexandre Gusmão (org.) Educação Ambiental: reflexões e práticas contemporâneas. 3. ed.Petrópolis: Vozes, 1997.PRIGOGINE, Ilya. Arquiteto das Estruturas Dissipativas. In: Do Caos à Inteligência Artificial: Entrevis-tas de Guitta Pessis-Pasternak. São Paulo: Editora da UNESP, 1993. p. 35-
SACHS, Ignacy. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. São Paulo: Vértice, 1986.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo:Cortez, 1997
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 2. ed. São Paulo: HUCITEC,1997.
SAWAIA, Bader Burihan. Comunidade: a apropriação científica de um conceito tão antigo quanto ahumanidade. In: CAMPOS, Regina Helena de Freitas (org.). Psicologia Social Comunitária: dasolidariedade à autonomia. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1996. p.35-55.
_____. Participação e Subjetividade In: SORRENTINO, Marcos (org.). Ambientalismo e participação nacontemporaneidade. São Paulo: EDUC: FAPESP, 2001. p.115-134.
SCHUMACHER, Ernst Friedrich. O negócio é ser pequeno: um estudo de economia que leva emconsideração as pessoas. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.
SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. 2. ed. São Paulo: Loyola: CENTRO JOÃOXXIII, 1996.
SORRENTINO, Marcos. Educação ambiental e universidade: um estudo de caso. São Paulo: 1995. Tese(Doutorado): Faculdade de Educação-USP.
TASSARA, Eda Terezinha de Oliveira. O discurso ambientalista como estratégia de dominação. SãoPaulo: Laboratório de Psicologia Ambiental do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo,
301Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 281-301, jul./dez. 2002
Luiz Antonio Ferraro Júnior
2000. (Mimeografado).
THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais(1500-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
VIEZZER, Moema; OVALLES, Omar. Manual Latino-americano de Educ-Ação Ambiental. São Paulo:Gaia, 1995. Recebido em 25.10.02
Aprovado em 06.03.03
303Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Marco Antonio Tomasoni & Sônia Marise Rodrigues Pereira
ECOLOGIA, ÉTICA E AMBIENTALISMO:
prefácio de suas ambigüidades
Marco Antonio Tomasoni *
Sônia Marise Rodrigues Pereira Tomasoni **
RESUMO
Este artigo pretende discutir alguns conceitos envolvidos na discussão da ques-tão ambiental, e também refletir sobre aspectos de sua aplicabilidade, pois en-tendemos que a problemática da natureza não pode ser abordada em separadoda reflexão sobre as relações entre sociedade e natureza. Urge uma rupturacom posturas utilitaristas sobre como definimos natureza e ambiente. A con-cepção sujeito-objeto empregada na análise das questões sobre sociedade e na-tureza, arquitetada pela visão dicotômica de mundo, começa a dar lugar a umavisão de um mundo mais complexa, a partir da contribuição de diversos cam-pos do conhecimento. Segundo Rohde (1998), estes avanços se dão nas áreasda Teoria do Conhecimento, com a teoria da auto-organização, na busca de“um novo método” e na construção do paradigma holístico; no Campo Sistêmico;no Campo Matemático, com Caos e Fractais e a Teoria da Catástrofe; no Cam-po Físico; no Campo Biológico, com a Teoria de Gaia, entre outros.
Palavras-chave: Meio ambiente – Ecologia – Ambientalismo – Sustentabilidade
ABSTRACT
ECOLOGY, ETHICS AND ENVIRONMENTALISM: preface of their am-biguities
This article intends to discuss some concepts involved in the discussion of theenvironmental matter, and also reflect on the aspects of its applicability, as weunderstand that the problematic of nature cannot be approached separately fromthe reflection on the relations between society and nature. A rupture with utili-tarian postures over how we define nature and environment is necessary. Thesubject-object conception employed in the analysis of the questions involvingsociety and nature, designed by the dichotomic view of the world, begins to
∗ Mestre em Geoquímica e Meio Ambiente pela UFBA, Professor Assistente do Departamento de Geogra-fia da UFBA. Endereço para correspondência: Instituto de Geociências, Rua Caetano Moura, 123, Federa-ção – 40210.350. E-mail: [email protected]
∗∗ Mestre em Geografia pela UFBA, Professora Assistente do Curso de Geografia e Especialização em“Desenvolvimento Regional Sustentável” do Campus V da Universidade do Estado da Bahia – UNEB.Endereço para correspondência: Loteamento Jardim Brasil, s/n – 44570.000 Santo Antônio de Jesus/BA.E-mail: [email protected]
304 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Ecologia, ética e ambientalismo: prefácio de suas ambigüidades
give place to a more complex view of the world, departing from the contribu-tion of diverse fields of knowledge. According to Rohde (1998), these advancestake place in the areas of the Theory of Knowledge, with the theory of self-organization, in the search for “a new method” and in the construction of theholistic paradigm, in the Systemic Field, in the Mathematics Field, with Chaosand Fractals and the Theory of Catastrophe, in the Physics Field and in theBiology Field, with the Theory of Gaia, among others.
Key words: Environment – Ecology – Environmentalism – Sustainability
SIMBOLOGIA E CIÊNCIA
Em 1866, o biologista alemão E. Haeckelempregou pela primeira vez a palavra Ecolo-gia, cunhada a partir da junção de “duas pala-vras gregas: οιχóζ (oíkós) que quer dizer casa,e λογóζ (lógos) que significa ciência, discur-so”, ou simplesmente “estudo da casa”, ou ain-da “Ciência do Habitat ou mais apropriadamentediscurso racional sobre o habitat” (DAJOZ,1983, p.13-14). No clássico dicionário ‘Auré-lio’ (1986, p. 617) a palavra ecologia tem a se-guinte definição: “estudo da planta, do animalou do homem em relação com o meio ou com oambiente; estudo de um grupo territorial natu-ral, no conjunto de suas relações com o meiogeográfico e das condições de vida social.”
Ainda, como definições próximas da ecolo-gia, afirma-se que ela “não separa o ser vivo deseu contexto, mas o estuda em sua totalidade”(DAJOZ, 1983, p.14). Quando falamos em servivo, torna-se importante diferenciar a sua “con-cepção entre o fisiologista e o ecologista, queestudam o mesmo ser vivo”. O primeiro coloca-o “em condições artificiais e o analisa”. Já “oecologista considera o ser vivo no mundo ondeestão em ação forças incessantemente variáveis”(DAJOZ, 1983, p.16). Invariavelmente a eco-logia apresenta-se nas suas subdivisões: auto-ecologia; dinâmica das populações e sinecologia;a tendência de estudar “as relações de uma úni-ca espécie com seu meio; a descrição das varia-ções da abundância das espécies e análise das
relações entre os indivíduos pertencentes às di-versas espécies de um grupo e seu meio”(DAJOZ, 1983, p.17-18).
O sentido dado à ecologia permitiu a suaconsagração e visibilidade como a “ciência doambiente”, mesmo que pautada numa visão par-cial da totalidade das relações sociedade-natu-reza, forjando, portanto, uma inversão (propo-sital ou não) da questão ambiental em questãoecológica. Mas este é um assunto a ser tratadoadiante.
Outro ponto que merece uma prévia discus-são é o uso do conceito de “meio ambiente”,pois sobre este recai uma série de conotaçõespouco científicas e nem sempre precisas. Entreas várias definições encontradas temos: 1. Açãode situar-se no entorno; arredores de um local.2. Conjunto das condições naturais (físicas,químicas, biológicas), culturais (sociológicassuscetíveis de influenciar os organismos vivose as atividades humanas. 3. Conjunto dos ele-mentos do meio que um animal pode perceber.A distinção de meio aproxima-se fortemente danoção dada pela ecologia, ou seja: meio é tudoaquilo que cerca o ser vivo. Neste sentido, o servivo pode encontrar-se “envolto” de ar (mesmoconsiderando espécies de hábitos cavernícolasou terrícolas). Christofoletti (1994, p.32), aodiscutir o conceito de ambiente, enfatiza duasabordagens principais do problema: a primeirapossui significância biológica e social e valorantropocêntrico, evidenciando o contexto e re-lações que envolvem o ser vivo; a segunda con-
(...) reina em todo o universo uma atividade espantosa, que nenhuma causa pareceenfraquecer, e tudo quanto existe parece constantemente sujeito a uma transformação
necessária. (Lamark)
305Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Marco Antonio Tomasoni & Sônia Marise Rodrigues Pereira
sidera a funcionalidade interativa da geosfera-biosfera, com enfoque sobre “unidades de or-ganização” com ou sem a presença humana. Estaidéia nos remete ao geossistema como unidadeque espelha uma certa organização e particula-ridades.
Assim, propomos que o conceito de “meioambiente” é insuficiente para tratar da amplagama de questões envolvidas na pesquisa sobreas relações entre sociedade e natureza. Jollivete Pavé (1997) levantam alguns questionamentosrelativos à pesquisa sobre meio ambiente quenos interessam sobremaneira, pois dizem res-peito à fundamentação metodológica econceitual do problema, que não é somente deordem etimológica. Os autores (1997, p.55) in-dagam se é possível “delimitar o campo de pes-quisa específica sobre meio ambiente” e qualentão seria o paradigma norteador deste cam-po? Seguindo este raciocínio, os autores Jollivete Pavé discutem que o termo meio ambiente jun-tou-se “aos termos natureza e meio natural e,de uma certa maneira, os generalizou” (1997,p.56). Concordamos com tal assertiva, pois oque encontramos em seu uso corrente é real-mente uma confusão generalizante esimplificadora.
Podemos, então, perceber o sentidopolissêmico de “meio ambiente”, especialmentequando tentamos compreendê-lo no âmbito deoutras áreas do conhecimento. Outra referênciaquanto à dificuldade em se estabelecer uma con-cepção única sobre meio ambiente reside da“dificuldade de se distinguir, por um lado, asflutuações e a variabilidade dos sistemas natu-rais e, por outro lado, os efeitos induzidos pelaação humana” (JOLLIVET e PAVÉ, 1997,p.60), o que implica no conhecimento da com-plexidade de escalas espaço-temporais e os di-versos níveis de organização dos seres vivos.Essa complexidade de escalas implica em co-nhecer os diversos níveis de interferência e dosmecanismos e processos responsáveis pela di-nâmica dos sistemas ambientais. Entender comoocorrem essas relações do “nível local ao glo-bal, do intervalo de um segundo à era geológi-ca, da macromolécula aos ecossistemas, às pai-
sagens, ou mesmo à biosfera vista como umtodo” (JOLLIVET e PAVÉ, 1997, p.62) é umatarefa extremamente complexa, talvez aí nosaproximemos mais da concepção de Gaia.
ECOLOGIA: CRÍTICA RADICAL
Aquele que tem como objeto de estudo a eco-logia é um ecólogo; já o ecologista define-semuito mais como um ideólogo e militante, quenão é necessariamente um cientista. No sentidopejorativo, os ecologistas apareciam como aque-les “que incomodam porque não chegamos aclassificá-los nas categorias tradicionais: mo-vimento político, movimento social, corrente deidéias, eles são tudo ao mesmo tempo” (DUPUY,1980, p.22). Durante muito tempo tentou-sedescaracterizar o caráter contestatório e políti-co do movimento ecológico/ambientalista, poisa ferocidade de sua crítica e suas posturas arra-nhavam violentamente o estado autoritário,violentador dos direitos humanos e degradadordo ambiente. A crítica à sociedade industrial eseu desdobramento para uma “sociedadecomucacional” (DUPUY, 1980, p.23) deu mui-to mais amplitude ao movimento social e en-cheu-o de diversidade e contradições e, porquenão dizer, também oportunismos e oportunistasque, com jargões e clichês, militam em causaprópria.
O que pouco se discute é que a crítica origi-nal realizada nos primórdios da contraculturacontinua válida em todas as suas premissas,especialmente porque o que vemos hoje, em ter-mos de organização política e econômica emescala global, não é um novo sistema ou novomodo de ver o mundo como querem os simplistasideólogos. O “capitalismo ecológico” (sic), maisapropriadamente o da “Maquiagem Verde”1,toma para si parte importante neste cenário ebusca inverter e reorientar a crítica original dascontradições inerentes ao próprio capitalismo,
1 Terminologia utilizada pelo movimento ecológico paradesignar ações contraditórias entre um discurso e umaprática, no que tange a conservação ou preservação danatureza.
306 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Ecologia, ética e ambientalismo: prefácio de suas ambigüidades
contradições essas impossíveis de serem supe-radas enquanto modelo predatório e degradadorda natureza. O que se tem é na verdade areorientação de um sistema que nada se com-promete em mudar seu estilo inexorável de “acu-mulação de capital e desacumulação de meioambiente” (SAMORRIL, 1982, p.98). A esta-bilidade deste estilo de desenvolvimento consis-te em reorientar sua produção para formasambientalmente corretas e relocalizar a produ-ção em escala mundial.
A propalada globalização é parte de umaestratégia de continuidade deste estiloconflituoso de desenvolvimento. Ela exige: a)uma “cartelização geral na produção; b) umaprogramação planetária da repartição e utiliza-ção dos recursos (renováveis e não-renováveis);c) uma planificação das técnicas e dos preços:em suma, todos os elementos de um capitalis-mo não concorrencial de não-crescimento”(DUPUY, 1980, p.27). Esta visão retoma cla-ramente o relatório ̀ Meadows´ (limites do cres-cimento) do Clube de Roma, pois o mesmo jáapontava para um “crescimento zero” como al-ternativa para o capitalismo nos anos 70.
Uma reflexão mais atenta sobre estas estra-tégias, especialmente a do item b, coloca clara-mente a perspectiva de internacionalização deregiões estratégicas como a Amazônia brasilei-ra e de intervenções para controle dabiodiversidade e fontes energéticas sobre asdiversas áreas do planeta, visando assumir a‘paternidade’ internacional na gestão dos recur-sos naturais. Esta “salvaguarda” de recursosnaturais para as gerações futuras, propalada pordeterminados países, nos mostra que o que seavizinha, em termos de uma política internacio-nal sobre recursos naturais, nada mais é que umcaminho de restrições e dificuldades para aque-les que não se enquadrarem no modelo propos-to pelos países do norte. Esta “nova” forma decontrole é batizada por Dupuy de Ecofascismo,ou seja: de acesso tutelado por parte de quem de-tém o controle e o poder econômico e o poder deveto na ONU, cujo ar de neutralidade colaborafielmente com a continuidade do modelo hoje cri-ticado e onde organizações como o BIRD e o FMItêm o livre acesso e controle planetário.
Aos países detentores de biodiversidade,notadamente alguns em desenvolvimento, comoo Brasil, atribuía-se, até recentemente, a possi-bilidade de virar a mesa neste século XXI e depoder ditar algumas regras do jogo global, poistínhamos nas mãos o “tesouro” de que os “mo-dernos piratas” do norte estão atrás: abiodiversidade. A quebra da dimensão territoriale da territorialidade das nações e indivíduos pro-duz a possibilidade do acesso ilimitado dos pa-íses ricos aos recursos ambientais planetários,usurpando conhecimento ancestral pertencenteàs populações tradicionais (índios, populaçõestradicionais, etc), e criando mecanismosinstitucionais e legais como a aberrante lei depatentes e as dezenas de vetos na lei de crimesambientais. São exemplos claros de que não al-cançamos uma autonomia e um pensar capazde gerar uma autonomia nacional; tampoucocriamos uma idéia de solidariedade planetária,pautada nos princípios da “identidade terrena”de Morin; apenas submetemo-nos cegamente àsdiversas formas de dominação dos agentes eco-nômicos internacionais.
ALGUNS PONTOS DO DEBATEAMBIENTALISTA
Os principais temas com que o movimentoambientalista se preocupou ao longo de sua tra-jetória são os seguintes:
• a questão da sobrevivência da humani-dade;
• a crítica ao fetichismo das forças produ-tivas e a crítica da economia;
• a crítica das ferramentas e do modo deprodução industrial;
• a crítica ao estado e à heteronomia polí-tica.
Sobre estes quatro pontos, que obviamentepodem ser desdobrados em uma série de itens,passam a existir uma reflexão e uma posturaque se tornam condição primeira de autentici-dade do movimento ecológico.
A questão da sobrevivência da humanidadeevoca a idéia de unicidade da Terra enquantototalidade indissociada (Gaia) e torna-se o pon-
307Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Marco Antonio Tomasoni & Sônia Marise Rodrigues Pereira
to chave da discussão. Ela suscita a idéia dodivórcio entre o estilo de desenvolvimento e acapacidade de suporte da Terra, bem figuradana tragédia dos comunais, onde “para impedirque os outros tirassem vantagem das pastagenscomunais, mais do que ele próprio, cada qualpõe o mais rapidamente possível o maior núme-ro de vacas. Resultado: os pastos são arruina-dos e as vacas perecem” (DUPUY, 1980, p.30).Neste ponto aparecem os grandes temas dasmudanças globais e seus impactos sobre a hu-manidade: o aquecimento global, adesertificação, os hazards2, etc.
A crítica ao fetichismo das forças produti-vas e da economia, detectadas como mecanis-mo principal da destruição em escala global,motivada pelo consumismo e pela agregação devalor de uso falacioso, as mercadorias, etc.
Um novo estilo de desenvolvimento não podenascer de quem possui uma prática política datruculência sobre as possibilidades concretas dedesenvolvimento da imensa maioria da popula-ção mundial. O novo estilo não pode nascer dequem condena os outros à miséria humana eambiental e ainda se intitula de protetor dos in-teresses globais. Acreditar que os países deten-tores dos mecanismos de espoliação do futurodas próximas gerações, ao condená-las a pagardívidas impagáveis e a financiar a especulaçãoem escala global, possam realmente ser condu-tores na busca da sustentabilidade, é acreditarem Papai Noel e em renas voadoras.
Ainda sobre este ponto, reside uma idéia de2 Termo da língua inglesa que exprime fenômenos natu-rais catastróficos de grandes dimensões.
A crítica das ferramentas e do modo de pro-dução industrial é a crítica às formas utilitáriase degradadoras da apropriação dos recursosnaturais, a obsolescência planejada que com-promete recursos naturais em um consumo per-dulário e desnecessário, etc.
A crítica feita ao estado e à heteronomiapolítica, que diz respeito à forma autoritária comque se dá a relação entre estado e sociedade,onde o primeiro inegavelmente torna-se apenasmecanismo de manipulação de uma elite que seesconde sorrateiramente por trás do manto no-bre da “neutra” iniciativa privada.
Temos hoje a inexorável necessidade do fimdo modelo de desenvolvimento proposto pelospaíses do norte, pois seus padrões de consumosão intangíveis ao planeta, como podemosvisualizar no Quadro 01.
que só poderemos atingir a sustentabilidadeambiental se chegarmos primeiro àsustentabilidade econômica. Ora, ninguém se-ria ingênuo em pensar que poderíamos conven-cer quem quer que seja a abrir mão dos seusmeios de sobrevivência em prol de “árvores oubichos”. O discurso que propala aos quatro ven-tos que somente à luz da teoria econômica po-deremos sair da “rota de colisão do planeta” éfalacioso e contraditório. O atual estágio de usoe apropriação dos recursos naturais permite
10ordauQ sotudorpsnuglaedlaidnumomusnocodoãçiubirtsiD-
otudorPsedadinUomusnocatipacrep
sodivlovnesedsesíaP).popad%62(
otnemivlovnesedmesesiaP).popad%47(
-noconoãçapicitraP)%(laidnumomus
rePatipac
onoãçapicitraP-noc
)%(laidnumomus
rePatipac
sairolaC aid/lacK 43 593.3 66 983.2lepaP ona/gK 58 321 51 8
sosrevidsiateM ona/gK 68 62 41 21.cremocaigrenE ona/ectM 08 8,5 02 5,0
oelórteP sadalenoT 67 - 42 -)odatpada-63.p,8891(DAMUNC:etnoF
308 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Ecologia, ética e ambientalismo: prefácio de suas ambigüidades
observar que, dos quatro pontos do debateambientalista, pelo menos dois deles mostramclaramente a contradição do atual sistema eco-nômico e político. Sendo assim, somente as suasferramentas são inúteis para combater a criseambiental. As teorias de valor econômico domeio ambiente não conseguem “arbitrar o valoreconômico” do meio ambiente, simplesmenteporque as gerações futuras não estão “senta-das” para definir o que querem fazer dele e comele, isso se não quisermos estabelecer valoresde demanda futura, o que é extremamente com-plicado do ponto de vista da contabilidadeambiental. Os parâmetros hoje utilizados sãoequivocados se quiserem convencer, por exem-plo, pequenos produtores a proteger suas nas-centes, remanescentes de matas, pastos, etc,somente se enxergarem neles uma fonte de lu-cro. Obviamente a proteção ambiental não seráconseguida apenas com consciência ecológicade cunho preservacionista, mas não podemoscrer que o único caminho seria o possível lucroa ela atribuído.
PONTUAÇÕES SOBRE SUSTEN-TABILIDADE: PRINCÍPIOS E CONCEI-TOS .
A Sustentabilidade Ambiental
O conhecimento acumulado ao longo tempo‘parece’ indicar que existem importantes limi-tações no planeta, limitações estas não apenasde caráter tecnológico, associadas à forma deutilização dos recursos, mas também dos pró-prios sistemas naturais. Esta questão remete-nos a avaliar melhor a dimensão do conceito deCapacidade de Suporte, imprescindível no re-pensar das possibilidades concretas da continui-dade da organização humana. Falar sobre a exis-tência de limites parece evocar Malthus em suatentativa apocalíptica de decretar o esgotamen-to dos recursos da Terra face ao crescimentogeométrico da população e aritmético dos re-cursos, ou a reedição e apresentação dos “Li-mites do Crescimento” (Meadows, 1972) peloClube de Roma, e a Iª Conferência Mundialsobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Hu-
mano, ocorrida na cidade de Estocolmo em1972, cuja conotação política foi bem desmas-carada. Recentemente, o “Nosso Futuro Co-mum” (CNUMAD, 1988) vem refletir sobre amesma problemática, a da sobrevivência huma-na, apontando caminhos questionáveis ou duvi-dosos.
No campo das ciências, importantes contri-buições são feitas no sentido de compreender osmecanismos gerais de funcionamento da natu-reza, buscando retirar assim sua visão mítica.Vale resgatar a “teoria geral dos sistemas”, avisão “ecodinâmica e geossistêmica”, entre ou-tras contribuições importantes, que visam evi-denciar o caráter integrativo/interativo,sistêmico e sinergético não só da natureza, comotambém dos efeitos do modelo de desenvolvi-mento sobre os recursos; portanto, das relaçõesentre sociedade e natureza em um sentido maisamplo.
Princípios da Sustentabilidade
Por tratar-se de um atributo que independeda ação humana, a sustentabilidade pode serentendida como busca na geração de “passivosambientais3” próximos a zero, ou seja, respei-tando a capacidade de suporte dos espaçosterritoriais.
A sustentabilidade ambiental depende daintegridade dos elementos que compõem o sis-tema, devendo proporcionar a realização dosuporte de energia ambiental, suporte às rela-ções ambientais, suporte ao desempenhoambiental e suporte à evolução no ambiente.Significa dizer que a energia física, química,biológica e “antropogênica” devem realizar-sede maneira a não inibir ou desfuncionalizar opotencial dos fatores ambientais básicos (ar,água, solo, fauna, flora e homem), levando à“realização das suas auto-capacidades, expres-sas pela adaptação, pela auto-organização e pelaauto-superação” (MACEDO,1996, p.26) dossistemas ambientais inscritos no território ana-lisado. Juntamente com a figura dos passivos
3 Analogia à nomenclatura contábil, ou seja, quanto mai-or o impacto maior é o passivo a ser solucionado.
309Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Marco Antonio Tomasoni & Sônia Marise Rodrigues Pereira
ambientais reduzidos, aparece a da correçãoecológica, que visa a mitigação dos impactosambientais e a otimização na gestão ambientalde territórios, cujos instrumentos práticos são ozoneamento ambiental e os projetos de Desen-volvimento Sustentável, entre outros.
Sua concretização depende de fatores exter-nos como adequação de uma política nacionalque detenha um aparato legal e uma estruturafuncional adequada, além de depender dainternalização pelos atores sociais destes pro-cedimentos, apreendidos enquanto valor cultu-ral e, portanto, passíveis de socialização.
Um conceito amplamente aceito na comuni-dade científica acerca da termodinâmica (leigeral da conservação de energia) é o de que ela“(...) tenta descrever os limites do impossívelem vez do possível” (SAMORRIL, 1982, p.98);desta forma, ela procura explicar em seu segun-do princípio (o da entropia) que “uma impor-tante propriedade da energia é que ela semprepossui um certo grau de desordem”, tendendosempre em sua direção o que é denominado deentropia. A aplicação desse princípio aos siste-mas físico-naturais implica dizer que em qual-quer unidade de organização espacial (global,regional ou local) há importantes condicionantesque limitam o seu uso desordenado e contínuo.
A alusão a uma lei física e sua aplicação asistemas complexos, como o natural e/ou soci-al, não deve ser vista de uma formasimplificadora ou reducionista da realidade, masdentro de uma compreensão de que a existênciaconcreta de um limite tangível de uso dos recur-sos (Capacidade de Suporte) exige uma visãomais crítica e analítica do uso do espaço e dasimplicações deste uso em um período temporalmais longo, o que implica em co-responsabilização pelas gerações futuras.
Um exemplo de limitação reducionista doconceito de entropia e de capacidade de suporteestaria no Maltusianismo ou outras contribui-ções do gênero. Algum tempo já se passou ehoje vemos que a fome e a miséria não são frutoda falta de alimento ou recursos, mas sim dasdesigualdades, onde a imensa maioria da popu-lação mundial é vítima de uma única doença
inerente ao processo de desenvolvimento do ca-pitalismo: a concentração de renda e exclusãoimposta pelo mercado. Os antagonismos do tipo:superdesenvolvimento e subdesenvolvimento,opulência e miséria, são próprios desse modeloque busca implementar uma diferenciação “de-sigual e combinada” do espaço geográfico. Talvisão é expressa pelos países “ditos” desenvol-vidos do seleto G8 (E.U.A., Canadá, Alemanha,Inglaterra, Itália, França, Japão e Rússia), quebuscam desenvolver uma política de explora-ção e dependência em relação aos países perifé-ricos, envolvendo-os em acordos do tipo Naftaou Alca, onde apenas poucos realmente se be-neficiam.
O Desenvolvimento Sustentável
O conceito de desenvolvimento sustentávelestabelecido pela Comissão Mundial Sobre MeioAmbiente e Desenvolvimento afirma que este é/seria capaz de satisfazer as necessidades dasgerações atuais, sem comprometer a capacida-de de satisfação das gerações futuras, o que levaa propugnar estratégias concretas para conti-nuidade das sociedades humanas, sendo portantotangível, pois as estratégias para atingi-lo estãocalcadas no âmbito das realidades locais e regi-onais e não em um modelo global que não levaem consideração as especificidades locais. Ou-tra terminologia que exprime esta idéia é a deecodesenvolvimento4.
Antes de adentrarmos este tema, devemosexaminar algumas questões relacionadas às ter-minologias empregadas nesta discussão, espe-cialmente no que tange à diferenciação entremodelo e estilo. Um modelo de desenvolvimen-to é caracterizado por quatro grandes sistemas:o econômico, o político, o cultural e o natural(MARTINS, 1995). Em função das particula-ridades dos dois últimos sistemas, todos os pa-íses possuem um modelo de desenvolvimento.Já o estilo é a forma como os sistemas político e
4 Segundo Sachs (1982) a perspectiva doecodesenvolvimento agrega no processo de identificação,valorização e manejo dos recursos naturais, a solidarie-dade diacrônica com as gerações futuras.
310 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Ecologia, ética e ambientalismo: prefácio de suas ambigüidades
econômico se relacionam com o cultural e onatural. “Neste sentido, podemos afirmar queos modelos de desenvolvimento, apesar de se-rem todos diferentes, possuem um mesmo e ine-quívoco estilo: concentradores de renda e redu-tores de mercado, com relação às pessoas, eapropriadores e degradadores com respeito ànatureza” (MARTINS, 1995, p.17).
Um primeiro problema gerado pelo empre-go desta terminologia reside na conotação polí-tica do uso indiscriminado e aleatório do con-ceito de sustentabilidade ambiental que, propo-sital e ideologicamente, passou a ser conhecidocomo Desenvolvimento Sustentável.
O Desenvolvimento Sustentável (DS) não éuma simples teoria aleatória nascida da “uto-pia” ecologista/ambientalista, tampouco umasaída tangente do modelo capitalista vigente,como “ingenuamente” é apregoado por algunssetores que se apegam às ambigüidades e inter-pretações muitas vezes contraditórias do con-ceito, pois fala-se indistintamente em “desen-volvimento sustentável”, “crescimento susten-tável” e “utilização sustentável” como sinôni-mos.
Crer que a conservação da vitalidade e di-versidade da Terra, bem como a manutenção da“capacidade de carga”, sejam um clichê publi-citário é compactuar com o (des)compromissoe falta de solidariedade para com as geraçõesatuais e futuras, pois, se estes princípios bási-cos não tiverem como finalidade precípua o res-peito e cuidado das e para as comunidades, afim de melhorar sua qualidade de vida, entãonão existe desenvolvimento.
Assim, o DS deve ser diferenciado do De-senvolvimento pura e simplesmente. No sentidoetimológico a palavra desenvolvimento não ne-cessita de adjetivações redundantes, pois desen-volvimento que não se sustenta não é desenvol-vimento. Tal assertiva pode ser válida se consi-derarmos apenas a palavra em si, mas se lan-çarmos um olhar sobre o seu real alcance nota-remos claramente sua conotação(face)economicista (haja vista sua definição no dicio-nário como algo relativo a aumento, acréscimo,etc), colocada a serviço de uma lógica capita-
lista imediatista, onde a qualidade de vida e re-cursos naturais são componentes colocados emum plano posterior na equação do desenvolvi-mento, colocados como apenas externalidadesou cooptados dentro de um discurso ideológicofalacioso. Como exemplo claro dessa lógicaformal e avaliativa temos ou tínhamos os índi-ces de desenvolvimento baseados em dadosmédios e relativos como o PIB, renda per cap-ta, etc, que não são capazes de ocultar a verda-deira face das políticas públicas de “desenvol-vimento econômico”. Na busca de proposiçõesque retratem mais a qualidade de vida, a ONUcria o Índice de Desenvolvimento Humano e oÍndice de Liberdade Humana como elementosindicadores da qualidade de vida e, por sua vez,da sustentabilidade.
Desta forma, é necessário diferenciar que alógica implícita do desenvolvimento em si nãovisa remediar o caráter discriminatório,diacrônico e segregacionista do modelo econô-mico que está posto. E este pressupõe uma ade-quação a qualquer preço, e o seu resultado jáconhecemos. Por outro lado, o Desenvolvimen-to Sustentável visa dar uma outra conotação aoprocesso de transformação e evolução das soci-edades humanas, pois carrega implicitamente oconceito de qualidade de vida e o respeito àsgerações futuras, com base na complexidadesócio-ambiental dos lugares e regiões.
O discurso acima não elimina, por si só, ouso distorcido do conceito de DesenvolvimentoSustentável por outros setores preocupados emmanter o atual modo de vida e de exploração, eaqui estão os atores da “Maquiagem Verde”,interessados na inversão ecológica da questãoambiental, especialmente o Banco Mundial, oFMI e o “mau caratismo” de grupos preocupa-dos em enriquecimento ilícito com projetos definalidade duvidosa, entre tantas outras formasde apropriação indébita deste discurso, o quepermite o seu uso indistintamente dos fins quepretende alcançar. Neste sentido, é fundamen-tal diferenciar a apropriação político/ideológi-ca do discurso de sua prática, especialmentequando observamos fantásticas experiências dediversas comunidades locais, que, por iniciati-
311Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Marco Antonio Tomasoni & Sônia Marise Rodrigues Pereira
va própria e organizada, se empenham na solu-ção de seus problemas de qualidade de vida,agindo e configurando-se, portanto, sobre aspremissas da sustentabilidade ambiental e dacapacidade de carga de seu ambiente (sócio/bio/físico/cultural). Tal perspectiva ficou bem evi-denciada no seminário “Amazônia rumo ao Ter-ceiro Milênio: atitudes desejáveis”5, onde o res-gate da experiência destas comunidades foiamplamente discutido, mostrando ser possívelaceitar a premissa da sustentabilidade a partirde ações locais.
Assim, o problema concreto da sociedadesobre a Terra remete à prudência em estabele-cer uma diferença entre uma proposição ideoló-gica e uma científica, apesar das imbricaçõesexistentes e da histórica máxima “saber é po-der”, permitindo-nos entender de forma maisobjetiva o real alcance destes conceitos hojeempregados.
ECOLOGIA /AMBIENTALISMO NA“ÉTICA” DO CAPITALISMO
A sociedade comucacional, ou capitalismo eco-lógico, resulta de uma dupla necessidade: a de,para os países desenvolvidos, reorientar o seucrescimento para produções menos destruido-ras e a de, para o capitalismo internacional, serelocalizar na escala mundial. A estabilidadedesse redesdobramento, o relatório Meadowsmostra-o bem, exige uma cartelização geral,uma programação planetária da repartição e dautilização dos recursos minerais e energéticos,uma planificação das técnicas e dos preços: emsuma, todos os elementos de um capitalismo nãoconcorrencial de não-crescimento. (DUPUY,1980, p. 28)
Inicialmente é preciso que se diga que a cri-se ambiental contemporânea reflete uma duplacrise: a vivida pela humanidade (se é que assimpodemos intitular o atual estágio evolutivo dasociedade planetária) e a das transformações
5 Seminário, realizado em Manaus, de 20 a 23 de outu-bro de 1999.
globais dos sistemas naturais, ainda que di-namizadas ou encadeadas pela ação humana. Noprocesso evolutivo/geohistórico do planeta Ter-ra diversas transformações radicais ocorreramsobre o planeta, o que levou à extinção em mas-sa da vida na Terra, onde o último grande co-lapso registrado foi há aproximadamente 65milhões de anos, quando foram varridos da faceda Terra os grandes réptéis, se não falarmos dasgrandes glaciações quaternárias (aproximada-mente 1,2 milhões de anos até o presente), masesta linha de raciocínio abre outra discussão, queenvolve escalas espaço-temporais das transfor-mações ambientais, que é deveras importantenesta discussão sobre sustentabilidade e que viade regra quase nunca é abordada. Ao nos atermos à idéia da extinção, percebe-mos que ela é por demais abstrata para ser ab-sorvida pela ampla maioria da população, poisa falsa idéia da idílica situação de abundânciade água, ar, árvores e animais parece escamote-ar a real situação do planeta Terra. Recentementea WWF (World Wildelife Fund) publicou umtrabalho intitulado Living Planet Report 2000(WWF, 2000), mostrando a atual situação dosecossistemas terrestres, sua produtividade bio-lógica e o nível da pressão antrópica sobre eles,afirmando que a “humanidade precisa de maismeia Terra” (Folha de São Paulo, 21/10/2000,p.18). O quadro não é nada alentador e nos for-ça a pensar sobre a concretização da idéia de“equilíbrio ambiental”. Perceber que as mudan-ças globais em curso afetam e são afetadas pe-las ações humanas requer que compreendamosa própria contradição do estilo de vida que levaà excessiva competitividade, hierarquização so-cial e conseqüente esgotabilidade das relaçõesentre a humanidade e a natureza. A crise de valores pela qual a humanidadepassa torna-a cada vez mais angustiada, pois atécnica que nos permitiu chegar a avançados me-canismos de “leitura”6 instantânea do planeta,parece não ser bastante eficaz na resolução dos
6 Hoje podemos cartografar com precisão os mais diver-sos fenômenos, como por exemplo: o deslocamento deuma nuvem radioativa, ou uma mancha de petróleo, ou
312 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Ecologia, ética e ambientalismo: prefácio de suas ambigüidades
Até meados dos anos noventa, discutir meioambiente era sinônimo de ser “ecochato”, evi-denciando a relativa discriminação dos movi-mentos sociais preocupados com essa temática,o que pode ser facilmente provado pelo parcoespaço dado à questão, especialmente pelamídia. Quando esse espaço é dado, a visão do-minante é simplória e reducionista, a exemplodo “Globo Ecologia” e tantas outras manifesta-ções da ecologia ingênua, mas essa é uma outralonga discussão: a “midiocrização” da questãoambiental pela sua inversão em questão ecoló-gica.
A tomada de uma consciência ambiental‘desencadeada’ a partir dos anos 60, fortalecidacom a fundação dos partidos verdes e das orga-nizações não governamentais (ONGs), estasincrementadas no final da década de 80, vemsurtindo um resultado positivo, passando a fa-zer parte de uma agenda de discussão melhordefinida a partir do final da década de sessenta,isso se não quisermos resgatar as raízes históri-cas do ambientalismo e do ecologismo, a exem-plo do “duelo” preservacionista Xconservacionista do início do século XX. Nosanos 90, especialmente a partir de 1992, umimportante divisor é colocado, onde a prolifera-ção de ONGs é um fato notório, assim comosua aceitação na mídia e nas academias.
A amplitude do discurso ecológico ganhaformato de disciplinas e até de cursos de gra-
duação e pós-graduação, muitas matérias tra-dicionais passam a anexar o adjetivoAMBIENTAL afim de torná-las “úteis” ouadaptadas à “nova realidade”. Este“envernizamento” (MONTEIRO, 1992) das dis-ciplinas/ciências acaba por sustentar e escamo-tear uma visão metodológica arcaica edicotômica entre o conhecimento e sua práxis.Isso não quer dizer que não houve ou existamtentativas sérias de várias áreas do conhecimen-to, visando adequar-se aos novos paradigmas,mas a esmagadora maioria mostra-se limitadaao abordar a problemática.
Os elementos aqui esboçados não têm a pre-tensão de resgatar a origem, mas estabeleceralguns princípios norteadores deste mododicotômico de pensar a natureza da/na “produ-ção” do espaço e o próprio espaço. Podemosestabelecer, assim, os contornos de um proces-so de “desqualificação” ou “desumanização” danatureza, onde verificamos que as abordagensda questão sociedade-natureza passam a transi-tar em pólos antagônicos, ora colocada no cen-tro a partir de uma visão biocêntrica, ora naperiferia da discussão (visão antropocêntrica),como se fosse possível responder a inglória eintangível pergunta: o que é mais importante, oHomem ou a Terra?, como se a Terra não fossecomposta de homens ou como se os homens não“dependessem” da Terra. Esta premissa é mui-to simplória para responder à complexa ques-tão da dicotomia existente entre sociedade enatureza, tampouco pode ser usada para defen-der uma posição privilegiada da natureza naabordagem geográfica. Ela serve apenas pararepensarmos os limites da ciência e da técnicafrente à sustentabilidade da sociedade(des)humana sobre a Terra.
Já temos indicativos de que esta aparentedicotomia (pensar um Homem e uma Natureza)mostra “estrondosos” sinais de declínio, cujoprelúdio remonta às últimas décadas e cede lu-gar a uma nova perspectiva, não só na Geogra-fia, como nos demais ciências, pois temos idéiasobre o perigo de se sobrevalorizar uma visãoantropocêntrica ou biocêntrica de mundo. A idéiade pensar os fenômenos pela sua complexidade
problemas concretos da humanidade. Devemoster em mente, sobre estes temas, que nossa per-cepção do tempo é muito limitada, pois as pre-dições baseiam-se em escalas espaço-temporaisreduzidas, limitando a compreensão dos ritmose alternâncias dos sistemas naturais. Isto é fun-damental para que não reduzamos a questãoambiental a simples terminologias como meioambiente ou ecologia.
mortandade de peixes, aves e homens provenientes doderramamento de algum veneno que entra na composi-ção de algum produto moderno, como também compre-ender processos difusos e complexos, tais como efeitoestufa, desertificação, rarefação da camada de ozônio,etc.
313Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Marco Antonio Tomasoni & Sônia Marise Rodrigues Pereira
não é nova, e tem profundos rebatimentos nasciências naturais e sociais. Neste sentido, a dis-cussão da temática ambiental não é nova, espe-cialmente no âmbito da Geografia, especialmen-te quando nos vemos frente às complexas trans-formações que, graças ao avanço tecnológico,podem ser analisadas globalmente.
A nova ética com a Terra deverá estar pau-tada em um novo contrato, o que Seres (1991)chamou de “contrato natural”, onde a socieda-de moderna concretize ações de valorização davida e de sua continuidade sobre o planeta. Taltarefa, aparentemente fácil, esbarra frontalmentenos chamados interesses internos dos países“organizadores” do modelo econômico mundi-al; estes, na sua grande maioria, colidem comos princípios básicos da sustentabilidade. Ob-viamente este novo contrato deverá realizar-sea curto prazo, sob pena de inviabilizarmos a“manutenção” da fina capa biosférica, que criae recria a vida pelos processos de transferênciade energia e matéria nos ciclos biogeoquímicos,criando um colapso irreversível. Não se tratade alarmismo, mas sim realismo frente ainquestionáveis indícios que apontam para estadireção.
O papel das ONG’s
Assistimos incessantemente a apelos porparte das Organizações Não Governamentais emusar os mesmos mecanismos de gestãoorganizacional para instituições, sob o discursode que devemos participar das regras do jogo,tal como ele está, pois, se assim não o fizermos,seremos excluídos do processo decisório da ges-tão do ambiente, seja ele em que escala for. Nestesentido, as mesmas práticas gerenciais as têmtornado tão iguais quanto qualquer organiza-ção financeira. Os objetivos intrínsecos das ins-tituições, porém, diferem fundamentalmente dosobjetivos das organizações. Marilena Chauí, emseu artigo “A Universidade Operacional”(1999), disseca estas concepçõesorganizacionais que passam a ser modelo paraas instituições, mostrando assim as suas arma-dilhas. Desta forma, poderíamos questionar seos princípios das ONG´s “operacionais”, espe-
cialmente as de cunho ambientalista, não estãoem contradição com as questões que pretendemcombater. Seria possível “sobreviver” sem com-partilhar destes princípios verticalizados ecentralizadores? Não pretendemos responder atais questões, mas apenas colocá-las no debate,pois estas são questões éticas bastante impor-tantes para as ONG´s, e que dizem respeito àsua mercantilização. Visando “controlar” estacondição, foi criada uma espécie de “certifica-do de idoneidade”, a OSIP (Organização Socialde Interesse Público).
A crítica central da bandeira ambientalista/ecologista está nos mecanismos coercitivos queas organizações e o próprio estado imputam aosindivíduos, retirando-lhes a autonomia e o livrearbítrio, fundamentais ao surgimento dos me-canismos de autoregulação e autosuperação(mecanismos fundamentais para a compreensãodo conceito de sustentabilidade ambiental). Por-tanto, a Gestão Ambiental Latu Sensu, aplica-da em suas diversas escalas, só pode ser conce-bida com respeito à diversidade e às diversascapacidades individuais. Lembremos que a se-paração do homem da natureza se deu no mo-mento de sua excessiva especialização, quandoperdeu o elo que o ligava ao Holón, que perdeuo elo com a mãe Terra, esquecendo que não fo-mos nós que tecemos a teia da vida; apenas fa-zemos parte desse macrorganismo que é a TerraGaia / Geia.
A Agenda 21 e o compromissoglobal
Enfrentamos um extraordinário desafio desaber como vamos fazer para que o século 21volte a ter qualidade de vida para todos, comuma economia em equilíbrio com o sistema na-tural da Terra, respeitando a sua capacidade desuporte.
Não podemos esconder os enormes proble-mas sócio-ambientais pelos quais o planeta pas-sa: destruição progressiva dos recursos natu-rais renováveis, impedindo sua renovação e re-generação, e consumo desenfreado de recursosnão renováveis. Aliado a este quadro encontra-mos um número extraordinário de seres huma-
314 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Ecologia, ética e ambientalismo: prefácio de suas ambigüidades
nos sem a mínima condição de saúde, educa-ção, emprego ou moradia. Discutir estas ques-tões globais não é um simples ato de lamentaçãode quem vê o trem da história passar e nada faz.Conhecer a verdadeira dimensão do problema éter maior clareza e firmeza para transformar ocotidiano de cada lugar, transformando-o em umlugar melhor.
Cada vez mais os problemas ambientais afe-tarão, de forma irremediável, os cidadãos doplaneta Terra, a exemplo das secas edesertificação que avançam a passos largos nomundo e no Brasil, ou a destruição da camadade ozônio, aumentando o índice de câncer depele, ou os problemas de visão devido aos raiosultravioleta, ou ainda a diminuição progressivada qualidade e quantidade de água doce potá-vel, ou tantos outros impactos difusos, etc. Nãoé difícil imaginar quem é que pagará o preçopor não poder pagar por água, ar e “protetorsolar”.
A globalização dos problemas ambientais nosmostra claramente que não podemos esquecerque não existem fronteiras para políticas de de-senvolvimento desastrosas que não levam emconta o seu efeito local, regional, nacional ouglobal. Neste sentido, não é possível discutir eagir localmente se não temos a visão global dasquestões que pretendemos resolver no local.
Ao analisarmos a Carta da Terra (DIAS.1998) e os princípios expostos na Agenda 21Global (disponível em: www.mma.gov.br), de-vemos ter duas atitudes fundamentais: otimis-mo e prudência. Otimismo, porque ele está pre-sente na dimensão espiritual proposta pelo ChefeSeattle, ao afirmar que “a Terra não pertenceao homem; o homem pertence à Terra... e que aTerra é preciosa e feri-la é desprezar seu cria-dor...”. O otimismo se ergue ao acreditar e cons-truir a utopia de que poderemos reverter a atualsituação da espaçonave Terra, levando a umfuturo de equidade social e harmonia com osprocessos milenares da vida sobre o planeta. APrudência leva-nos a perceber que no fundo depropostas pretensamente generosas e bondosasou politicamente inócuas, como as da agenda
21, fortes mecanismos de controle, coerção,manipulação e distorção dos reais problemasambientais estão presentes. Enquanto não hou-ver igualdade ao se discutir como, quando equem pagará efetivamente o estrago do atualmodelo, torna-se difícil considerar uma propostade tal monta. A prudência exige desconfiar eexigir clareza de propósitos. O fundo mundialpara bancar a “reconstrução” do planeta apre-senta enormes déficits e os investimentos porvezes têm apenas o efeito de aspirina: aliviam ador, mas não atacam as causas do problema.
Assim, viabilizar as agendas locais é funda-mental; mas só com clareza, democracia e par-ticipação popular é que de fato construiremos asustentabilidade. Se estes procedimentos nãoocorrem, não podemos acreditar que apenas umdocumento, mesmo com sua aparente partici-pação, poderá refletir a busca dasustentabilidade ambiental e eqüidade social. Osorganismos internacionais como o BIRD, o FMIe as “agências financiadoras” têm buscado aconfecção de tais documentos, visando apenasum cumprimento normativo e burocrático comoas ISOs e muitas vezes o sustento de“pilantropias” diversas e projetos obscuros,quase sempre abaixo da Linha do Equador.
Então, a prudência, aliada à esperança, deveser nossa meta para sermos um novo exemplo econstruirmos de fato uma agenda de vida justapara com a natureza e os seres humanos. Uma“nova aliança” pautada em uma “ecopedagogia”que ponha “fim nas certezas” e atue na buscade uma cultura humana capaz de entender eequacionar os seus problemas de sobrevivênciacom a sobrevivência do planeta, não elegendo ohomem o centro do desenvolvimento sustentá-vel, numa malfadada versão antropocentrista, enem a natureza idílica de “bichos e árvores”,como apregoa o ecologismo biocentrista.Equacionar este problema requer que se forjeuma nova identidade “Terra-Mundo” (a Terracomo ela é e como a vemos) para que se cons-trua uma “cidadania planetária” plural, umanova ética pautada em um novo contrato natu-ral.
315Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Marco Antonio Tomasoni & Sônia Marise Rodrigues Pereira
REFERÊNCIAS
A HUMANIDADE precisa de mais meia Terra. Folha de São Paulo, 21 out., p.A18, 2000.
CAPRA, F. Ponto de Mutação: a ciência, a sociedade e cultura emergente. São Paulo: Cultrix, 1997.
CHAUÍ, M. A Universidade Operacional. Folha de São Paulo, 09 de maio 1999.
CHRISTOFOLETTI, A. Impactos no meio ambiente ocasionados pela urbanização no mundo tropical. In:SOUZA, Maria A. Natureza e sociedade de hoje: uma leitura geográfica. São Paulo: Hucitec-ANPUR,1994. p.46-58.
CLAVAL, P. A Geografia e a percepção do espaço. Rev. Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 45, n.2,p.243-256, abr./jun.1983.
CMMAD (Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento). Nosso Futuro Comum. Rio deJaneiro: Fundação Getúlio Vargas, 1989.
DAJOZ, R. Ecologia Geral. Petrópolis: Vozes, 1983.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 1998.
DIEGUES, A. C. O mito da natureza intocada. São Paulo: Hucitec, 1996.
DUPUY, J. P. Introdução à Crítica da Ecologia Política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.
GARES, P. A. et al. Geomorphology and natural hazards. Rev. Geomorphology, v.10, p.1-18, 1994.
GONÇALVES, C. W. P. Limites da ciência e da técnica frente a questão ambiental. Revista Geosul,Florianópolis, v.3(5), p.7-40, 1988.
GREENPEACE. Relatório sobre a maquiagem verde. [S. l.: s. n.], 1991. (fotocopiado)
GREGORY, K. A natureza da Geografia física. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992
JOLLIVET, M. & PAVÉ, A. O meio ambiente:questões e perspectivas para pesquisa. In: VIEIRA, P. F. &WEBER, J.(orgs.) Gestão de recursos naturais renováveis e desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 1997,p.53-113.
MACEDO, R. K. de. Gestão ambiental. Rio de Janeiro: ABES, 1996.
MARTINS, Celso. Biogeografia e ecologia. São Paulo: Difel, 1995.
MONTEIRO, C. A. F. Discurso inaugural. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS SOBRE MEIOAMBIENTE, 2. Florianópolis. Anais..., Florianópolis, 1992. v.1.
PELOGGIA, A. A magnitude e a freqüência da ação humana representam uma ruptura na processualidadegeológica na superfície terrestre. Revista Geosul, Florianópolis, v.14, n.27, p.54-60, nov. 1998. (SimpósioNacional de Geomorfologia, 2. Anais...).
PRADO, F. G. C. Ecopedagogia e cidadania planetária. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 1999.
PRIGOGINE, I. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo: UNESP, 1996.
ROHDE, G. M. Mudanças de Paradigma e Desenvolvimento Sustentado. In: CAVALCANTI, Clóvis (org.).Desenvolvimento e Natureza: estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo: Cortez, 1998, p.41-54.
SAMORRIL, R. Acumulação de capital e desacumulação de meio ambiente. Revista Economia e Desen-volvimento, Florioanópolis, v.2, p.95-127, 1982.
SÁNCHES, R. O. Bases para o ordenamento ecológico e paisagístico do meio rural e florestal. Cuiabá:Fundação Cândido Rondom, 1991.
316 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 303-316, jul./dez. 2002
Ecologia, ética e ambientalismo: prefácio de suas ambigüidades
SANTOS, M. Técnica Espaço Tempo: globalização e meio técnico-científico informacional. São Paulo:Hucitec, 1994.
SERES, M. O Contrato Natural. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.
TAUK, S. M. (org.). Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. São Paulo: UNESP, 1991.
TRICART, J. & KILIAN, J. L’Éco-géographie et l’aménagement du mileu naturel. Paris: Maspero, 1979.
UICN (Unión Mundial para a la Naturaleza); PMUMA (Programa de las Naciones Unidas para el MedioAmbiente); WWF (Fondo Mundial para la naturaleza). Cuidar la Tierra: Estrategia para el futuro de lavida. Gland (Suíza), octobre, 1991.
WWF - WORLD WILDELIFE FUND. Living Planet Report 2000, disponível em: <www.wwf.org.>
Recebido em 30.09.02Aprovado em 18.01.03
317Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
Paulo Roberto Ramos & Deolinda de Souza Ramalho
O AMBIENTALISMO NA MÍDIA: DA SUSTENTABILIDADE
PONTUAL AO CONSUMISMO GERAL
Paulo Roberto Ramos ∗∗∗∗∗
Deolinda de Sousa Ramalho **
RESUMO
Este artigo analisa as abordagens da mídia sobre a problemática ambiental. Apartir do acompanhamento sistemático da programação da TV (particularmen-te a Rede Globo), observamos uma contradição nos termos da racionalidadediscursiva que trata da questão sócio-ambiental, na medida em que apela paraa educação ambiental e a sustentabilidade de maneira pontual, ao mesmo tem-po em que pulveriza o tema numa programação extremamente marcada peloconsumismo e pela degradação sócio-ambiental. A teoria habermasiana da AçãoComunicativa ajuda a entender este fenômeno formado na própria base de fun-damentação do discurso midiático.
Palavras-chave: Sustentabilidade – Racionalidade e degradação sócio-ambiental
ABSTRACT
THE ENVIRONMENTALISM IN THE MEDIA: FROM PUNCTUALSUSTAINABILITY TO GENERAL CONSUMERISM
This article analyzes the approaches of the media over the environmental prob-lematic. From the systematic follow-up of the TV programs (specially the GloboNetwork), we observe a contradiction in the terms of discursive rationality thatdeals with the socio-environmental matter, as it appeals to the environmentaleducation and to the sustainability in a punctual manner, at the same time thatpulverizes the theme in a program grid extremely marked by consumerism andby the socio-environmental degradation. The habermasian theory of the Com-municative Action helps in understanding this phenomenon formed in the verybasis of the grounding of the midiatic speech.
Key words: Sustainability – Rationality and socio-environmental degradation
* Doutorando em Sociologia Universidade Federal da Paraíba/Universidade Federal de Campina Grande –UFPB/UFCG. Endereço para correspondência: Rua Antonieta Araújo Lucena, 172, Novo Cruzeiro -58100.000 Campina Grande/PB. E-mail: [email protected]
** PhD em Sociologia pela Mississipi State University - Starkville / USA; orientadora e professora doPrograma de Pós-Graduação em Sociologia na Universidade Federal da Paraíba - PPGS/UFPB. Endereçopara correspondência: Rua República Federal da Alemanha, 295, Bairro das Nações - 58103.103 CampinaGrande/PB. E-mail: [email protected]
318 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
O ambientalismo na mídia: da sustentabilidade pontual ao consumismo geral
Apresentação 1
Este trabalho se propõe a discutir alguns sig-nificados do discurso midiático sobre a questãosócio-ambiental e como ocorre uma contradi-ção nos termos da própria racionalidadediscursiva veiculada sobre o tema, tendo em vista
Esta amostra atendeu duas pré-condições:quanto à amplitude e quanto ao tema. No que serefere à amplitude, optamos por analisar a pro-gramação de veiculação nacional. Quanto aotema, nos ocupamos apenas da programação quetratou diretamente da problemática sócio-ambiental (ORLANDI, 1999).
A atenção dispensada à televisão deve-se, emgrande medida, às possibilidades que este veí-culo de comunicação tem na análise dos con-teúdos (representações midiáticas do meio am-biente) e ao seu reconhecimento (ainda) como osupra-sumo da comunicação social de massa.Contudo, o recorte empírico desta pesquisa pro-curou sempre servir de base para o debate teó-rico que discute o significado da mídia hoje nomeio social.
Introdução
Vivemos na era da informação, marcada pelaexistência de uma complexa teia de fluxos e re-fluxos constantes de mensagens que nos “bom-bardeiam” a todo instante (CASTELLS, 2000).Tendo como características um grande aparatotécnico, a universalidade, rapidez, seletividadee espetacularização da informação, a mídia tor-nou-se num passado muito recente alvo das aten-ções de muitos pesquisadores, cientistas sociaise políticos, devido à sua capacidade deabrangência e interação com um grande públi-co, formando a chamada “aldeia global” à qual“você ainda vai se plugar” (BARBERO, 1991).
O rápido desenvolvimento do conjunto damídia é resultado de um avanço extraordináriodos meios de comunicação nas últimas déca-das. Com o rádio, revistas, jornais, a televisãoe mais recentemente com o advento danetworks5, o mundo inteiro experimentou umverdadeiro boom na comunicação (BELTRÁN& CARDONA, 1982). Todavia, a televisão é(ainda) o meio de comunicação social mais efi-
1 Este artigo é parte das reflexões desenvolvidas na dis-sertação do autor no Mestrado em Sociologia pela Uni-versidade Federal da Paraíba (2001/2002).2 Amostra estatística que investiga elementos pré-deter-minados e que não pretende ser uma representação fide-digna do universo, mas apenas indicativa.3 Pelo fato da Globo obter índices de audiência bem su-periores às outras emissoras, chegando a picos acima de80 por cento no horário nobre (IBOPE, 2002. Folha deSão Paulo, 23 jun. 2002).4 A pré-determinação foi feita com base no conhecimen-to prévio da grade da programação e na busca de abor-dagens de questões relativas a questão sócio-ambiental.
que estas abordagens, além de exíguas e seg-mentadas, estão, em regra, fundamentadas nosprincípios do consumismo, da dominação e dadesigualdade, que são elementos fundantes daracionalidade e do modelo de desenvolvimentoque tem gerado cada vez mais exclusão social edegradação do meio ambiente.
O recorte resultou de uma amostra não-probabilística2 e de um acompanhamento contí-nuo in loco da programação da TV Globo3, du-rante a realização da pesquisa (2001/2002);além do registro com fotos e gravações de umaparte pré-determinada4 da programação (cercade 19 horas de gravações em fita VHS), de ondepudemos retirar informações mais específicassobre a questão sócio-ambiental, conforme seobserva na Tabela 1, a seguir.
Tabela 1 - Distribuição percentual do tempo de progra-mação gravada================================Programas 40 %Telejornais 25 %Novelas 10 %Comerciais 15 %Outros 10 %================================Fonte: Pesquisa de campo 2001/2002 (RAMOS, 2002)
5 A interligação/cadeia de computadores por todo o mun-do, formando a chamada Internet.
319Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
Paulo Roberto Ramos & Deolinda de Souza Ramalho
ciente6 na difusão do som e da imagem simultâ-neos, com um custo relativamente baixo, altaqualidade e longo alcance (ALMEIDA JÚNIOR,1998).
O processo de globalização tanto econômi-ca, tecnológica, social, como também cultural,simbólica e informacional, tem na mídia um dosseus mais fortes suportes (CASTELLS, 1999;2000). Neste sentido, a mídia sistêmica7 estádiretamente envolvida com a profusão do atualmodelo de desenvolvimento, enquanto parâmetroa ser seguido por todo o mundo (SOUZABRAGA, 1994). Este modelo está baseado noindustrialismo, na urbanização, no crescimentoeconômico, no consumismo, nas diferenças ehierarquias sociais, em detrimento da degrada-ção sócio-ambiental (TOLBA, 1980).
É interessante observar que, graças à mídia,a problemática ambiental tornou-se um temadifundido por todo o mundo, deixando de seruma discussão restrita aos círculos acadêmicoe governamental para se tornar uma questão deinteresse de Organizações Não-Governamentais(ONG’s), partidos políticos, iniciativa privadae toda sociedade (VIOLA, 1998). A preocupa-ção com os níveis de degradação sócio-ambientalrefere-se, em geral, aos impactos de grande es-cala em médio prazo (efeito estufa, comprome-timento da camada de ozônio, desequilíbriobiogeoquímico do planeta, etc.) e aos proble-mas de curto prazo decorrentes da exclusão eda pobreza estrutural que atinge 2/3 da popula-ção mundial (violência, escassez de recursos,doenças infecto-contagiosas, fome, etc.)(GIDDENS, 1997).
Grandes contingentes populacionais, princi-
palmente das áreas periféricas dos centros ur-banos, convivem cotidianamente com lixo, in-setos, esgotos a céu aberto, péssimas condiçõesde habitação e ainda têm de enfrentar a ausên-cia quase completa de serviços/equipamentospúblicos (SILVA, 1997). O processo de cresci-mento tecno-científico, com base na exclusãosocial, aprofundou ainda mais as diferenças declasse, de “raça”, de gênero, de geração, etc.,tornando-as naturais, fixas e necessárias ao atualmodelo de “desenvolvimento” social (RIBEIRO,1994).
Está em curso hoje no mundo, embora demaneira incipiente e bastante limitada, um am-plo processo de mobilização discursiva em tor-no da construção da(s) proposta(s) do chamadoDesenvolvimento Sustentável8, que pode signi-ficar uma mudança de atitude diante da relaçãohomem-natureza (CAVALCANTI, 1995). A di-ficuldade está em manter os atuais níveis deprodução (industrial, agrícola, de serviços, etc.)sem comprometer as bases de sustentação dodesenvolvimento, tendo em vista que os recur-sos estão se esgotando numa progressão inver-sa aos níveis de produção. Ou seja, quanto maisse aumenta a produção mais degradação se pro-duz e mais se esgotam os recursos9 (LEIS,1999).
No Brasil, a aplicabilidade dos postuladosque fundamentam o Desenvolvimento Susten-tável passa, necessariamente, peloenfrentamento da grave crise social derivada dapobreza, desigualdade e exclusão social.
6 A televisão, na última década, experimentou um grandeavanço devido à capacidade de incorporar os avanços deoutros meios de comunicação. Assim ocorreu com o com-putador, a fibra ótica, o cristal líqüido, etc. que se associ-aram à televisão e lhe conferiram um alto poder de mani-pulação da imagem, do som e dos significados.7 Conjunto articulado de agências, meios e processos decomunicação de massa, que funcionam como instituiçõesadequadas aos procedimentos legais e ao mercado(HABERMAS, 1990; THOMPSON, 1995).8 Dentre as muitas definições de Desenvolvimento Sus-
tentável ou Sustentado, destacaremos: 1) a associação dodesenvolvimento econômico e da justiça social com aprudência ecológica, 2) sem esquecer da chamada “so-lidariedade diacrônica intergeracional”, que significa ga-rantir a satisfação das necessidades das presentes gera-ções, sem comprometer a possibilidade da satisfação dasgerações futuras (ALMEIDA, 1999; TAMAMES, 1999;RATNER, 1992).9 Embora alguns economistas apontem para uma reduçãodos fluxos de capitais e da produção industrial (MIROW,1978; SANTOS, 1994), o fato é que praticamente toda aprodução está ameaçada pelo comprometimento das re-servas, apesar de ocorrer a profusão do atual modelo portodas as partes do mundo.
320 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
O ambientalismo na mídia: da sustentabilidade pontual ao consumismo geral
De 132 países analisados pelo Banco Mun-dial em 2000, o Brasil foi o campeão mundialda desigualdade, com 10 por cento de sua po-pulação detendo 51,3 por cento da renda nacio-nal, e com aproximadamente 60 por cento dostrabalhadores ganhando até 2 salários mínimos(Folha de São Paulo, 16/07/00). Os problemassócio-ambientais, no Brasil, são decorrentes deuma urbanização desordenada e desequilibra-da. O fenômeno da chamada “inchação” dascidades fez do espaço urbano o local onde seconcentram cerca de 81 por cento da populaçãobrasileira (Censo IBGE, 2000) vivendo em pés-simas condições. Esta realidade afeta grandes,médias e até pequenas cidades do Brasil queapresentam graves problemas sócio-ambientais(RAMALHO, 1996).
A divulgação pela mídia das questõesambientais, no Brasil, atingiu seu ápice no iní-cio dos anos 90, com a realização da Conferên-cia Mundial para o Meio Ambiente e o Desen-volvimento (UNCED), conhecida como Rio-92(ANDRADE, 1998). Gradativamente, os temasambientais foram perdendo espaço na progra-mação e acabaram por entrar no século XXIcomo uma questão periférica e ocasional dodiscurso midiático.
As abordagens da mídia sobre a problemáti-ca sócio-ambiental limitam-se a três tipos bási-co: a divulgação amena do ecoturismo (parques,reservas e locais de “natureza intocada”), de-núncias de crimes ambientais e as que apresen-tam propostas imediatas e pontuais para a su-peração dos problemas sócio-ambientais(DENCKER, 1996). Tratamentos da mídia napromoção da educação ambiental e divulgaçãode experiências e projetos de sustentabilidadeficam comprometidos porque são sufocados poruma programação hegemônica que promove oconsumismo, as hierarquias sociais e a degra-dação ambiental (RAMOS ANGERAMI,1995).
Além disto, o discurso mídiático sobre aquestão ambiental enfrenta uma contradição emsua própria estrutura de racionalidadediscursiva: a incongruência entre os apelos eco-lógicos/ambientalistas (de caráter
preservacionista ou conservacionista), naperspectiva dos modelos de sustentabilidade, ea inserção deste ambientalismo midiático numamplo processo de institucionalização,individualização e competência técnica. Ou seja,o ambientalismo que vemos na mídia são pro-cessos pontuais que estimulam a ação do indi-víduo ou grupo, promovem o conhecimento es-pecializado (dos técnicos do meio ambiente) eenfocam experiências ocorridas dentro do atualmodelo de desenvolvimento (de ONG’s. empre-sas, governos, comunidades, etc.), numa repro-dução do “mito do mercado auto-regulador”.
Devido às funções sistêmicas da mídia, aproblemática sócio-ambiental não recebe umtratamento substantivo nos meios de comunica-ção de massa. As abordagens são exíguas e osprincípios da racionalidade técnica e instrumen-tal, que estão na base da discursividade que fluipelos meios, não permitem que a questão dasustentabilidade seja pensada enquanto uma al-ternativa efetiva ao atual modelo de desenvol-vimento. A própria função da mídia de promo-ver a educação ambiental fica comprometida,pois além de apresentá-la de maneira tímida naprogramação, o discurso midiático está funda-mentado numa racionalidade diretamente envol-vida com as formas de degradação sócio-ambiental existentes. Basta ver que apopularização da problemática sócio-ambientalnão impediu que mais degradação tenha sidogerada. Passaremos a analisar no próximo pon-to como a mídia incorporou temas ambientais àsua programação e o que isto representou paraa popularização do tema.
O ambientalismo na mídia
A preocupação com os problemas ambientaissurgiu, inicialmente, nos países mais desenvol-vidos, principalmente porque foram eles os pri-meiros a sentir os efeitos da degradação dos seusrecursos naturais decorrentes do consumo de-senfreado. No início do século XX, a discussãoestava ainda restrita aos meios científicos e aca-dêmicos, pois era uma questão praticamentedesconhecida da opinião pública e da mídia (que
321Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
Paulo Roberto Ramos & Deolinda de Souza Ramalho
também dava seus primeiros passos). As abor-dagens da questão se davam fundamentalmentenas chamadas Ciências Naturais, particularmen-te na Biologia. A problemática ambiental, devi-do à iminência de outras questões, foi sufocadapelas duas guerras mundiais (1914/18 e 1939/45), só reaparecendo na década de 60(BUTTEL, 1992).
As primeiras referências da mídia sobre aproblemática ambiental limitavam-se, em geral,aos aspectos da escassez dos recursos e a ques-tão da necessidade econômica da busca de no-vas fontes de energia (tanto do ponto de vista denovas tecnologias, como a aplicação de um pro-jeto geopolítico de recolonização dos mercadosmundiais). Nos anos 60 e 70, a questãoambiental ainda não fazia parte do discursomidiático de maneira substantiva, mesmo por-que a sociedade civil, o setor público e privadonão haviam despertado para a importância dotema.
Apenas revistas e jornais especializados de-batiam problemas ecológicos, de maneira bas-tante limitada e segmentada. Nem a sociedade,nem a mídia haviam, neste momento, desperta-do para os problemas ambientais que começa-vam a surgir (MARTINE, 1993).
A partir da Conferência de Estocolmo(1972), com a iniciativa de criação e implanta-ção do Programa das Nações Unidas para oMeio Ambiente (PNUMA) e a formulação doconceito de “ecodesenvolvimento”10, houve umamobilização comunicativa e instrumental emtorno da questão ambiental. Com a Declaraçãode Cocoyoc (1974) e o Relatório Que Faire,apresentado no ano seguinte, por ocasião da 7ªConferência Extraordinária das Nações Unidas,a problemática ambiental é definitivamente re-conhecida como uma questão que está na basedos problemas da humanidade (VIOLA, 1998).
No início dos anos 80, podemos dizer que amídia “descobriu” a questão ambiental. Inicialmen-te ocupando espaço periférico no discursomidiático, a problemática ambiental foi ganhandoespaço na medida em que chamava a atenção, nãoapenas da comunidade científica, mas das institui-ções governamentais, das entidades civis e da pró-pria população, que já começava a sentir a escas-sez dos recursos e os efeitos da degradaçãoambiental. A mídia acompanhou a “onda” ecoló-gica que percorria toda a sociedade.
Em 1987, com o relatório da ComissãoMundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-mento, conhecido por “Relatório Brundtland”,intitulado Nosso Futuro Comum, e a confirma-ção da inflexão do industrialismo, o “direito deingerência”11 da comunidade internacional e aidéia de “responsabilidade comum” foram con-sagrados como princípios fundantes da propos-ta de sustentabilidade.
Os impactos desta perspectiva foram gran-des, em virtude de uma reação dos países maispobres, como o Brasil, que se sentiram ameaça-dos de perder a autonomia e ter suas riquezasnaturais desapropriadas, enquanto os países docapitalismo central não aceitavam diminuir seusníveis de consumo. Neste contexto, o reconhe-cimento da questão ambiental já extrapolava osagentes sociais (empresas, comunidade cientí-fica e entidades governamentais), diretamenteenvolvidos com o tema, tornando-se uma ques-tão de reconhecimento público.
A formação dos partidos verdes em váriospaíses do mundo, a mobilização da sociedadecivil, o tratamento multidisciplinar da questãoambiental, além do envolvimento dos setorespúblico e privado, dentre outros fatores, propi-ciam um ambiente favorável para uma articula-ção comum. No interior deste processo, está amídia que, além de sua função imanente de ma-nipulação, profusão e integração de mensagens/informações, cumpriu (e cumpre) o papel de
10 Termo que designa um “estilo” de desenvolvimentoparticipativo, de estratégias plurais de intervenção, adap-tadas aos contextos culturais e ambientais locais. Incor-porado também à necessidade do confronto político dasdesigualdades sociais e à consciência dos limites evulnerabilidade dos recursos naturais (SACHS, 1986).
11 Fundamentado no preceito da ONU que garante o di-reito de intervenção local para assegurar a paz e o bem-estar internacional.
322 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
O ambientalismo na mídia: da sustentabilidade pontual ao consumismo geral
mobilizador de forças em torno de um projetoambiental difuso12 e ao mesmo tempo integradoaos fins sistêmicos.
A realização de conferências mundiais, comoas de Estocolmo em 1972 e a Rio-92, com opropósito de discutir o problema, contribuírampara a visibilidade da problemática ambientalpela mídia. Contraditoriamente, o processo dedegradação continuou (e continua) imperiosa-mente sem qualquer sinal de arrefecimento e aquestão ambiental, que atingiu seu ápice namídia no início dos anos 90, foi perdendo espa-ço, passando a ocorrer fundamentalmente abor-dagens superficiais e esporádicas sobre o as-sunto (RAMOS ANGERAMI, 1995) .
O ápice do tratamento midiático em tornodas questões ambientais, ou sócio-ambientais,ocorreu no início dos anos 90, com a realizaçãoda Conferência das Nações Unidas sobre o MeioAmbiente e o Desenvolvimento (UNCED), nacidade do Rio de Janeiro, conhecida como Rio-92. No mundo inteiro, particularmente no Bra-sil que sediava o encontro, a mídia montou umaampla cobertura. A problemática ambiental ga-nhou destaque nos meios de comunicação demassa na mesma proporção em que se transfor-mou em uma espécie de modismo light, sinôni-mo de sofisticação e maneiras de agir e pensar“políticamente corretas”.
Durante a Rio-92 e algum tempo depois, amídia foi “contaminada” pela “onda ecológica”e passou a veicular questões ambientais das maisdiferentes formas. Comerciais de todos os ti-pos, novelas, telejornalismo e a quase a totali-dade da programação dos mais diversos meiosde comunicação utilizaram este “gancho”13 e seaproveitaram da popularidade do tema para“vender” seus produtos. O ecologismo figuroucomo a maneira indicada para aqueles que de-sejam agir de maneira politicamente correta,
tornando-se uma estratégia de marketing capazde dar brilho aos mais diferentes produtos e ser-viços, adequando-os à lógica do mercado e con-tribuindo, não para mudar as atitudes e a “cons-ciência”, mas principalmente para reproduzir asvelhas estruturas com uma nova roupagem.
A instabilidade e dificuldade de aplicação daspropostas ambientais tornaram-se obstáculo naconstrução de uma possível proposta convergen-te das forças mobilizadas em torno do conceitode Desenvolvimento Sustentável (VIOLA,1998). Somava-se a isso a decisão dos paísescentrais de não se submeterem às decisões cole-tivas sobre o meio ambiente e o desenvolvimen-to, ao mesmo tempo em que ocorria oarrefecimento da mídia sobre o tema.
De modismo exacerbado, a problemáticaambiental entrou no século XXI como um temaperiférico e ocasional no discurso midiático,embora os problemas ambientais tenham aumen-tado em número e em complexidade, e amobilização social maior que antes em todas aspartes do Brasil e do mundo. A mídia trata demaneira bastante limitada a problemática só-cio-ambiental em toda sua programação, toda-via é possível identificar a programação queveicula questões ambientais, conforme vemosna Tabela 2, a seguir:
Tabela 2 - Distribuição percentual da programação queveicula questões ambientais================================Programas 42 %Telejornais 23 %Novelas 14 %Comerciais 11 %Outros 10 %================================Fonte: Pesquisa de campo 2001/2002 (RAMOS, 2002)
As abordagens da mídia sobre a problemáti-ca sócio-ambiental têm em comum o fato de se-rem segmentadas (não se apresentam enquanto“focos” de um mesmo problema: a degradaçãosócio-ambiental decorrente do modelo de desen-volvimento praticado) e estarem fundamentadas,em geral, nos princípios da racionalidade técni-ca-instrumental (a institucionalização do deba-
13 No jargão do jornalismo significa “pegar carona nanotícia” e utilizar assuntos recorrentes para produzir no-tícias.
12 Mesmo apresentando propostas em torno do conceitode Desenvolvimento Sustentável.
323Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
Paulo Roberto Ramos & Deolinda de Souza Ramalho
te ambiental e da sustentabilidade). Em estilos emomentos diferenciados, podemos identificar atemática ambientalista sendo utilizada pelamídia.
A problemática sócio-ambiental recebe namídia, em geral, um tom dramático de apelo àvida ou de difícil compreensão, que se confirmacom a ocorrência de abordagens deste tipo pre-ferencialmente nos programas (42 %) e notelejornalismo (22 %). Ocorre também a utili-zação mais light do tema, como nos comerciais(16 %) e novelas (12 %). Embora a questãosócio-ambiental percorra quase toda programa-ção, o tema é ainda bastante incipiente diantede outras temáticas abordadas, conforme pode-mos observar na Tabela 3.
Tabela 3 - Distribuição percentual dos principais temasveiculados na programação==============================Violência/ação 25 %Sensualidade/sexualidade 17 %Esporte 13 %Lazer 12 %Produtos 8 %Infantil 6 %Ciência 5 %Humor 5 %Meio ambiente 4 %Outros 5 %==============================Fonte: Pesquisa de campo 2001/2002 - Rede Globo (RA-MOS, 2002)
Além do tratamento da mídia sobre a ques-tão sócio-ambiental ser modesto diante de al-guns outros temas, estas abordagens veicula-das têm como característica a formação de umacontradição interna nas suas próprias estrutu-ras discursivas, na medida em que aracionalidade baseada nas desigualdades edesequilíbrios das relações homem/natureza ehomem/homem, estão hegemonicamente presen-tes no seu universo discursivo.
Assim ocorre com praticamente todas asabordagens sobre as questões sócio-ambientais.A racionalidade técnica-instrumental apresen-ta-se como pano de fundo, ou como objeto prin-
cipal do foco da mídia; seja quando fornece ele-mentos para a construção do entendimento e dotratamento da problemática sócio-ambiental, ouquando é chamada diretamente para “explicar”o fenômeno da degradação ambiental e social.
Em programas como principalmente o Glo-bo Ecologia, Globo Rural, Globo Repórter e oFantástico, a recorrência à temas ambientais égrande. Todavia, estas abordagens dão tratamen-tos diferenciados a uma mesma problemática.São, portanto, segmentadas e fluem pelos mei-os de comunicação de massa como aspectos di-ferenciados de fenômenos aparentemente distan-tes e independentes (quem viu as calotas pola-res derretendo? - ou o lixo espacial que circulaa terra? - onde isso interfere no dia-a-dia daspessoas?) (FEATHERSTONE, 1995). A mídiapossibilitou a visibilidade destes fenômenos, masnão o seu entendimento ou a promoção de mu-danças de hábitos. A mídia tornou a degrada-ção um fato corriqueiro, mas totalmente semconexão com o estilo de vida, de produção econsumo que se pratica. A mídia tornou o temaambiental uma “moda”, porém colaborou mui-to modestamente na educação ambiental e napromoção da sustentabilidade.
Referências às questões da relação socieda-de/natureza estão dispersas por toda programa-ção da mídia. Todavia, abordagens específicassobre a problemática sócio-ambiental podem serclassificadas segundo os seguintes tipos: 1) de-núncias de acirramento da crise do meio ambi-ente (desmatamento, poluição, etc.), 2) apresen-tação de propostas ou projetos desustentabilidade que em regra estão vinculadosao governo ou a empresas privadas, e 3) divul-gação amena de nichos ecológicos ouecoturismo; conforme a Tabela 4, a seguir:
Tabela 4 - Distribuição percentual dos principais tiposde abordagens===============================Denúncias 26 %Educação ambiental 10 %Ecoturismo 41 %Outros 15 %===============================Fonte: pesquisa de campo 2001/2002 (RAMOS, 2002)
324 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
O ambientalismo na mídia: da sustentabilidade pontual ao consumismo geral
As denúncias veiculadas (26 %) concentram-se sobretudo no telejornalismo. Já abordagensque promovem a educação ambiental e asustentabilidade (18 %), e as que divulgam re-servas naturais (o ecoturismo) (44 %), são en-contradas fundamentalmente em programasespecializados e em comerciais. Algumas ou-tras abordagens, como as de caráter científico,ou oriundas das comunidades locais, são real-mente exíguas (somam juntas 15 %).
Em geral, as denúncias de crimes ecológicostêm a característica de serem superficiais e dese perderem num denuncismo que cai rapida-mente no esquecimento. Tanto porque não seinvestigam as denúncias e não se punem os res-ponsáveis, como porque novos outros fatos (al-guns aparentemente sem relação alguma entresi) ocupam destaque na programação.
Já as abordagens que promovem oecoturismo têm maior destaque na mídia. Naforma de preservacionismo (defesa de locais denatureza “intocada”) ou enquantoconservacionismo (exploração racional dos re-cursos), estas abordagens são menos densas noquestionamento do modelo de desenvolvimentopraticado. A idéia de preservar a natureza “nageladeira” é originária do modelo norte-ameri-cano de construção de parques e reservas(Wilderness), com a criação do Parque Nacio-nal de Yellowstone, em 1872 (DIEGUES, 1996).
Este modelo incentiva a bipartição do ho-mem em relação à natureza. Não enfrenta osproblemas da degradação ambiental, pois con-sidera que a sociedade humana é “naturalmen-te” degradante em relação à natureza. O focode atenção está numa suposta natureza “natu-ral” e não na sociedade, nem na relação socie-dade/natureza. A idéia de “natureza intocada”fica comprometida, pois para as comunidadelocais esta natureza não é “selvagem”; além dis-to, não há qualquer parte do planeta em que nãose faça presente (direta e indiretamente) a açãodo ser humano; e ainda, toda reserva ou parqueé uma construção social, com delimitações po-líticas e espaciais definidas (LARRERE &LARRERE, 1999).
Outra parte da programação que promove aeducação ambiental, ou divulga projetos e pro-gramas de sustentabilidade, são em regra mar-cados pelo estigma da institucionalização. Osagentes sociais que se utilizam da mídia, ou aprópria mídia (através da Fundação RobertoMarinho) divulgam mensagens e experiênciasna direção da educação ambiental (ANDRADE,1998), cujas características são as seguintes:
1) individualismo ecológico. Desloca o pro-blema ambiental para a esfera individu-al e desconsidera o contexto social emque é produzido. As abordagens impu-tam aos indivíduos e ao grupos sociaisparticulares a responsabilidade de en-frentarem a degradação e encontraremsua “sustentabilidade” (D’AMBRÓSIO,1999);
2) tecnicismo ambiental. Fundamentadanos princípios da racionalidade técnica-instrumental, esta perspectiva apontapara a competência do perito e do co-nhecimento especialista na solução daproblemática sócio-ambiental. Os pró-prios agentes degradantes são chama-dos para resolverem os problemas, re-produzindo o mito do mercado auto-re-gulador;
3) institucionalização do ambientalismo.Praticamente quase a totalidade dasabordagens que fluem na mídia e se co-locam na perspectiva da educaçãoambiental, são resultados de entidadespúblicas e/ou privadas, que absorverama questão sócio-ambiental e passam adivulgar suas experiências.
Por fim, as mensagens de caráter científico,ou experiências de comunidades tradicionais (lo-cais) (JARA, 1998), são mínimas na mídia.Embora estas abordagens muitas vezes sejambastante significativas, no sentido de enfrentara degradação sócio-ambiental, ou defender aconstrução de alternativas de sustentabilidade,simplesmente não recebem o destaque devidona programação. Isto ocorre principalmenteporque este tipo de tratamento dado à proble-mática sócio-ambiental torna-se “pesado” de-
325Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
Paulo Roberto Ramos & Deolinda de Souza Ramalho
mais para a mídia e quase sempre incompatí-vel, se for levado até as últimas conseqüências,com a reprodução do modelo social vigente, oqual está diretamente associado á mídia. A po-tência mobilizada pela mídia, que promove aconvergência entre o irreal e o real, volta-se paraa racionalidade dominante (LÉVY, 1998).
O ambientalismo na mídia, em suas formase em todos os seus conteúdos aqui identifica-dos, está marcado pela racionalidade técnica-instrumental dominante. Além disto, grandeparte dos conteúdos estão voltados para as fun-ções sistêmicas, na medida em que não discu-tem soluções eficazes (quando muito apenaspaliativas) para os problemas; as formas tam-bém estão comprometidas, pelo tratamento apar-tado da questão social e fragmentado em sua
Estes dois tipos de estimulação são conside-rados contrapostos e complementares. São con-trapostos, porque não se deve aplicar as mes-mas estimulações às diferentes pessoas do pú-blico, já que cada uma tenderia a influir maissobre um ou outro segmento deste público: apositiva, para persuadir os indivíduos que po-tencialmente contribuem para perpetuar o sis-tema social vigente; e a negativa, para persua-dir os que potencialmente estariam dispostos ase rebelar contra ele. São considerados comple-mentares, pois ambos se dirigem a todo públicoindistintamente. Isto implica supor que taisestimulações não se neutralizam mutuamentenem são incompatíveis entre si e que, portanto,não há problema algum em aplicá-las de formasimultânea a todo público.
Entretanto, este modelo explicativo torna osreceptores de tais estímulos altamente passíveis
de persuasão manipulativa. Esta perspectiva nãoleva em consideração as realidades específicasde cada contexto social e histórico, bem comodesconsidera as resistências e reelaboraçõesdestoantes que as práticas sociais e as singula-ridades das formações sociais são capazes deapresentar (RIBEIRO, 1998). Aliás, sempre queocorrem discursos, seja das mídias ou das po-pulações, ocorrem convenções contextuais es-pecíficas que alteram e remodelam todo o cursode uma interação comunicacional, a fim de hajauma sincronia e seja possível o entendimentodas mensagens.
O conceito de “representações coletivas”(représentation collective), em sua definiçãoclássica feita por Émile Durkheim, é uma “cha-ve” na compreensão da mídia e dos seus con-teúdos. Trata-se de um instrumento teórico, quevem ajudar a entender como o conjunto da mídia
articulação, como aparece no discurso midiático(HOGAN; VIEIRA, 1995).
Representações sociais e raciona-lidade sobre o meio ambiente
Alguns pesquisadores, como Beltrán eCardona (1982, p.94), têm defendido a idéia deque os meios de comunicação de massa têm in-fluência, sobretudo, psicológica em seu públi-co. As implicações seriam primeiramente incul-car nas pessoas “um estilo geral de vida” ouuma “ideologia”, funcionando tal qual “drogas”de efeitos ora “excitante-estimulante”, ora “nar-cótico-analgésico”. Desencadeando um conjuntode valores e comportamentos, conforme o es-quema a seguir:
ESTIMULAÇÃO POSITIVA(excitante-estimulante)
Individualismo, Elitismo, Racismo
Materialismo, Agressividade
Aventurismo, Autoritarismo
ESTIMULAÇÃO NEGATIVA(narcótico-analgésico)
Conservadorismo, Conformismo
Autoderrotismo, Romantismo
Providencialismo
326 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
O ambientalismo na mídia: da sustentabilidade pontual ao consumismo geral
se manifesta numa relação direta com a forma-ção das representações coletivas e constituin-do-se em associação à consciência coletiva.
O social não se resume à exterioridade dosfatos, mas é também um conjunto de ideais. Apartir deste pressuposto, Durkheim formulou oconceito de representações coletivas como ten-do uma natureza específica e diferente dos fe-nômenos psicológicos individuais ou biológicos/orgânicos. As representações coletivas são fe-nômenos sui generis, como por exemplo a lin-guagem, a religião ou a arte, que formam umsistema coerente e se desdobram nos aspectosintelectual e emocional, constituindo a “consci-ência coletiva” (DURKHEIM, 1994, p.41). Amídia está, neste sentido, diretamente relacio-nada à consciência coletiva através de repre-sentações que fluem por seus meios. A mídia e aconsciência coletiva são, portanto, fenômenossociais associados que interagem.
O significado de representações coletivas,apresentado por Durkheim, nos dá uma pistapara empreender uma análise da mídia, enquantoum conjunto coerente entre o sistema social (amorfologia da sociedade com suas instituiçõesreligiosas, morais, econômicas, etc.) e a manei-ra desta sociedade manifestar sua consciênciacoletiva (os valores, os pensamentos coletivos,etc). Para Durkheim, em As formas elementa-res da vida religiosa (1912), as representaçõessociais são:
(...) produto de uma intensa cooperação que seestende não apenas no espaço, mas no tempo;para fazê-las, uma multidão de espíritos diver-sos associaram, misturaram, combinaram suasidéias e sentimentos; longas séries de geraçõesacumularam aqui suas experiências. Umaintelectualidade muito particular, infinitamen-te mais rica e mais complexa do que a do indi-víduo, está aqui, portanto, como que concen-trada. (1978, p.215)
Partindo desta definição é possível identifi-car a mídia como tendo um estatuto imagético-discursivo próprio, diretamente associado àsrepresentações coletivas. A mídia é a manifes-tação supra da comunicação social e um dos
produtos mais sofisticados e recentes destainteração coletiva. O discurso midiático tem acaracterística de ser um produto destinado aopúblico14 e por isso é o resultado da combina-ção de idéias, sentimentos, valores, costumes,etc., que estão enviesadas na constituição dasrepresentações coletivas.
A mídia e o discurso midiático são fenôme-nos sociais que mantêm vínculo entre as cons-ciências individuais e a racionalidade dominan-te, que por sua vez são constituídos a partir dosvalores, interesses e hierarquias sociais. Tendocomo base aquilo que assinalou Durkheim, asrepresentações coletivas possibilitam a constru-ção dos fundamentos da racionalidade que flu-em pela mídia, porque fornecem a matéria-pri-ma para tanto.
(...) as representações coletivas [...] gozam depropriedades maravilhosas. Por elas os homensse compreendem, as inteligências penetramumas nas outras. Elas têm em si um tipo de for-ça, de ascendência moral em virtude da qual seimpõem aos espíritos particulares. Desde entãoo indivíduo se dá conta, pelo menos obscura-mente, que acima de suas representações priva-das existe um mundo de noções-tipos, segundoas quais ele é obrigado a regular suas idéias;entrevê todo um reino intelectual de que ele par-ticipa, mas que o ultrapassa. (DURKHEIM,1978, p 237-238 – grifos nossos).
Nesta perspectiva, as representações coleti-vas comportam-se como um conjunto de “no-ções tipos” que perpassa o indivíduo e adquireexpressão própria (como a moral, a ética, o di-reito, as formas de classificação, etc). O dis-curso midiático não deve ser compreendidoapenas como um produto diretamente derivadodas representações coletivas, mas como possui-dor da capacidade de reincidir sobre os fenôme-nos sociais, imprimindo-lhes novos significados.As representações coletivas tornam-se osubstrato de formação da consciência coletiva,da comunicação social e, conseqüentemente doconjunto da mídia.
A mídia imprime necessariamente um dis-
14 Tendo, portanto, de falar a sua “linguagem”.
327Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
Paulo Roberto Ramos & Deolinda de Souza Ramalho
curso pautado na fluidez das mensagens e naseleção de conteúdos. Ao mesmo tempo em queveicula padrões imagéticos-discursivos funda-mentados em representações coletivas, pois têmde ser assimilável pelo público (sociedade), amídia, impingida pelo status da associação coma consciência coletiva, também se desdobra so-bre o contexto social. Ou seja, a mídia adquireo poder de interação com a “consciência coleti-va” não apenas pela capacidade técnica15 ecomunicacional16, mas por apresentar genetica-mente o mesmo princípio social e manifestaruma lógica que busca o tempo inteiro sua afir-mação nas noções mais permanentes e essenci-ais da sociedade. A idéia de Durkheim sobre oconceito clareia muito este postulado.
(...) a consciência coletiva é a mais alta formade vida psíquica, porque é uma consciência dasconsciências. Colocada fora e acima das contin-gências individuais e locais, ela vê as coisasunicamente pelo seu aspecto permanente e es-sencial que ela fixa em noções comunicáveis.Ao mesmo tempo que ela vê do alto, vê ao lon-ge; a cada momento do tempo ela abraça toda arealidade conhecida. [...] Atribuir ao pensamentológico origens sociais, não é rebaixá-lo, dimi-nuir seu valor reduzi-lo a apenas um sistema decombinações artificiais.” (DURKHEIM, 1978,p 243 – grifos nossos)
A consciência coletiva é o estado de consci-ência comum a toda sociedade, assim como umarealidade parcialmente autônoma de represen-tações coletivas. Os “a priori lógicos” concebi-dos por Durkheim, tais como espaço, tempo,causalidade e totalidade, seriam partes integran-tes da consciência coletiva. Desta forma a mídia,fundamentada na suposta imparcialidade e uni-versalidade da informação, estabelece nexoscausais com esta consciência coletiva, tornan-do-se parte dela e redefinindo os princípios e o
poder simbólico que a constitui (BALANDIER,1982).
O discurso midiático (re)produz padrões enormas comportamentais e culturais com basenas representações coletivas que lhe fornecesubsídios. As representações coletivas, as cren-ças e aspirações comuns, juntamente com asmanifestações e criações coletivas, formam ocimento que garante à mídia formular um dis-curso assentado naquilo que há de mais geral esocial. A mídia, neste processo, estabelece re-lação, pela base, com a consciência coletiva(SPINK, 1994).
Isso não significa que a consciência coletivae a mídia sejam unidades monolíticas, com umpoder absoluto sobre as consciências e sobre osindivíduos. Tanto a consciência coletiva comoa mídia, embora sejam formadas por represen-tações coletivas e adquiram um certo poder decoação, este poder não é absoluto, fixo ou in-quebrantável. Ocorre na verdade uma relaçãodialética, pois estes conceitos exprimem umarealidade (social e psicológica) em constantemutabilidade, formada por fatores diversos,complexos e de reciprocidade permanente(HANNIGAN, 1997).
A existência de uma racionalidade dominan-te, perpassada pelo discurso midiático, não negaa existência de resistências por parte do públi-co. As populações, aliás, tendem a desenvolverestratégias de sobrevivência e um estilo própriode comportamento e pensamento que fogem emmaior, ou em menor grau a esta racionalidadedominante. Estes padrões são parte integranteda própria estrutura de formação, função, mo-vimento e desenvolvimento da mídia. Respon-sável pela opinião pública17, com legislação es-pecífica para o seu funcionamento18,mobilizador de vontades e expressões sociais19,
15 Possibilidade de atingir um grande público, através devários meios, em curto espaço de tempo.16 Complexo integrado de mensagens, meios, público efeedback, que dão fluidez aos conteúdos e representa-ções coletivas.
17 Uma das característica do discurso da mídia, é quesuas mensagens são diretamente voltadas para o um dadopúblico receptor.18 A Constituição Federal (Título VIII, Capitulo V, arts.220 a 224), Código de Ética da ABI, etc.19 É o caso, por exemplo, da campanha pelas eleiçõesdiretas; ou ainda, a indução de modas e consumos(WEBER, apud NETO; PINTO, 1996; MATOS, 1994).
328 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
O ambientalismo na mídia: da sustentabilidade pontual ao consumismo geral
a mídia está diretamente ligada às questões maisvitais e polêmicas da sociedade contemporânea(SCHWARTZEMBERG, 1978).
A função de reprodução é a mais importantee básica dos chamados meios de comunicaçãode massa. Sob a aparência de objetividade, di-versidade, indiferença e imparcialidade da pro-dução, se esconde o uso de códigos que promo-ve a transmissão de diversas formas seletivas,as relações de poder da sociedade, as hierarqui-as e diferenças de gênero, a relação da organi-zação com a estrutura de domínio social, emesmo, um conjunto de idéias sobre a proble-mática ambiental (MATTA, 1980).
Os conceitos de cultura e de simbolismointeracional, discutidos em Geertz como umateia de significados que os próprios homens te-cem e a eles estão presos e dentro deles agem,nos dão uma pista para entender os padrões designificados transmitidos e incorporados aossímbolos difundidos pela mídia. A mídia, muitomais do que um instrumental técnico, é um ins-trumental simbólico (BOURDIEU, 1989).
Embora grande parte das teorias da comuni-cação identifiquem o pólo receptor (o público)como passivo e influenciável pelo pólo emissor(a mídia) (LASWELL, apud SILVA, 1999),observamos que esta explicação é inadequadapara dar conta do fenômeno que estamos inves-tigando, cujas características são as seguintes:1) a mídia é um meio técnico que tem possibi-
litado a propagação de padrões imagético-discursivos sobre a questão ambiental e asustentabilidade, que, por sua vez, são pau-tados pela racionalidade instrumental esistêmica (RIBEIRO, 1992);
2) as populações desenvolvem outras manifes-tações discursivas, muitas vezes distoantesdas proposições midiáticas, pois têm umarealidade própria do seu mundo da vida;
3) as abordagens buscam a afirmaçãoontológica de uma natureza dominada econtrolada, ao mesmo tempo em que se re-produzem práticas e representações sociaisdegradantes por todas as partes da socieda-de.
Portanto, não se pode querer simplesmenteque a população se engaje em projetos ou com-
portamentos na direção da sustentabilidade,quando esses projetos são distantes da realida-de vivida, ou simplesmente não chegam a seconcretizar como prática social e estão funda-mentados na racionalidade técnico-instrumen-tal dos padrões discursivos dominantes.
Sobre este problema, as considerações deHabermas são de significativo interesse paraelucidar este fenômeno:
[...] Dizer como as coisas se comportam (oudeveriam se comportar) não depende necessa-riamente de uma espécie de comunicação real-mente efetuada, ou pelo menos imaginada. Nãoé preciso fazer nenhum enunciado, isto é, reali-zar um ato de fala. [...] compreender o que édito a alguém exige a participação no agir co-municativo. Tem de haver uma situação de fala(ou pelo menos ela deve ser imaginada) na qualum falante, ao comunicar-se com um ouvintesobre algo, dá expressão àquilo que ele tem emmente. (HABERMAS, 1989, p.40 – grifos nos-sos)
Os problemas ambientais são decorrentes dodesenvolvimento econômico/social que possuiuma racionalidade técnica e instrumental dire-tamente voltada para a funcionalidade do sis-tema sócio-econômico (BURKE, 1994). Amídia também é um produto desta evolução ci-entífica. A associação da questão ecológica àmídia cria uma contradição nos termos da pró-pria racionalidade: como tratar um problemadecorrente do desenvolvimento técnico/cientí-fico, apelando para o universo do engajamentopopular, ou para a ética ambiental, quando aspróprias estruturas de racionalidade prática esimbólica se expressam em termos de degrada-ção, desigualdades e hierarquias?
Em se tratando da relação entre a comuni-cação social e a questão ambiental, ocorre fe-nômenos distintos, simultaneamente, entre osdiscursos da mídia e as representações forma-das pelo público: de um lado, os discursos damídia se orientam para uma ação instrumental/estratégica (o ambientalismo institucional); deoutro, os discursos da população se orientampara uma ação comunicativa e de validez em
329Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
Paulo Roberto Ramos & Deolinda de Souza Ramalho
suas vidas cotidianas. Nas palavras deHabermas (1983, p.79):
[...] no agir estratégico um atua sobre o outropara ensejar a continuação desejada de umainteração, no agir comunicativo um é motivadoracionalmente pelo outro para uma ação de ade-são [...]. Chamo comunicativas às interações nasquais as pessoas envolvidas se põem de acordopara coordenar seus planos de ação, o acordoalcançado em cada caso medindo-se pelo reco-nhecimento intersubjetivo das pretensões devalidez.
Ocorre a relação entre dois universosdiscursivos: o da mídia e o das populações.Ambos interagindo para a formação das repre-sentações sociais sobre a questão sócio-ambiental, mas cada qual com sua lógica e suasespecificidades. Basta observar, por exemplo,que o discurso da mídia flui num sentido pré-determinado (embora sem controle absoluto),onde suas interações são retardadas20 pela po-tência do seu impacto; enquanto os discursosdo mundo da vida (e, portanto, do contato face-a-face) fluem através de um “jogo” de interaçõesdinâmicas21 onde os processos são construídossem qualquer controle direto.
A contradição fundamental do processodiscursivo da mídia sobre a questão sócio-ambiental é a dificuldade em tratar de uma gamade problemas construídos socialmente com basena racionalidade de dominação e degradação,de maneira a subverter esta mesma lógica (aspropostas/projetos de sustentabilidade) semcomprometer as próprias estruturas discursivas/simbólicas e sistêmicas/institucionais que seestruturam na sociedade e se encontramhegemonicamente na programação da mídia.
Isto ocorre, principalmente, porque os prin-cípios da racionalidade técnico-instrumental, que
se manifestam na dominação da natureza, tam-bém se fazem presentes, sob outras formas, emtodas as partes da sociedade. Habermas (1993,p.141) nos alerta que:
A história da civilização emerge assim de atode violência praticado ao mesmo tampo contrao homem e a natureza. A vitória do espírito ins-trumental é a história da introversão do sacrifí-cio, isto é, da privação, tanto quanto da históriado desdobramento das forças produtivas. Nametáfora do controle sobre a natureza ressoaesse nexo entre o poder de manipulação técnicae a dominação institucionalizada: o controle danatureza está ligado à violência introjetada doshomens sobre os homens, à violência do sujeitosobre sua própria natureza.
O meio ambiente é visto como um elementopassivo de dominação e controle. Este princí-pio está na base do paradigma dominante inau-gurado por Francis Bacon (1561-1626) e RenéDescartes (1596-1650), que propõe conhecer anatureza para dominá-la e colocá-la a seu ser-viço. A idéia fundamental é que “saber é poder”e que o conhecimento, principalmente o mate-mático, seria capaz de criar um mundo perfeitoe completo, baseado na ordem e na medida jus-ta da inteligência e da razão (CHAUÍ, 1997).
Neste sentido, percebemos que o discursomidiático sobre a problemática sócio-ambiental,por suas conexões e interações, formam pro-cessos discursivos fortemente interligados àsestruturas lingüísticas, às práticas sociais diá-rias, às maneiras de fazer o cotidiano e aos con-flitos construídos na relação dos homens com anatureza e dos homens entre si.
Conclusão
Com a divulgação massiva dos temasambientais pela mídia, ocorre umapopularização do assunto, todavia isto não sig-nifica que esta carga de informações impliquenecessariamente na mudança de atitudes dianteda degradação sócio-ambiental, ou mesmo umamaior “consciência” da problemática (condiçãonecessária para a formação de cidadão consci-entes e participantes). Basta ver que a medida
20 Quanto mais um fenômeno recebe enfoque da mídia,mais comum se torna. Quanto mais se veicula diversida-des, mais as “respostas” fogem ao controle. Há muitomais informações na mídia do que qualquer um possacaptar.21 Os processos de interação face-a-face são constituídospor diversas formas de saberes, em função de um suportede validez dado pela situação de suas vidas cotidianas.
330 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
O ambientalismo na mídia: da sustentabilidade pontual ao consumismo geral
em que aumentam os apelos ambientais namídia, mais degradação ocorre por todas aspartes.
A mídia, neste processo, é co-responsávelpela difusão de um modelo de desenvolvimentosócio-econômico, fundado em princípios de de-gradação ambiental (urbanização, industri-alismo, consumismo, etc.) e, ao mesmo tempo,um instrumento bastante tímido no sentido decontribuir para a solução dos problemas sócio-ambientais vividos pela sociedade. Tanto a mídiacomo a degradação sócio-ambiental têm, a ri-gor, uma mesma base fundante: o desenvolvi-mento técnico-científico. É de se esperar, por-tanto, que alguns elementos aparentemente semqualquer correspondência se achem interligados.Assim se processa com a racionalidade instru-mental.
É interessante observar também que aracionalidade técnico/instrumental, que flui pre-ponderantemente na programação da mídia, éproduto direto de um processo deinstitucionalização da questão sócio-ambiental,com vistas a adequar o assunto à lógica de mer-
cado que regula o funcionamento da mídia.Além de receber um tratamento ínfimo na
programação da mídia, a questão sócio-ambiental também é colocada, em regra, comoum elemento que deve ser pensado com basenos princípios do individualismo, tecnicismoe da institucionalização. Não se trata a pro-blemática sócio-ambiental como uma questãoque está na raiz dos graves e crescentes pro-blemas que desafiam todos que se preocupamcom o bem estar social. Em geral as aborda-gens sobre o meio ambiente acaba sendo maisum produto que deve ser colocado na vitrinada TV, assimilado pelo “mercado”.
A educação ambiental e a construção dealternativas na direção do desenvolvimentosustentável ficam comprometidas em decor-rência da própria estrutura discursiva damídia, que promove o consumismo e a degra-dação, sob as mais diversas formas, em gran-de parte da sua programação; ao mesmo tem-po em que adequa a problemática à lógicamercantil nos parcos momentos em que abor-da a questão.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA JÚNIOR, José Maria G. Desenvolvimento ecologicamente auto-sustentável: Conceitos, Prin-cípios e Implicações. Humanidades, n. 38, Brasília, 1999.
ANDRADE, Thales de. Ecológicas manhãs de sábados: o espetáculo da natureza na televisão brasileira.Campinas, 1998. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Unicamp.
BARBERO, Jesus Martin. Dos meios às mediações. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1991.
BALANDIER, Georges. O poder em cena. Brasília: Editora da UNB, 1982. (Coleção Pensamento Político).
BELTRÁN, Luís Ramiro; CARDONA, Elizabeth Fox de. Comunicação dominada: os Estados Unidos eos meios de comunicação na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 1982.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989.
BURKE, Peter. A fabricação do rei. A construção da imagem de Luís XIV. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,1994.
BUTTEL, Frederick. A sociologia e o meio ambiente: um caminho tortuoso rumo à Ecologia Humana.Revista Perspectiva, São Paulo, v. 15, p. 56-123, set. 1992.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
_____. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
331Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
Paulo Roberto Ramos & Deolinda de Souza Ramalho
CAVALCANTI, Clóvis (org.). Desenvolvimento e natureza: estudo para uma sociedade sustentável. SãoPaulo: Cortez, 1995.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1997.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL. Brasília: Editora do Senado Federal, 1988.
D’AMBRÓSIO, Ubiratã. Aspectos Culturais do Desenvolvimento Sustentável. Humanidades, Brasília:Editora da UNB, 1999.
DENCKER, Ada de Freitas M. Comunicação e Meio Ambiente. São Paulo: Intercom, 1996.
DIEGUES, A.C.S. O mito moderno da natureza intocada. Rio de Janeiro: Hucitec, 1996.
DURKHEIM, É. Sociologia e Filosofia. São Paulo: Ícone, 1994.
_____. As formas elementares da vida religiosa. In: DURKHEIM. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 46-77. (Coleção Os Pensadores, v. 48).
FEATHERSTONE, Mike. Cultura do consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio Nobel, 1995.
GIDDENS, Anthony (org.). As conseqüências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp, 1997.
HABERMAS, Jurgen. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 1990.
_____. Técnica e ciência como ideologia. Lisboa: Edições 70, 1987.
_____. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.
_____. Philosophisch-politische Profile. In: HABERMAS. São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 31-53.(Coleção Grandes Cientistas Sociais, v. 17).
HANNIGAN, John A. Environmental Sociology. A social constructionist perspective. Nova York: Routledge,1997.
HOGAN, Daniel Joseph & VIEIRA, Paulo Freire. Dilemas socioambientais e desenvolvimento sustentá-vel. São Paulo: Editora da Unicamp, 1995.
JARA, Carlos Júlio. A sustentabilidade do desenvolvimento local. Brasília: IICA: SEPLAN, 1998.
LARRERE, C. & LARRERE, R. Do bom uso da natureza: para uma filosofia do meio ambiente. Lisboa:Instituto Piaget, 1999.
LEIS, Héctor Ricardo. A modernidade insustentável: as críticas do ambientalismo à sociedade contempo-rânea. Petrópolis: Vozes, 1999.
LÉVY, Pierre. O que é o virtual ? São Paulo: 34, 1998.
MARTINE, George (org.). População, meio ambiente e desenvolvimento. Campinas: Editora da Unicamp,1993.
MATOS, Heloíza (org.). Mídia, eleições e democracia. Rio de Janeiro: Página Aberta, 1994.
MATTA, Fernando Reys (org.). A informação na nova ordem internacional. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1980.
NETO, Antônio Fausto & PINTO, Milton José (orgs.). O indivíduo e as mídias. Rio de Janeiro: Diadorim,1996.
ORLANDI, Eni P. Análise de discurso. Princípios & Procedimentos. Campinas: Pontes, 1999.
RAMALHO, Deolinda de Souza. Vulnerabilidade e riscos em comunidades urbano-marginais. CampinaGrande: UFPB: UNCAL: IDRC, 1996.
332 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 317-332, jul./dez. 2002
O ambientalismo na mídia: da sustentabilidade pontual ao consumismo geral
RAMOS ANGERAMI, Luis Fernando. Meio Ambiente e Meios de Comunicação. São Paulo: AnnaBlume,1995.
RAMOS, Paulo Roberto. Percepções dos riscos ambientais: do discurso midiático à vida cotidiana depopulações da cidade de Campina Grande/PB. [S.l.], 2002. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - PPGS,UFPB.
RATNER, Henrique. Desenvolvimento sustentável: Um novo caminho? Belém: UFPA: NUMA, 1992.
RIBEIRO, Branca Telles. Sociolingüistica interacional. Porto Alegre: AG, 1998.
_____. Gustavo Lins. Anbientalismo e desenvolvimento sustentado: nova ideologia/utopia do desenvolvi-mento. Brasília: UNB, 1992. (Série Antropologia, 123).
_____. Luiz Cesar de Q., JUNIOR, O. A. (orgs.). Globalização, fragmentação e reforma urbana: o futurodas cidades na crise. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994.
SACHS, Ignacy. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. São Paulo: Vértice, 1986.
SANTOS, Theotonio dos. Economia mundial. Integração regional & desenvolvimento sustentável.Petrópolis: Vozes, 1994.
SCHWARTZEMBERG, Roger-Gerard. O Estado Espetáculo. Rio de Janeiro: Difel, 1978.
SILVA, Paulo R. Guimarães da. Qualidade de vida no meio urbano: aspectos conceituais e metodológiconuma aproximação da problemática ambiental local. Rio de Janeiro: FGV, 1999.
SPINK, Mary Jane P. O conceito de representações sociais na abordagem psicosocial. Cadernos de SaúdePública. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 1993.
SOUZA BRAGA, Ubiracy de. Das caravelas aos ônibus espaciais. A trajetória da informação no capitalis-mo. São Paulo, 1994. Tese (Doutorado em Ciências) - USP.
TAMAMES, Ramón. Ecologia y desarrollo. La polémica sobre los limites al crecimento. Espanha: Alian-za, 1999.
THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicaçãode massa. Petrópolis: Vozes, 1995.
TOLBA, Mostafá K. Los actuales estilos de desarollo y los problemas del medio ambiente. Columbia:Revista de la Cepal, 1980.
VIOLA, Eduardo J. Meio Ambiente, desenvolvimento e cidadania: desafios para as Ciências Sociais. SãoPaulo: Cortez, 1998.
Recebido em 27.09.02 Aprovado em 11.03.03
333Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 333-340, jul./dez. 2002
Maria José Marita Palmeira & Solange de Oliveira Guimarães
Maria José Marita Palmeira ∗∗∗∗∗
Solange de Oliveira Guimarães **
RESUMO
Este artigo analisa a multidimensionalidade do processo de desenvolvimentolocal e sustentável em uma perspectiva que vai além das dimensões geoambiental,econômica e política, pondo em evidência a realidade local dos atores sociais,seus valores culturais e história. A consideração do coletivo e consensual quan-do associados a um projeto cultural identifica o desenvolvimento local susten-tável como realidade dialética onde os valores assumem preponderância noprocesso educativo. Reflete sobre os processos educativos centrados nos valo-res culturais para a formação do indivíduo autônomo e a relação deste com odesenvolvimento autônomo da sociedade da qual participa e recebe influências.Ressalta a importância de uma autonomia solidária para a construção e/oureconstrução do social.
Palavras-chave: Multidimensionalidade – Valores culturais – Autonomia eheteronomia – Processos educativos
ABSTRACT
CULTURAL VALUES AS STRUCTURING ELEMENTS OF THE LOCALSUSTAINABLE DEVELOPMENT
This article analyzes the multi-dimensionality of the local and sustainable de-velopment in a perspective that reaches beyond the geo-environmental, eco-nomical and political dimensions, making evident the local reality of the socialactors, their cultural values and history. The consideration of the collective andconsensual, when associated to a cultural project, identifies the sustainable lo-
VALORES CULTURAIS COMO ESTRUTURANTESDO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL
* Docente titular da Universidade do Estado da Bahia - UNEB e Coordenadora da Pós-Graduação StrictoSensu da Universidade Católica de Salvador - UCSal. Líder do Grupo Sociaprende: Educação em Valoresna Contemporaneidade. Pós-Doutora em Educação e Políticas Públicas. Endereço para Correspondência:Rua Juruna, Aldeia Jaguaribe, Casa 56, Piatã – 41680.210 Salvador/BA. E-mail: [email protected]
** Docente titular e Diretora da Faculdade Adventista de Ensino do Nordeste – FAENE / Instituto Adventistade Ensino do Nordeste - IAENE. Vice-líder do Grupo Interinstitucional de Pesquisa Sociaprende: Educa-ção em Valores na Contemporaneidade. Doutoranda em Educação em Valores e Democracia. Endereçopara correspondência: BR 101 km 197, IAENE – CEP: 44.300-000 Capoeiroçu, Cachoeira/BA. E-mail:[email protected]
334 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 333-340, jul./dez. 2002
Valores culturais como estruturantes do desenvolvimento local sustentável
cal development as dialectic reality where values take preponderance in theeducative process. It reflects on the educative processes centered on the culturalvalues for the education of the autonomous individual and his relation with theautonomous development of the society in which he participates and by whichhe is influenced. It highlights the importance of a solidary autonomy for theconstruction and/or reconstruction of the social.
Key words: Multi-dimensionality – Cultural values – Autonomy and heteronomy– Educative processes
INTRODUÇÃO
Desenvolvemos esta reflexão referenciando-nos na visão compreensiva do desenvolvimentolocal em sua multidimensionalidade, apoiada naperspectiva de organização do futuro com a par-ticipação do conjunto dos atores sociais. Umavisão teórico-metodológica dessa amplitude ul-trapassa a dimensão geoambiental, acrescendoa esta as dimensões econômico-social, históri-co-cultural, científico-tecnológica e político-institucional e reconhecendo a articulação des-sas importantes dimensões como exeqüível, em-bora de difícil cuidado e planejamento. Nestavisão compreensiva o nível de conhecimento darealidade local e regional dos atores sociais, seusvalores culturais e história, assume importân-cia na articulação inter e intra dimensionais, e aincorporação de renda de segmentos represen-tativos da sociedade – uma estratégia de desen-volvimento local sustentável – passa a exigiruma ação politizada, “construída a partir de umprojeto político que possa dar coesão emobilização à população local, em torno de in-teresses coletivos e consensuais...”. O que im-plica contemplar, também, “a preservaçãoambiental, a redução do nível de pobreza e adiversificação da atividade produtiva [...] quedevem estar associados a um projeto cultural”(BAHIA, 2001, p.3). Visto sob a ótica dessamultidimensionalidade o desenvolvimento locale sustentável integra uma única realidade,dialética em suas interações, processos e resul-tados.
A história recente de países como a Alema-nha, o Japão, a Inglaterra e os USA demonstraque o desenvolvimento que estes alcançaram foi
precedido de avanços nas idéias sociais, expres-so na literatura e nas artes. Na verdade o desen-volvimento sócio-econômico desses países ocor-reu quando a consciência nacional, centrada emvalores culturais, definiu a qualidade de suaslideranças políticas, traduzida em uma ação fortedo Estado na formação de elites capazes e har-monizadas com esses valores. Essas pré-condi-ções, associadas ao espírito de solidariedade, ea outros fatores, foram imprescindíveis para odesenvolvimento autônomo que estas socieda-des conquistaram e vêm mantendo (BENAYON,1989), o que nos remete à reflexão de que aidentificação/definição de valores culturaiscomuns é um fator integrador importante paraque a sociedade, composta por indivíduoscomplexos, busque sua autonomia em harmo-nia com metas almejadas.
Enquanto nos países citados verificou-se estanecessidade de avançar nas idéias, com forteênfase na cultura, no Brasil a análise sucinta darealidade sócio-econômica e política, revela suainserção em um contexto de globalização queenfraqueceu o Estado e vem subordinando aselites nacionais aos interesses do capital inter-nacional. Além disso persistem, no país, as te-ses de que o avanço científico e tecnológico é oprincipal motor do seu desenvolvimento, o quevem definindo uma situação em que experiênci-as criativas de desenvolvimento e de uso de no-vos modos de organização na prestação de ser-viços públicos, particularmente via a ação dosmunicípios, e o fortalecimento social e autôno-mo destes, nem sempre são consideradas com adevida atenção, muitas das experiências nãosendo, sequer, registradas.
E quando constatamos, numa análise inter-
335Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 333-340, jul./dez. 2002
Maria José Marita Palmeira & Solange de Oliveira Guimarães
nacional e mais ampla, que uma educação vol-tada para a consideração da necessidade socialé variável fundamental para a transmissão, pre-servação e/ou crítica dos valores culturais, ficaainda mais clara a insuficiência da estratégiabrasileira, centrada no avanço científico etecnológico, associada à presença de elites qua-se sempre desprovidas de compromisso com acoisa pública e inaptas para a organização doEstado a serviço da sociedade, mesmo se reco-nhecemos a importância do avanço científico etecnológico, sempre desejável e estratégia tam-bém importante.
O não privilegiamento de processoseducativos voltados para os aspectos compre-ensivos de nossa formação sócio-cultural é umprovável fator explicativo da freqüente identifi-cação da educação como algo desejável porém,quase sempre, incapaz de acompanhar e contri-buir para as rápidas mudanças exigidas pelofenômeno da globalização. Um fenômeno queimplica, entre outros aspectos, considerar e res-peitar a identidade nacional e a diversidade cul-tural. A educação é freqüentemente acusada dedesassociada da vida real e, conseqüentemente,incapaz de preparar para esta, em sua dimen-são cidadã, pois é mais centrada na finalidadede qualificação profissional para o mercado eas exigências do avanço tecnológico, desprezan-do, com muita freqüência, a análise da culturae dos valores que a sustentam.
A finalidade de qualificação profissional énecessária, todavia essa é uma visão limitadada educação, que reconhecemos importante masque sabemos, não é a única. Assmann (1998,p.226) ao fornecer elementos aos educadorespara o reencantamento com a Educação, afir-ma que “educar significa defender vidas”. Nes-sa perspectiva mais abrangente da educação éacentuado o já reconhecido imbricamento entreprocessos vitais e processos do conhecimento,enquanto é recolocada a relevância da educa-ção traduzida, entre outros, por seu papel naconstrução de consensos, na potencialização denossas frágeis predisposições à solidariedade,assim como na consideração dos valores cultu-rais, caminho eficiente para conduzir ao desen-volvimento autônomo do indivíduo e da socie-
dade, como vimos.Agregando esforços às reflexões já existen-
tes, esse artigo objetiva analisar os processoseducativos centrados nos valores culturais paraa formação do indivíduo autônomo e crítico e arelação deste com o desenvolvimento autônomoda sociedade da qual participa e recebe influên-cias. A perspectiva é a de refletir sobre a im-portância dos processos educativos enquantoprocessos vitais, na compreensão de que umadada sociedade/comunidade para desenvolver-se necessita da formação e da ação de seuscidadãos, o que implica desenvolvimento deconsciência crítica e pensar autônomo com-prometidos com seu espaço concreto e realde atuação. O desenvolvimento coletivo e aconstrução de ambientes potencializadores devidas humanas podem receber excelente refor-ço de um processo educativo voltado para estaperspectiva.
1 – A dialética autonomia-heteromianos processos educativos
O estudo aprofundado das relações da edu-cação com o processo de desenvolvimento indi-vidual e o processo de desenvolvimento coleti-vo encontra na dialética do binômio autonomia/heteronomia um vasto campo de investigação.Embora o Grupo Interinstitucional de Pesquisa“Sociaprende: Educação em Valores naContemporaneidade” tenha por objeto de inves-tigação a importância da formação em valores,na consideração de outros binômios1 apresenta-remos, a seguir, os primeiros resultados da re-flexão sobre a importância pedagógica da cons-trução do valor da autonomia, na consideraçãoda heteronomia, e sua importância nos proces-sos educativos com vistas ao desenvolvimento
1 Outros binômios dialéticos (a exemplo da identidade-alteridade; conflito-consenso e eleição-reflexão), igual-mente importantes na compreensão dos valores culturaisnos processos educativos e de desenvolvimento indivi-dual e social, são objeto de investigação do Grupo dePesquisa Sociaprende, devendo os resultados dessa in-vestigação serem socializados em outro artigo.
336 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 333-340, jul./dez. 2002
Valores culturais como estruturantes do desenvolvimento local sustentável
local sustentável. Esta reflexão é sistematizadaà luz das quatro abordagens que seguem.
a – A abordagem da educação como sociali-zação
Nesta perspectiva, em termos sociológicos aautonomia “é o poder de um grupo de organi-zar-se e administrar a si mesmo, ao menos sobcertas condições e certos limites” (BANFIELD,1985, p. 73 e ss). Na dimensão sociológica evi-dencia-se a presença da idéia de coexistênciaentre a autonomia e a heteronomia, como ne-cessária em uma coletividade. Entretanto, a au-tonomia aí considerada se restringe ao processode conhecimento e de reflexão sobre as normassociais, o reconhecimento de sua utilidade e aadaptação às mesmas. Nesse processo de(re)conhecimento a socialização estimula a ca-pacidade de julgamento; no entanto o poder cri-ador e crítico do indivíduo, com vistas à trans-formação (individual e social), não é estimula-do.
As práticas educativas, nessa abordagem,referenciam-se no conhecido processo de socia-lização, em que o indivíduo deve ser ajustado àsociedade, recebendo desta o sistema de valorese normas, imposto, muitas vezes, com forçasocial alheia à sua consciência e vontade, sob alógica de uma moral heterônoma: uma moralque desenvolve um respeito unilateral (respeitoao adulto, aos mestres, à autoridade), baseadano afeto e/ou no medo. A moral socializadoragera um realismo que deprecia as intenções dosatos e valoriza as suas conseqüências, termi-nando por definir que as regras sejam obedeci-das, mesmo quando não são compreendidas.
Sob a égide da educação como socialização“manda quem pode e obedece quem tem juízo”,como bem define o conhecido adágio popular,sendo abandonada toda e qualquer expressão,mesmo tênue, de desenvolvimento de uma auto-nomia subjetiva e pessoal, que é substituída poruma moral objetiva, introjetada nos sujeitos nasdiferentes interações que estes estabelecem nocotidiano, de forma explícita e/ou subliminar.
Quando a dimensão da socialização é consi-derada isoladamente, cria-se um campo fértil
para que sejam forjados e perpetuem-se os dita-dores, enquanto os demais indivíduos são trans-formados em seres passivos diante dos aconte-cimentos e submissos a qualquer um que apa-rente possuir poder. O resultado mais perversodessa formação para a submissão é a indiferen-ça e a apatia diante das questões de interessecoletivo/público.
Crianças formadas em uma concepçãoeducativa restrita à socialização tornam-se adul-tos que delegam a decisão para outras pessoas,geralmente entes abstratos e não identificados,nomeados genericamente de “eles”: os políticos,os governantes, os “líderes”, enfim, entes dequalquer natureza. Abrem mão da sua capaci-dade política, inalienável da condição humana,e são incapazes de dizer algo diferente do queseus “chefes” dizem. Ou transformam-se emadultos autocentrados, que não se importam comas conseqüências de seus atos para alcançar seusobjetivos, incapazes de seguir normas que nãosão suas.
O paradigma da educação como sociali-zação reduz os processos educativos à suadimensão de adaptação, não chamando a aten-ção dos estudantes para o fato de que as nor-mas podem ser criticadas, mudadas,reconstruídas. O resultado é que são dificulta-dos os processos de mudança dos indivíduos e,por conseqüência, de uma dada sociedade. Numadimensão apenas socializadora – enquanto aqui-sição de pautas básicas de convivência e reco-nhecimento de critérios – os comportamentosde participação e de cooperação, que constro-em e/ou reconstroem a sociedade, e permitem aformação de um sentimento de pertença ativo ecrítico, não são considerados.
b – A abordagem da educação como clarifi-cação de valores
Nesta abordagem importa ao individuo aten-der aos seus interesses e desejos sem considerar anecessidade de soluções generalizadas (SIMON,1978; PASCUAL, 1988). Apontando para a ne-cessidade de um auto-conhecimento reconhece omomento da reflexão e construção pessoal, o queaporta uma certa imagem de autonomia.
337Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 333-340, jul./dez. 2002
Maria José Marita Palmeira & Solange de Oliveira Guimarães
A valorização das decisões subjetivas, pro-piciada por esta abordagem, pode levar a umavisão individualista de mundo, supervalorizandoas necessidades individuais, sem levar em contaa perspectiva social, a solidariedade e o diálogocomo elementos viabilizadores de consensos edissensos, com o necessário respeito às diferen-ças.
Na prática, entretanto, como o indivíduo nãovive só no mundo, e os conflitos sociais sãocoletivos, esta abordagem é insuficiente para odesenvolvimento humano por não considerar quea tarefa construtiva, de modo interpessoal edialógico, é a que leva ao desenvolvimento co-letivo. As conseqüências dessa insuficiência são,com freqüência, uma formação distorcida, emque comportamentos de corrupção, falsidade eindividualismo podem ser manifestos, ou tor-narem-se uma prática freqüente.
Para uma finalidade coletiva como a de umaeducação para o desenvolvimento local e sus-tentável de comunidades, compreendemos serimportante um equilíbrio entre o objetivismo daabordagem da socialização – ao reconhecer va-lores essenciais para o viver coletivo e centrar-se no social – e o subjetivismo da abordagemda clarificação de valores – centrada no indivi-dual e no respeito às diferenças – sem desprezoàs contribuições de indivíduos reflexivos, críti-cos e autônomos, nem sempre, todavia,interativos e dialógicos.
c - A abordagem da educação como desenvol-vimento cognitivo-evolutivo
Temos com Piaget (1988, p. 16 e ss) a vali-osa contribuição de que a autonomia supõepotencializar a atitude dialógica em sentidosubjetivo e intersubjetivo. Em outras palavras,autonomia é “submissão do indivíduo a umadisciplina que ele próprio elege e a qual ele ela-bora com sua personalidade”. Esta compreen-são teórica destaca a importância dadialogicidade na construção das normas soci-ais, que são definidas isoladamente, embora,antes de serem consensuadas, passem pela ca-pacidade de eleição do indivíduo, inserido nacoletividade, ante as opções que a vida lhe ofe-
rece em determinado momento histórico.Na mesma linha teórica desenvolvida por
Piaget, vamos encontrar Dewey (1975) eKohlberg (1992) com uma proposta de forma-ção centrada no cognitivo, que considera o de-senvolvimento do juízo moral (capacidade dejulgar, arrazoar, dialogar para decidir e optar),indo da heteronomia (social) para a autonomia(individual), através de 06 (seis) estágioscognitivos, ou 03 (três) níveis: o pré-convenci-onal, o convencional e o pós-convencional2. ParaDewey (1975, p.37) o objetivo dos processoseducativos é o desenvolvimento tanto intelectu-al como moral, e “os princípios éticos e psico-lógicos podem ajudar a escola na maior de to-das as construções: a edificação de um caráterlivre e forte”; para Piaget (1988, p. 38) os pro-cessos educativos têm por objetivo “construirpersonalidades autônomas”. Já Kohlberg(1992), citado por Puig (1996), alinha-se aopensamento de Dewey e Piaget ao considerarque a finalidade básica dos processos educativosseria a de facilitar ao aluno condiçõesestimuladoras do desenvolvimento da capacida-de de avaliar.
Finalmente, é importante destacar que nessaabordagem a finalidade dos processoseducativos é a formação de sujeitos autônomos,sem autoritarismo, com diálogo e respeito mú-tuo, embora não enfatize a influência das he-ranças culturais. Ao adotar estágios cognitivospeca, também, pela não consideração da neces-sária flexibilidade nos processos educativos, porconta das diferenças individuais.
d – Abordagem da educação como constru-ção da personalidade moral
Compreendendo a moral como “o produto
2 Nível pré-convencional: inicia-se, geralmente, dos 5 aos14 anos. A criança obedece por medo, para evitar danosfísicos e satisfazer as próprias necessidades (estágios 1 e2). Nível convencional: inicia-se na pré-adolescência epode se prolongar por toda a vida. As normas sociais sãoo guia do dever (estágios 3 e 4). Nível pós-convencional:começa nos primeiros anos da adolescência. Moral docontrato e dos direitos humanos, indivíduo autônomo (es-tágios 5 e 6).
338 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 333-340, jul./dez. 2002
Valores culturais como estruturantes do desenvolvimento local sustentável
cultural cuja criação depende de cada sujeito edo conjunto de todos eles”, Puig (1996), assimcomo Buxarrais (2001), Payá (1997) e Martinez(1997) colocam-se como os principaiselaboradores dessa abordagem, que identifica aeducação como processo de aquisição de infor-mações que se convertem em conhecimento, emvalores, em destrezas e modos de compreensãodo mundo; um processo integral, crítico eotimizante, de adequação múltipla do indivíduoao meio, que não limita as possibilidades demudanças contínuas. Nesta abordagem a liber-dade de escolher é o fundamento da autono-mia, e o diálogo é reconhecido como um ele-mento pedagógico indispensável para a comu-nicação entre seres reflexivos e autônomos, nabusca de uma convivência feliz e pacífica.
Para Puig (1996) não podemos desprezar acultura e valores existentes, enraizados ou não,sendo importante trabalhar o desenvolvimentoda capacidade de julgamento, de compreensãoe de autoregulação, para enfrentar os conflitose construir nossa própria biografia, contribuin-do para a transformação social, com liberdadee criatividade.
Nessa compreensão a cultura sofre uma ela-boração e reelaboração na construção dialógica.A autonomia do ser, baseada na reflexão e es-colha crítica contribuirá, através da participa-ção e da cooperação, para a construção e a re-construção da sociedade, favorecendo o forta-lecimento de uma identidade pessoal e social.Em termos metodológicos, valoriza-se a auto-nomia com momentos pedagógicos deheteronomia, usando-se a sensibilidade e aracionalidade no diálogo, como estratégia parauma maior consideração dos aspectos univer-sais da cultura e das diferenças e valores cultu-rais.
Uma metodologia voltada para a construçãoda personalidade moral contemplará passos emque os processos educativos, mesmo reconhe-cendo o conteúdo socializador da educação,contribuirão para o desenvolvimento de umaatitude crítica, criativa e autônoma do sujeito,na perspectiva de construção de uma sociedadetambém autônoma. Essa abordagem permite
compreender que o processo de formação doindivíduo acontece em um contexto histórico,em cuja construção a participação individualé fundamental para a transformação social.
Além disso, é fundamental não trabalhar “sóo pensamento, a razão e a própria lógica” comodiz Piaget (1998, p.123), mas também os senti-mentos e as emoções. Nesta abordagem é im-portante o respeito à autenticidade emocionaldo sujeito, considerando, em sua formação, nãosó os aspectos cognitivos mas também os senti-mentos.
2 – Sobre a relação entre o valor daautonomia e a solidariedade social
As conseqüências da opção por uma dasabordagens educativas acima sucintamente ana-lisadas repercutem na formação ou não de va-lores fundamentais para o ser humano, como ovalor da autonomia, imprescindível na organi-zação dos interesses materiais e nos ideais pes-soais e/ou de uma coletividade que quer desen-volver-se. No conteúdo conceitual da autono-mia estão incluídos outros valores relevantespara o desenvolvimento local e sustentável, des-tacando-se, entre eles, o valor da solidariedade.
Para efetuar-se a solidariedade social, enten-dida aqui como “organização autônoma de inte-resses públicos” (REIS, 1995, p.13), requer-seo sentimento de pertencimento. Na formaçãodeste sentimento interfere qualquer ethos queimpeça as pessoas de agirem de forma coopera-tiva, visando o interesse geral, isto é, o bem co-mum. É exatamente essa relação entre a nature-za da educação e suas implicações na formaçãodos cidadãos necessários a uma sociedade de-mocrática e ao desenvolvimento que queremosaqui ressaltar.
Estudos desenvolvidos por Banfield (1958)demonstram que situações de privação agudadestroem a solidariedade e fortalecem o egoís-mo, traduzido no correspondente adágio popu-lar do “pirão pouco, o meu primeiro”. Todavia,sabemos, também, que essa reação não é gene-ralizada, haja visto que dificuldades comunspodem criar uma intensa solidariedade, como
339Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 333-340, jul./dez. 2002
Maria José Marita Palmeira & Solange de Oliveira Guimarães
vêm demonstrando estudos sobre as formas desobrevivência que as populações carentes ela-boraram nas favelas dos centros urbanos brasi-leiros (REIS, 1995).
Em um processo educativo com vistas aodesenvolvimento local e sustentável é parti-cularmente importante a adesão aos grupossociais através da autonomia da vontade quesupõe a solidariedade e a vinculação.
O planejamento de um processo educativodessa natureza não é fácil, requer muita deci-são por parte da equipe de professores e dire-ção da escola, no sentido de desenvolver a aten-ção quanto ao que os alunos valorizam, bus-cando realizar experiências que favoreçam oautoconhecimento destes e evitem a doutrina-ção. Requer, ainda, ultrapassar os limites de umaabordagem da educação como socialização, as-sim como recusa apenas analisar a autonomia/heteronomia no contexto de uma relativizaçãode valores que aceita a existência subjetiva.Deste modo, requer assumir a existência objeti-va de conflitos de valor, mesmo reconhecendoque essa assunção nem sempre encaminhará asoluções generalizáveis aos problemas sociais.Ao envolver os estudantes em atividades que pro-movam a adesão ao grupo e à sociedade, a escolaestará formando importantes habilidades sociais,competências, hábitos de atuar e de pensarem comum, promovendo, assim, a solidariedade.
Quando trabalhados nas diversas situaçõeseducativas os valores gerarão comprometimen-to e responsabilidade entre os membros do gru-po. Todavia, frases como “isto é o que eupenso,você pode achar o que quiser, o proble-ma é seu”, ou “você fica com sua opinião e eufico com a minha e nós dois nos entendemos”,serão freqüentes e sempre utilizadas comochavões para interromper um diálogo que setorna difícil e que poderá não ser encaminhadopara o consenso. Em uma estratégia de desen-volvimento local e sustentável esta relativizaçãodo interesse do outro dificulta a necessária vi-são de totalidade que a sociedade requer paradesenvolver-se assim como impede a
complementaridade necessária que tem sua baseem um processo de cooperação dos diferentes.O viver com o outro requer a capacidade deempatia, o reconhecimento e respeito ao dife-rente para viabilizar uma atitude solidária ecomplementar, na construção do social.
Do ponto de vista pedagógico autonomiasupõe potencializar a atitude dialógica nos sen-tidos inter e intra subjetivo. No contexto da so-ciedade da informação, onde as trocas, de todaa natureza, são constantes, é fundamental do-minar procedimentos e demonstrar atitudes quefavoreçam a construção autônoma do nosso eue da nossa vida. As pessoas que não são capa-zes de construir-se nesse movimento dialéticocom seu entorno, arriscam-se a submergir sob apressão homogeneizadora dos meios de comu-nicação e/ou das lideranças sociais.
A ação educativa da escola tem nessa cons-trução de personalidades autônomas sua finali-dade primordial. Uma educação para o desen-volvimento local e sustentável é uma educa-ção para a solidariedade, como valor indis-pensável à sociedade, construído com base noreconhecimento e respeito à diversidade indi-vidual e coletiva, reconhecendo esta diversi-dade como elemento enriquecedor e não comoobstaculizador. É, também, uma educação parao desenvolvimento pessoal e coletivo, tendo emvista que apenas o sujeito autônomo ultrapassaos padrões de conduta da rebeldia, da insegu-rança, da falta de direção e/ou do conformismo,que tanto dificultam aos jovens dar sentido aosvalores e à vida. Finalmente, gostaríamos deremarcar que uma educação para o desenvolvi-mento local e sustentável requer processoseducativos que possibilitem a formação de ci-dadãos autônomos e críticos, a base para o avan-ço individual e o conseqüente desenvolvimentosocial. Cidadãos com capacidade de enfrentarum mundo em mudanças e conflitos, que con-tribuam para soluções e transformações da rea-lidade, porém não só sob o aspecto econômicoe material como, também, levando em conta ossentimentos e emoções, para um viver solidárioe feliz, pessoal e social.
340 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 333-340, jul./dez. 2002
Valores culturais como estruturantes do desenvolvimento local sustentável
REFERÊNCIAS
ASSMANN, H. Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente. 3. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1998.
BAHIA. Governo do Estado, Coordenação Agrícola Regional – CAR. Desenvolvimento local sustentável.Salvador, 2001.
BANFIELD, E. The moral basis of a backward society. New York: Free, 1958.
BENAYON, A. Globalização versus Desenvolvimento. Brasília: LGE, 1998.
BUXARRAIS, M. La formación del profesorado en educación en valores: propuesta y materiales. Bilbao:Desclée de Brouwer, 1977.
DEWEY, J. Moral principles in education. Londres e Amsterdam: Leffer e Simons, 1975.
KOHLBERG, L. Sicología del desarrollo moral. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1992.
MARTINEZ, M. M. El contrato moral del profesorado. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1998.
PASCUAL, A. Clasificación de valores y desarrollo humano. Madrid: Narcea, 1988.
PAYÁ, M. S. Educación en valores para una sociedad abierta y plural: aproximación conceptual. Bilbao:Desclée de Brouwer, 1997.
PIAGET, J. Sobre a Pedagogia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.
PUIG, J. La construcción de la personalidad moral. Barcelona: Paidós, 1996.
REIS, Elisa. Governabilidade e solidariedade. In: VALLADARES, Lícia; COELHO, Magda Prates (Org.).Governabilidade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. p.49-55.
SIMON, S., HOWE, L e KIRSCHENBAUM, H. Values classification. New York: Dood, 1978.
TOURAINE, A. Palavra e sangue. Campinas: Editora da UNICAMP, 1989.
Recebido em 08.11.02Aprovado em 08.01.03
341Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 341-348, jul./dez. 2002
Paulo Ricardo da Rocha Araújo
CENÁRIOS E AGENTES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
uma análise das condições macro-estruturais
e a prática educativa escolar
Paulo Ricardo da Rocha Araújo ∗
RESUMO
Este artigo trata da Educação Ambiental a partir das relações que estabelececom os princípios do paradigma do Desenvolvimento Sustentável consideradocomo fator macro-estrutural que ora condiciona, ora determina uma práticaeducativa diferenciada. Inicialmente, este artigo trata de alguns indicadores dainsustentabilidade do modelo de desenvolvimento hegemônico para, em segui-da, pontuar aspectos do ideário de Desenvolvimento Sustentável, bem comodos processos de constituição de novos espaços de relação entre o homem enatureza. Desse modo, pretende-se problematizar as questões que dizem res-peito às relações do homem com a natureza, bem como os distintos processosde delineamento de novos contornos dessa relação como, por exemplo, oZoneamento Ecológico-Econômico – ZEE – que surge concretizando uma po-lítica hegemônica do Estado inspirado no ideário do Desenvolvimento Susten-tável. Paralelamente a essa prática, se configuram formas alternativas dessarelação homem/natureza que são denominadas – neste artigo – de ‘entornoseco-sócio-territoriais’ que, por vezes, são desconsiderados no princípio dahistoricidade da praxis educativa. Considerados esses fatores, as aulas de Eco-logia – quando deixam de lado os fatores históricos da relação homem/natureza– se distanciariam cada vez mais da prática de Educação Ambiental. Essa últi-ma, ao contrário da primeira, buscaria no ativismo político o sentido para alegitimidade de outras formas da relação homem/natureza.
Palavras-chave: Educação ambiental – Desenvolvimento – Sustentabilidade –Práxis educativa
ABSTRACT
SCENERIES AND AGENTS OF THE ENVIRONMENTAL EDUCATION:an analysis of the macro-structured conditions and the school educativepractice
This article tackles the Environmental Education from the relations that it es-
* PhD e Mestre em Geologia (Université d´Aix-Marseille III, Faculté de Saint-Jérome, Marselha, França),Mestre em Política Internacional (Bristol University, Inglaterra). Professor da Universidade Católica deBrasília, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Planejamento e Gestão Ambiental, Curso de Gra-duação em Engenharia Ambiental e Curso de Graduação em Relações Internacionais. Endereço para cor-respondência: SGAN 916 – Asa Norte – 70790.160 Brasília-DF. E-mail: [email protected]
342 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 341-348, jul./dez. 2002
Cenários e agentes da educação ambiental: uma análise das condições macro-estruturais e a prática educativa escolar
tablishes with the principle of the paradigm of the Sustainable Development,had as a macro-structural factor that at times conditions and at times determinesa differentiated educative practice. Initially, this article tackles some indicatorsof the non-sustainability of the model of hegemonic development to, afterwards,punctuate aspects of the ideal of sustainable development, as well as of theprocesses of constitution of new spaces of relation between men and nature.That way, the intention is to problematize the matters concerning the relationsof men and nature, as well as the distinct processes of outlining of new framesof this relation as, for example, the Ecological-Economical Zoning – ZEE – thatby emerging makes concrete some hegemonic politics of the State inspired in theideal of the Sustainable Development. Parallel to that practice, alternative shapesof this men/nature relation are configured and referred to – in this article – as‘eco-socio-territorial spills’ that, at times, are discarded in the principle of histo-ricity of the educative praxis. Considering these factors, the Ecology classes –when leaving behind the historical factors of the relation men/nature – woulddistance more and more from the Environmental Education practice. This last,opposite to the first, would search in the political activism the meaning for thelegitimacy of other shapes of the relation men/nature.
Key words: Environmental Education – Development - Sustainability – Edu-cative praxis
Os responsáveis pela administração dos recursos naturais e pela proteção do meio ambiente estãoinstitucionalmente separados dos responsáveis pela administração da economia. O mundo real,onde os sistemas econômicos e ecológicos estão interligados, não mudará; o que tem de mudar sãoas respectivas políticas e instituições. (Nosso Futuro Comum, 1991, p.347)
Apresentação
O início deste século traz consigo um con-junto de fatores cuja compreensão vem caracte-rizando outras relações societárias, bem comooutras relações do homem com a natureza. Esteensaio tem como objetivo uma análise das con-dições macro-estruturais que caracterizam o es-paço da educação ambiental. Trata-se de umaanálise cujo ponto de partida seria o modelo derelações estruturais e estruturantes do capitalis-mo, bem como do ideário do DesenvolvimentoSustentável – cujos pilares foram construídos apartir de uma crítica ao modelo utilitário dasrelações entre homem e recursos naturais. Para-lelamente ao surgimento ao paradigma do prin-cípio da sustentabilidade nos processos de de-senvolvimento, a educação passou a abordar essa
temática sob a característica de ‘tema transver-sal’. Sob esse formato, previsto nos ParâmetrosCurriculares Nacionais (1997), estudar o meioambiente significa, necessariamente, estabeleceruma relação interdisciplinar com um conjuntode outros conhecimentos que têm viabilizado acondição de que a educação ambiental passassea fomentar um conjunto de ações, muitas delasrespaldadas em mudanças de caráter estruturalcomo a necessidade de realização de planeja-mento estratégico. Dentre os exemplos de mu-danças na prática das relações societárias, in-cluem-se as tentativas de consolidação doZoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). Es-ses novos lugares que ora possuem o cunho maiscomunitário, ora se configuram como os espa-ços eco-sócio-territoriais, constituem parte dosespaços institucionais que resultariam em im-
343Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 341-348, jul./dez. 2002
Paulo Ricardo da Rocha Araújo
plicações nas práticas escolares. Orientados porum conjunto de ‘parâmetros em ação’, essaspráticas passam a desempenhar a função de ca-racterização de uma nova relação com a nature-za que passa a ser ensinada e aprendida na es-cola.
Não obstante a educação ocorrer no espaçoinstitucional da escola, o próprio meio ambientepassa a funcionar como ‘sala de aula’ incluin-do-se nesse lugar a ‘subjetividade do olhar’ comoforma de ligação entre os discursos institucionaise as práticas locais. Parece, de início, tratar-sede uma outra sala de aula cujos limites ultra-passam aqueles – tradicionalmente – impostosna prática educativa e transpostos por novasrelações que têm sido demandadas no espaçoinstitucional da educação.
1. A insustentabilidade do modelode desenvolvimento nacontemporaneidade
O que os homens querem aprender da naturezaé como aplicá-la para dominar completamentesobre ela e sobre os homens. Fora disso, nadaconta” (HORKHEIMER; ADORNO, 1980,p.90)
A compreensão da insustentabilidade das re-lações hegemônicas na contemporaneidade po-deria desencadear, no ambiente escolar, a revi-são de alguns princípios que norteiam o modelode desenvolvimento vigente, até a tomada deconsciência do sentido de degradação das rela-ções entre os homens e entre esses e a natureza.A percepção da condição de insustentabilidadedo modelo de projeto da modernidade verificávelno espectro de macro-catástrofes ecológicas de-corre das relações assimétricas entre os indiví-duos – pautadas em fatores sociais de distinção.Consideradas as evidências dadas pelas mudan-ças climáticas globais, a escassez de água potá-vel, o inchaço das megacidades – que seguemrecebendo diferentes fluxos migratórios de re-fugiados econômicos, políticos e/ou ambientais– tem-se um quadro no qual a prática educativapassa a se inteirar com novos elementos. Dentre
esses, o fator da indissociabilidade entre homeme natureza, condição essa não ‘ensinada’ nosmoldes de uma prática descritiva das questõesque permeiam o meio ambiente.
Recentemente, um Relatório do Centro deControle e Prevenção de Doenças dos EstadosUnidos (CDC, sigla em inglês, março de 2001)trouxe alguns resultados que evidenciam aindissociabildade do ser humano e o meio com oqual interage. Valendo-se de uma nova tecnologiaque permite medir os produtos químicos direta-mente em amostras de sangue e urina, o relató-rio CDC forneceu dados sobre os níveis reaisdos produtos químicos nos seres humanos. Ostóxicos incluíram chumbo, mercúrio e urânio;os produtos decompostos (ou metabolitos) devários pesticidas contendo os organofosfato (cer-ca da metade de todos os inseticidas utilizadosnos Estados Unidos); metabolitos de ftalatos(aditivos encontrados em plásticos, especialmen-te em PVC), e cotinina (um produto decompos-to da nicotina). À constatação da presença des-ses produtos químicos, acrescenta-se a publica-ção de outro estudo da Academia Nacional deCiência dos EUA, indicando que um em cadaquatro problemas que afetam o desenvolvimen-to e o comportamento das crianças hoje, um podeestar relacionado a fatores genéticos e ambientaisincluindo os compostos neurotóxicos como ochumbo, mercúrio e pesticidas comorganofosfato (>http://www.nap.edu/books/0309070864/html/>, acessado em 16.09.02).Acrescenta-se aos resultados desses relatórios,a veiculação pela mídia de práticas como estas:“Moradores do bairro Recanto dos Pássaros, emPaulínia, a 140 km de São Paulo, vítimas deárea contaminada com produtos agrotóxicosorganoclorados de antiga fábrica damultinacional Shell organizam-se para fazer seusdireitos” (ESSENFELDER, 2001, p. C1).
Especificamente no caso do Brasil, a toma-da de consciência da insustentabilidade dessemodelo atingiu seu ápice no final de 1978 e iní-cio de 1979, quando os movimentos a propósitoda Floresta Amazônica se acirraram. Devido àforte censura aos meios de comunicação social,em geral implantada pelo governo ditatorial dos
344 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 341-348, jul./dez. 2002
Cenários e agentes da educação ambiental: uma análise das condições macro-estruturais e a prática educativa escolar
militares, foi somente a partir de meados da dé-cada de 80 que os diferentes exemplos de agres-são à natureza, provocados pelos projetos quevinham sendo desenvolvidos, começaram a serdivulgados pela imprensa ainda de modo muitosuperficial. Foi assim que, a partir dessa décadafoi possível ter acesso às várias situações nasquais fica evidenciada uma prática de destrui-ção e degradação de vários ambientes naturais.Podem ser citadas as transformações produzi-das em áreas com diferentes formações vege-tais, a degradação das regiões litorâneas, as prá-ticas agrícolas, a política energética e de explo-ração dos recursos naturais, o processo descon-trolado de urbanização com todas as conseqü-ências dele decorrentes, o estabelecimento deindústrias sem a exigência de equipamentos decontrole e dos diversos tipos de poluição.
Desse modo, foi a partir de experiências ca-tastróficas das relações respaldadas por essemodelo de insustentabilidade que os distintossetores da sociedade tomaram consciência e pas-saram a se organizar de diferentes modos. Den-tre as formas de denúncia da insustentabilidadedo paradigma de desenvolvimento vigente, sur-ge o movimento ambientalista que se impõe, deum lado, por meio de práticas contestatórias e,muitas vezes, bastante polêmicas (veja-se o casode ataque às mulheres que se vestiam com casa-cos de peles de animais na Europa e EUA). Poroutro lado, o movimento ambientalista passa ase impor através de uma produção intelectual,fruto de uma reflexão teórica que, pelo simplesfato de propor paradigmas alternativos aos usu-ais para a interpretação e relação com o mundo,torna-se tão polêmica quanto às práticas dosmilitantes ecologistas.
Não faltariam ainda os críticos contunden-tes principalmente no início das expressões maismarcantes do movimento ecologista(ENZENSBERGER, 1978; TRAGTEMBERG,1982, entre outros). Para esses autores, oambientalismo – como definem alguns – seriaum desvio da verdadeira luta política, como ten-tativas das questões sociais estruturais e mesmocomo articulação do sistema capitalista no sen-tido de ser mais uma de suas manobras para a
incorporação das próprias contradições. Aindahoje essas contradições fazem parte do cotidia-no da prática da denúncia da insustentabilidadedesse modelo. No sentido da reflexão sobre es-sas questões, tomam-se como exemplo algunsrecentes eventos, como a estratégia do fumo eco-lógico usada no marketing de fazer ambientalusado pela Fundação Gaia – histórica e tradici-onalmente conhecida pelos projetos de cunhoambientalista e ecológicos1. Pode-se, ainda, semqualquer intenção de comparação, considerar umoutro exemplo, como a atribuição do prêmio TopEcologia à indústria de Cigarros Souza Cruz.Justamente, a versão desse Prêmio esteve asso-ciado a um programa de Educação Ambientalem áreas rurais de 400 municípios em regiõesplantadoras de fumo nos estados do Rio Grandedo Sul, Santa Catarina e Paraná gerando a con-dição de que o Brasil figure como maior expor-tador de fumo não-manufaturado do mundo (VI-VEIROS, 1998).
Transcorridas algumas décadas dessas pri-meiras manifestações, o sentido de busca deoutras formas de sobrevivência da colônia hu-mana passou a fazer parte do modo de organi-zação social do qual nos constituímos agentes
1 Notícia: Na última segunda-feira, dia 15 de julho de2002, foram apresentados na sede da AFUBRA, em San-ta Cruz do Sul/RS, os resultados da última safra experi-mental de fumo orgânico. Ampliando o trabalho desen-volvido desde 1999 pela Afubra e Fundação Gaia, oSindifumo e a UNISC integraram o processo de pesqui-sa. Pela primeira vez, foram conduzidos experimentosjuntos aos fumicultores, estes integrados às empresasSouza Cruz, Dimon e Universal Leaf Tobacco. FumoOrgânico: Análises realmente mais conclusivas só deve-rão ser possíveis nos próximos anos, com o avanço dostrabalhos. Nesta primeira safra, dada ainda uma série defatores comprometedores como, atraso no início do pro-cesso, excesso de chuvas e uso inadequado de insumosorgânicos, os resultados ficaram bastante aquém do de-sejado. Na maioria dos experimentos, foi sinalizada apossibilidade técnica, mas não econômica de produçãoorgânica. Essa última provavelmente só será possível coma implantação de um sistema de produção de insumos napropriedade dos agricultores e passado um período míni-mo de reestruturação dos solos. (<www.fgaia.com.br>,julho de 2002, acessado em 01.10.02 ).
345Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 341-348, jul./dez. 2002
Paulo Ricardo da Rocha Araújo
seja no sentido da inovação ou da reproduçãodos processos vigentes.
2. O ideário de Desenvolvimento Sus-tentável, as ZEEs e as aulas de Eco-logia
Dentre os exemplos da constituição de agen-tes inovadores em suas práticas sociais paraimplementação de um desenvolvimento susten-tável, estariam os processos de constituição doZoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). Essaprática surge corroborando o caráter de ‘verda-de universal’ cujo sentido paradigmático doideário do Desenvolvimento Sustentável toma apartir da ECO – 92 – um cunho marcante daspolíticas públicas. Como tal, passa a ditar for-mas e estruturas dos projetos governamentais(e até mesmo de algumas organizações não-go-vernamentais), impregnando os espíritos, osconsumismos e os mercados deste limiar do sé-culo XXI.
No entanto, esse mesmo ideário traz consigoum conjunto de contradições quando toma ocaráter de paradigma hegemônico. Assim, a pos-sibilidade de ruptura dessa forma de imposiçãopode ser contextualizada a partir da instituiçãode metas para o aperfeiçoamento e aceleraçãoda metodologia de ‘zoneamento ecológico-eco-nômico’. Anterior à própria ECO-92 – uma vezque data do III Plano Básico de DesenvolvimentoCientífico e Tecnológico (1980-85) – essa prá-tica é analisada por Antunes (1992, p. 89) como“uma forte intervenção estatal no domínio, or-ganizando a produção, alocando recursos, in-terditando áreas, destinando outras para estas enão para aquelas atividades, incentivando e re-primindo condutas.” Importante ressaltar o ca-ráter de que, havendo passado cinco séculos daCarta de Pero Vaz de Caminha até hoje, o Brasildas belezas exuberantes e potencial incompará-vel levou quatrocentos e oitenta anos para criara sua primeira política ambiental. O Zoneamentoecológico surgiu no Brasil como um novo ins-trumento de ordenação territorial – concebidopelo IBGE em 1986 – instrumento que era basi-camente o modelo de tomada de decisões fede-
ral, governamental. No início da década de 90,ele passou a ser um modelo comandado, condu-zido pela SAE, caracterizando-se como um mo-delo ainda governamental, mas já descentrali-zado. A partir de meados de 1995, começou afalar-se em modelo de tomada de decisões com-partilhado, envolvendo não só entidades gover-namentais como também entidades não-govenamentais ligadas à iniciativa privada, aosmovimentos sociais, comunitários, entre outros.Este arranjo político-institucional fala da neces-sidade de participação social, de um novo modode planejar – o planejamento estratégico, de umanova geopolítica dos territórios – como aconte-cem as relações de poder em um determinadoterritório e como se expressam no processo dezoneamento ecológico-econômico. Trata-se deavaliar o grau de representatividade doscolegiados, o discurso dos atores sociais, e a le-gitimidade de decisões tomadas.
Dentre as fases de implantação que caracte-rizam uma ZEE, cabe lembrar que a avaliaçãoambiental estratégica assegura que ação e con-seqüências estejam plenamente incluídas e devi-damente encaminhadas na fase inicial e maisapropriada do estágio de tomada de decisão, paraconsiderações econômicas e sociais. Frente aessa característica, um diálogo com os autorescríticos do movimento ambientalista pode serfeito a partir da seguinte questão: seria uma ten-dência de que os critérios técnicos fornecidospelo ZEE esvaziariam o debate político? O an-tropólogo Roberto Araújo – Museu Goeldi –acredita que, ao contrário, o zoneamento cons-titui espaços de debates e enfrentamento políti-cos. Isso porque, para que as políticas a seremimplementadas pelo zoneamento tenham o sen-tido de realizar o bem público, é fundamentalque assegurem a participação democrática daspopulações (GUNN, 2002).
Interessante observar que, na prática esco-lar, ainda predominariam as aulas de Ecologia,por vezes caracterizadas como ‘educaçãoambiental’. Pode-se notar, a seguir, que mesmoapresentando pontos de convergência, essa últi-ma se diferenciaria da primeira – aulas de Ecolo-gia – quando os conteúdos passam a ser trata-
346 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 341-348, jul./dez. 2002
Cenários e agentes da educação ambiental: uma análise das condições macro-estruturais e a prática educativa escolar
dos com um sentido de historicidade. O concei-to de ecologia nasceu em 1873, como um irmãogêmeo de outro conceito, a eugenia. A própriaidéia de eugenia faz parte de uma visão que vaigerar a primeira experiência do zoneamento porMancuso (1996, apud GUNN, 2002), da Uni-versidade de Veneza. Este autor indica como talo zoneamento proposto para a cidade de SanFrancisco – entre 1870 e 1990 – quando a imi-gração chinesa estava se realizando. Essa leiagrupava as lavanderias da cidade em um mes-mo lugar, evitando, dessa maneira, o incômodopara outros usuários do solo – e que não eramchineses. O fim da escravidão no Brasil, e suasubstituição por outros meios de produção, sãocoetâneos a essa experiência na Califórnia. De-pois da experiência do holocausto, na SegundaGuerra Mundial, substituiu-se o paradigma re-tirando a eugenia: graças a Ludwig VonBertlangfield, a teoria dos sistemas vem a subs-tituir aquela que era conhecida como eugenia.No atual período de implementação das idéiassobre zoneamento, o desenvolvimento érevisitado como prática cujo princípio pressu-põe distintas dimensões que estão justapostas.Assim, remete à eugenia quando fragmenta eisola partes de um todo como o ecológico, o eco-nômico, o cultural, entre outros aspectos, quesão separados no ideário desenvolvimentista aoadotar a prática do zoneamento. (GUNN, 2002)
Em se tratando da utilização dos princípiosda teoria sistêmica para a composição dos pro-cessos de implantação dos ZEE, Thompson(1998, apud GUNN, 2002) adverte que é neces-sário estar atento à análise mecanicista das inter-relações entre esses suplíneos e o problema doreducionismo que, por vezes, tendem a consti-tuir-se como uso de idéias sistêmicas. Advertên-cias como essas são complexificadas com aemergência de novos paradigmas de desenvol-vimento de autores como Manoel Castells (1999)– teorias de planejamento estratégico – eFrançois Perault (1998, apud GUNN, 2002) te-oria dos pólos de desenvolvimento. Gunn (2002)adverte e diferencia afirmando que, na teoria doplanejamento, o caso de zoneamento econômicoligado a um conceito de zoneamento ecológicorefere-se a momentos diferentes dos processos:
a situação do planejamento antecede o projetode desenvolvimento. A incorporação dozoneamento ecológico, no momento da, a priori,preparação do plano é uma ação. Devem serconsideradas, ainda, as resoluções do CONAMA- Comissão Nacional do Meio Ambiente (1986):trata-se de um outro conceito, a posteriori, emque, via sistemas de licenciamento, EIA/RIMA- Estudo de Impacto Ambiental/Relatório deImpacto Ambiental, entre outros, o zoneamentoecológico pode vir a condicionar o futuro dosprojetos.
Com isso, outra questão se colocaria: comosuperar o conflito que existe entre o zoneamentocapitalista e as questões de eqüidade social eeficiência ecológica? O capital faz seuzoneamento com base em parâmetros como, porexemplo, o lucro médio? As considerações queseguem tentam dar conta desse impasse estrutu-ral: o comportamento ético nos trabalhos dezoneamento tem a ver com o modelamento. Per-gunta-se às pessoas, às comunidades, à socie-dade quais são seus valores. Procura-se desen-volver os diferentes momentos do zoneamentocom os atores sociais objetivando-se a modela-gem de cenários alternativos.
Não obstante, nos processos de implantaçãoe implementação dessa nova prática. prevalece-riam práticas tradicionais de ocupação do soloorientadas (ou ditadas) pelo poder estatal asquais resultaram nas condições de deterioraçãodo meio ambiente.
3. A educação ambiental e o local re-valorizado
Trabalhar, de modo adequado, as dimensõesque caracterizam o ambientalismo ou osparadigmas que norteiam as relações entre oshomens e desses com a natureza constitui o pri-meiro desafio. Nesse sentido, cabe lembrar anecessidade de compreensão das mudanças queo referencial do Desenvolvimento Sustentávelpode vir a implicar. Observa-se, inicialmente, osentido de evitar o reducionismo biológico queconsidera a relação do homem com a naturezacomo análoga às relações de outras espécies com
347Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 341-348, jul./dez. 2002
Paulo Ricardo da Rocha Araújo
o meio. Isso não significa negar que as hipóte-ses e teorias formuladas pela ecologia geral nãopoderiam ser aproveitadas para analisar as in-fluências recíprocas entre o homem e a nature-za, no que diz respeito à sua dimensão biológi-ca. No entanto, a espécie humana apresenta umatal complexidade que suas interações com a na-tureza vão muito além de busca de satisfaçãodas necessidades biológicas. A interação do ho-mem com a natureza está mediada por uma sé-rie de fatores historicamente determinados, e quedependem da forma como as sociedades se or-ganizam, como se relacionam com o meio nabusca de suprimento das condições de sobrevi-vência, ou ainda, como se organizam para pro-duzir bens materiais e simbólicos...
Vale ressaltar, ainda, que a escolha desseprocesso de desvelamento das relações do ho-mem com a natureza e dos processos de re-edu-cação do olhar para o ‘local’ e o ‘meio’ impli-cam interesses ideológicos. Como tal, essa prá-tica nem sempre constituirá interesse de deter-minados segmentos sociais cujo processo delegitimação vem ocorrendo pela falta de clarezaquanto à insustentabilidade do modelo vigentede produção das condições de existência do ho-mem. É importante que, na prática educativa,havendo o agente-educador tomado consciênciadessas questões, o caráter de abordagem dessetema possa ser apresentado como os vários ca-minhos para caracterização do processo de de-senvolvimento, e não somente como uma viaúnica ditada pelos princípios de um paradigmahegemônico.
À guisa de conclusão
O homem transformou a Terra, domesticou suassuperfícies vegetais, tornou-se senhor de seusanimais. Mas não é senhor do mundo, nem mes-mo da Terra. (MORIN, 2002, p.176)
De início, cabe lembrar que, no processo deensino-aprendizagem, a práxis e a vida socialfiguram como importantes fatores. Assim, a re-lação praxis-teoria-praxis como um processodialógico torna o educando sujeito histórico.
Considerando um princípio fundamental daepistemologia, “a cabeça pensa onde os seus péspisam”, esse sujeito que se defronta com o ideáriode desenvolvimento sustentável que ganha statusde verdade universal por ocasião da Eco-92 é –de certo modo – desconsiderado na dinâmica decompreensão dos elementos da educaçãoambiental dada a dinâmica normativaglobalizante e globalizada.
A intenção de sistematização de fatoresmacro-estruturais para a caracterização de umaeducação ambiental diferenciada deixa, em sín-tese, evidenciada a necessidade de uma dimen-são histórica da concepção das relações entre oshomens e desses com a natureza. Imbuído dessaconcepção, o agente-educador apresentará no-vas relações com os cenários que se apresentamuma vez que estaria instrumentalizado para tra-tar e questionar com seus alunos as concepçõesque regulam as relações societárias dos indiví-duos desse tempo. Essa prática promove a re-conciliação entre o mundo da cultura e o mundoda natureza ao desafiar jargõesdesenvolvimentistas e reducionismos alienantesformadores de opiniões. A prática de uma edu-cação ambiental alienante tende a induzir pen-sar que as catástrofes ecológicas transcendemrelações e ordenamentos sociais como, por exem-plo, clivagens de classe, ineqüidade cultural, in-justiça ambiental e a apropriação do bem públi-co pelo privado, problemas de gênero, legadosda era colonial e imaginário escravocrata, entreoutros exemplos do mundo da cultura. Parece possível que a educação ambientalvenha a inspirar – baseada em exemplos comoos processos de implantação do ZEE – alterna-tivas de construções culturais e interaçõessocietárias que desafiam formas de poder e dedominação. O ativismo político da EducaçãoAmbiental faz questionar se a fúria dos deusesseria menos impiedosa ao deparar-se com o es-tado de subdesenvolvimento de grande parte dacolônia humana: nesse caso, excludente e seleti-va, essa fúria privilegiaria a pobreza e a degra-dação ambiental? Ou, talvez, redentora, estariapunindo o “apartaide social” marcando o limiardo século XXI?
348 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 341-348, jul./dez. 2002
Cenários e agentes da educação ambiental: uma análise das condições macro-estruturais e a prática educativa escolar
REFERÊNCIAS
ARAUJO, P.R. Assujeitamento de Idéias sobre o Meio Ambiente e Psicopedagogia Institucional. In: CON-GRESSO BRASILEIRO DE PSICOTERAPIA 5; CONGRESSO LATINO AMERICANO DEPSICOPEDAGOGIA 1; ENCONTRO BRASILEIRO DE PSICOPEDAGOGOS 9, 2000, São Paulo. Anais...São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2000. p. 452-455.
_____. Saúde e meio ambiente: fatores do desenvolvimento sustentável para a atualização do conceito debem-estar. Revista Universa: ciências biológicas, da saúde e médicas. Universidade Católica de Brasília,Brasília: Universa, v.1, n.1, p. 107-114, set.2002.
BRASIL. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC, 1997.
CASTELLS, M. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum.Rio de Janeiro: FGV, 1991
ENZENSBERGER, H. M. Uma crítica da ecologia política. Polêmica, v.1, p. 89-122, 1978.
ENZENSBERGER, H. M. Uma crítica da Ecologia Política. Belo Horizonte: Vega, 1978.
ESSENFELDER, R. Bairro tem água contaminada, diz laudo. Folha de São Paulo. São Paulo, 26 ago.2001. Caderno Cotidiano, p C1.
GUNN, P. Consolidação da Metodologia do ZEE para o Brasil. In: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL._____. Brasília: MMA/SDS, 2002, p.103-110.
HORKHEIMER, M.; ADORNO, T. W.; HABERMAS, J. Conceito de Iluminismo. São Paulo: Abril Cul-tural, 1980 (Coleção Os pensadores).
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL. Consolidação da Metodologia do ZEE para o Brasil. Brasília, 2002.
MORIN, E. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 2002.
O INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO GAIA, julho de 2002, ano II, n.14, disponível em:<www.fgaia.com.br>, Acessado em 01.10.02
SATO, M. & SANTOS, J. E. dos. A contribuição da Educação Ambiental à esperança de Pandora. SãoCarlos: Rima, 2001.
TRAGTEMBERG, M. Ecologia versus capitalismo. Economia e Desenvolvimento, 1982. v.2. p.129-37.
_____. Memórias de um autodidata no Brasil. São Paulo: Escuta: FADESP: UNESP, 1999.
VIVEIROS, M. Souza Cruz recebe Top Ecologia. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 maio 1998. (CadernoCidades, p.2)
Recebido em 16.10.02Aprovado em 06.03.03
349Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Ernâni Lampert
EDUCAÇÃO: VISÃO PANORÂMICA MUNDIAL
E PERSPECTIVAS PARA A AMÉRICA LATINA
Ernâni Lampert ∗
RESUMO
Neste artigo, dividido em duas partes distintas, mas interligadas entre si, éabordada uma problemática de capital importância no atual contexto político,econômico, social e cultural. O autor, num primeiro momento, baseado emdados do Fórum Mundial sobre a Educação - Dacar, Senegal, realizado de 26 a28 de abril de 2000, apresenta uma visão panorâmica da realidade e dos desa-fios da educação na África subsaariana, países da Ásia e Pacífico, EstadosÁrabes, nos países mais povoados do mundo, América do Norte e Europa, epaíses da América Latina e Caribe. Esta sinopse permitirá ao leitor visualizar aeducação da América Latina dentro do quadro mundial. Num segundo momen-to, conforme a ótica de diferentes pensadores, analisam-se as perspectivas daeducação no século XXI e se apresentam, a modo de conclusão, alguns encami-nhamentos necessários para redimensionar e melhorar o nível educacional dopovo latino-americano.
Palavras-chave: Educação – América Latina – Século XXI
ABSTRACT
EDUCATION: WORLD PANORAMIC VIEW AND PERSPECTIVES TOLATIN AMERICA
In this article, divided in two distinct but interwoven parts, a problematic ofcapital importance to the current political, economical, social and cultural con-text is approached. The author, firstly, based on data from the World Forum ofEducation – Dacar, Senegal, which took place from April 26 to 28 of 2000,presents a panoramic view of the education reality and challenges in the sub-Saharan Africa, in countries of Asia and the Pacific, in Arabic States, in themost populated countries of the world, in North America and Europe, and incountries of Latin America and the Caribbean. This synopsis will help the readervisualize Latin American education within the world frame. Secondly, accord-ing to the view of different thinkers, the perspectives of education in the XXIcentury are analyzed and some references necessary to the re-dimensioning andimprovement of the educational level of the Latin-Americans are presented asconclusion.
Key words: Education – Latin America – XXI century
* Doutor em ciências da educação; professor adjunto da Fundação Universidade Federal do Rio Grande.Endereço para correspondência: Mar. Floriano Peixoto, 492/806 – 96200-380 Rio Grande/RS. E-mail:[email protected]
350 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Educação: visão panorâmica mundial e perspectivas para a América Latina
EDUCAÇÃO: UMA VISÃO PANORÂMI-CA MUNDIAL
O pós-modernismo, período caracterizadopor inovações e rápidas mudanças em pratica-mente todos os setores produtivos da socieda-de, está afetando a vida de um grupo significa-tivo da população – aquela que tem acesso aosbens produzidos pelo trinômio ciência,tecnologia e informática. Por outro lado, man-tém quase inalterada a vida cotidiana da maio-ria da população do planeta Terra. Se, de umângulo, a ciência, a tecnologia e a informáticaauxiliaram e estão auxiliando mais ou menosum terço da população a viver melhor, maisconfortavelmente e aumentar a esperança devida, dois terços, a cada dia, vêem suas condi-ções básicas da vida deterioradas e pioradas.Esse fenômeno ocorre tanto nos países industri-alizados como nos países que estão em vias dedesenvolvimento, porém esta é uma caracterís-tica marcante nos países chamados de terceiromundo: África subsaariana, Ásia meridional,países árabes e países latino-americanos eCaribe.
Sabe-se que a economia global é profunda-mente assimétrica. Desaparece a fronteira nor-te-sul, porém a diferença de crescimento econô-mico, capacidade tecnológica e condições soci-ais entre zonas do mundo aumentam a cada ins-tante e criam um hiato ainda maior entre os pa-íses. A globalização redesenhou o mapa econô-mico do mundo. Novos centros de crescimentoafloraram. Por outro lado, se marginalizarampolítica e economicamente regiões inteiras. Aglobalização é um processo desigual, acompa-nhado do fracionamento e da marginalização,não somente nos países pobres, mas também nospaíses industrializados e ricos.
O cenário promissor e de pessimismo é oretrato do quadro político, econômico, social ecultural atual. A educação, alavanca indispen-sável no processo de desenvolvimento, tem suaimportância desdobrada. Teoricamente, é a al-ternativa mais viável de elevar o nível tanto pes-soal como social da população. A educação,aparelho ideológico do Estado e da classe pode-
rosa e dominante, ao longo de toda a históriaserviu para acentuar e aumentar os hiatos entreos ricos e os pobres. Os países da Europa estãoseguros de que, para continuar sendo um pontode referência no mundo, devem investir no co-nhecimento, porque a educação é de uma im-portância abrumadora no momento de determi-nar a posição de cada país na competência glo-bal. Seguindo essa linha de pensamento,Korsgaard (1997) diz: a educação, que até hápouco tempo estava ligada a uma certa fase davida, agora se converteu em uma necessidadeque cobre toda a vida. Isso implica que todo umlapso de vida, em que não se havia dado priori-dade às políticas educacionais, se volta agora àpedra angular no processo de renovação da so-ciedade. A educação de adultos é agora parte daeducação contínua e de aprendizagem, ao longode toda a vida.
O Fórum Mundial sobre a Educação, cele-brado de 26 a 28 de abril de 2000, em Dacar,Senegal, adotou o Marco de Ação de Dacar -Educação para Todos. Esse marco baseia-se nomais amplo balanço da educação básica reali-zado até agora. Retrata os avanços que cadapaís obteve na educação básica. Os resultadosapresentados nas seis conferências celebradas:em Johannesburgo (1999); Bangkok (2000);Cairo (2000), Recife (2000), Varsóvia (2000) eSanto Domingo (2000) mostram a realidade decada país e região, e a situação em nível mundi-al. O Marco de Ação de Dacar, conseqüênciada Conferência Mundial sobre Educação cele-brada em 1990, em Jomtien, representa um com-promisso coletivo dos governos dos países emcumprir os objetivos e as finalidades da educa-ção para todos.
Na África subsaariana, a educação para to-dos ainda é uma utopia. Nos últimos anos, qua-se um terço dos países foram devastados pelaguerra e pelos conflitos civis. Os desastres eco-lógicos, os ajustes econômicos severos, a cargacom a dívida, a desorganização na administra-ção pública, a corrupção, a pandemia do HIV/AIDS são fatores que dificultam o progresso.Somente uns dez países conseguiram a educa-ção primária universal. Os programas para pri-
351Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Ernâni Lampert
meira infância são escassos e sinalizados naszonas urbanas. Cerca de 50% das crianças es-tão fora da escola. O abandono escolar estáaumentando por diferentes motivos: guerras,custos elevados da educação, crianças obriga-das a trabalhar e falta de infra-estrutura básica.É necessário considerar que, na nova divisãointernacional do trabalho, a África já não é umcontinente dependente senão estruturalmenteirrelevante desde o ponto de vista do sistema.Em determinadas zonas da África, existem so-ciedades regidas pelo princípio da tradição, ondemudanças podem colocar em perigo a convivên-cia, os fundamentos da produção e a ordem so-cial. Assim, a educação tem uma escassa razãode ser. A imitação da ação e as atitudes se cons-tituem no fundamento da aprendizagem. Osministros da educação, representantes da socie-dade civil e organismos internacionais para odesenvolvimento, reunidos em Johannesburgo,no final do século XX, renovaram o compro-misso “Educação para o Renascimento da Áfricano Contexto de uma Economia, uma Comuni-cação e uma Cultura Mundializada”.
Países da Ásia e do Pacífico, durante a con-ferência sobre avaliação, em 2000, em Bangkok,consideraram que a educação, que é um direitofundamental, deve ser garantida a todas as pes-soas, especialmente aos mais desprotegidos eexcluídos. Os principais desafios a serem en-frentados referem-se às disparidades crescentesdentro dos países, particularmente uma brechapersistente entre os centros urbanos e as zonasrurais; a discriminação contra as meninas, es-pecialmente na Ásia Meridional; o alto índicede retenção; deficiências nos orçamentos da edu-cação nacional; deficiência na identificação, noaperfeiçoamento e na expansão das melhoraspráticas na educação básica; dificuldades parareformar os currículos de modo que possamatender aos desafios e necessidades dos jovensda região; falta de dados estatísticos confiáveis;falta de capacidade para avaliar os problemaseducacionais; insuficiência de meios para ava-liar o rendimento e o êxito na aprendizagem. Apartir dos principais desafios, os países da Ásiae do Pacífico estabeleceram as seguintes estra-
tégias: - investimento e mobilização de recur-sos; - um novo “espaço” para a sociedade civil;- educação e eliminação da pobreza; - aprovei-tamento imparcial das novas tecnologias; - de-senvolver a autonomia de professores primári-os e animadores pedagógicos; - reforma da ges-tão educacional; - integração de atividades dedesenvolvimento; - intercâmbio de informações,experiências e inovações.
Os progressos alcançados nos países árabesno final do século XX, ainda que tendo em con-ta os esforços dos Estados, foram abaixo dasexpectativas. A pobreza, o desemprego, a vio-lência, os conflitos, a marginalização, as dife-renças entre os gêneros e o nomadismo impedi-ram êxitos na educação, que é a conseqüênciado contexto político, econômico, social e cultu-ral. Na educação da primeira infância, de modogeral, pode-se evidenciar uma melhora nos ín-dices de matrículas nos anos 90. Dez Estadosmostraram uma taxa inferior entre os 13% e50%, e somente dois Estados (Líbano e Kuwait)alcançaram índices superiores a 70%. A educa-ção primária obteve os maiores avanços, mes-mo que os índices de matrícula bruta do Djibuti,Mauritânia, Sudão e Iêmen sigam baixos (cer-ca de 72%). É oportuno registrar que aMauritânia e o Sudão têm realizado enormesprogressos nos últimos anos. As diferenças en-tre as zonas rurais e urbanas e a participaçãoda mulher na educação primária continuam sen-do um obstáculo. Estima-se que existam 68milhões de analfabetos (63% são mulheres).Egito, Argélia, Marrocos, Sudão e Iêmen repar-tem-se em 70% dessa cifra. O analfabetismo éum subproduto negativo de uma educação pri-mária insuficientemente estendida no passado.A formação de professores é outro problema queos Estados Árabes necessitam enfrentar. Umpercentual pequeno de professores possuem odiploma mínimo exigido para a tarefa docente.
Entre os representantes dos países do GrupoE-9, os mais povoados do mundo, onde habitamais de 50% da população mundial(Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia,Indonésia, México, Nigéria e Paquistão), existeum consenso sobre os êxitos registrados duran-
352 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Educação: visão panorâmica mundial e perspectivas para a América Latina
te os últimos anos no âmbito da educação. En-tre os êxitos alcançados, está a maciça reduçãodo analfabetismo de adultos; o aumento subs-tancial dos serviços educativos pré-escolares; oadiantamento significativo da educação básicauniversal; a maior eqüidade a respeito de sexono acesso à escola; a descentralização dos ser-viços educativos; o desenvolvimento do marcocurricular; a utilização da educação a distânciapara a expansão do aprendizado, e a formaçãode professores; o adiantamento no processo deinclusão de crianças com necessidades especi-ais, no conjunto das escolas. É possível eviden-ciar os progressos alcançados, porém os desa-fios persistem e necessitam de respostas. As-sim, são imprescindíveis ações concretas paracombater o elevado número de analfabetos emalguns países; facilitar o acesso à educação emzonas remotas e inacessíveis; expandir os ser-viços da educação da primeira infância; melho-rar a qualidade e o rendimento da aprendiza-gem. Para responder satisfatoriamente aos gran-des desafios, é necessário um desenvolvimentosocial e econômico com igualdade, medianteuma educação de qualidade para todos; umaparticipação efetiva dos distintos segmentossociais em todo o processo educativo; adoçãode métodos de ensino mais recentes, baseadosem uma tecnologia mais moderna, e principal-mente a solidariedade internacional com apoiotécnico e financeiro.
A realidade no continente europeu é diferen-te. A maior parte dos países têm em comum umatendência demográfica à diminuição. Esse fe-nômeno faz com que aumente a importânciada qualidade da educação em todos os níveis ea necessidade de uma educação permanente. Oensino primário e o primeiro ciclo de ensino se-cundário são praticamente universais. Na parteoriental do continente europeu, a realidade edu-cacional é diferente em relação à parte ociden-tal. Em função das recentes transformações dosistema político e econômico, na maioria doscasos, evidencia-se uma redução de gastos comeducação; uma danificação das condições detrabalho docente; uma desvalorização dos sa-lários dos professores, e o aumento das desi-
gualdades sociais. Nos países da Europa Cen-tral e Oriental, o aumento do índice de abando-no escolar, a escassa motivação de alguns alu-nos, o rendimento inferior de alunos maisdesfavorecidos, a degradação, a violência e osurgimento de fenômenos de exclusão social sãoalguns aspectos que prejudicam a educação. Demaneira geral, os países da América do Norte eEuropa conseguiram superar os principais pro-blemas da educação infantil, primária e secun-dária, acabando com o analfabetismo e inves-tindo na formação de professores. No contextoatual, é imprescindível renovar esforços a fimde combater o racismo, o etnocentrismo, o anti-semitismo e a xenofobia – fenômenos tão co-muns em países desenvolvidos.
Reunidos em Santo Domingo de 10 a 12 defevereiro de 2000, os países da América Latina,Caribe e América do Norte avaliaram os pro-gressos alcançados na região e renovaram ocompromisso da Educação para Todos para ospróximos quinze anos. O marco de Ação Regi-onal comprometeu-se a eliminar as injustiçasainda existentes e contribuir para que todos pos-sam contar com uma educação de qualidade.Muitos foram os êxitos alcançados na últimadécada na região: aumento na educação da pri-meira infância – período de 4 a 6 anos; aumen-to significativo de acesso de quase a totalidadede meninos e meninas na educação primária;ampliação dos anos de escolaridade obrigató-ria; diminuição da porcentagem de analfabetos,e abertura e participação de fatores múltiplos.Por outro lado, se faz necessária uma atençãoespecial para eliminar alguns temas pendentes:altas taxas de repetição e desistência; baixa pri-oridade da alfabetização e da educação de jo-vens e adultos; baixos níveis de aprendizagemdos alunos; baixo valor e profissionalismo dosdocentes; baixo aumento nos recursos; insufici-ente disponibilidade e utilização das tecnologiasde informação e comunicação.
A modo de conclusão, é possível destacarque a avaliação da Educação para Todos, em2000, mostra avanços significativos em muitospaíses. No entanto, em pleno século XXI, maisde 113 milhões de crianças estão sem acesso àescola primária; existem 880 milhões de adul-
353Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Ernâni Lampert
tos analfabetos em todo o mundo, e a discrimi-nação nos gêneros continua impregnando os sis-temas de educação, principalmente entre os pa-íses mais pobres. Sabe-se que, no último decê-nio, a educação avançou no plano mundial, po-rém as disparidades permanecem. Dados daavaliação, realizada em nível nacional, regio-nal e mundial, indicam que, em plano mundial,o número de matrículas no primário aumentou(em 1998 contou-se com 44 milhões a mais decrianças do que em 1990). O índice geral dealfabetização de adultos passou para 85% dehomens e 74% para mulheres. Ainda quequantitativamente os dados indiquem uma me-lhora, milhões de seres humanos estão sendoexcluídos da educação e vivem em condiçõesinaceitáveis. Somente uma decidida vontadepolítica, sustentada por alianças de diferentessegmentos sociais, é capaz de mudar o quadro.Outro avanço significativo é que, atualmente,devido às investigações em diferentes áreas dosaber humano, é possível entender melhor osmúltiplos fatores que influem na demanda daeducação, assim como compreender as diferen-tes causas que excluem crianças, jovens e adul-tos das oportunidades de aprendizagem.
Os bons resultados obtidos no último de-cênio são produto de investimentos na áreada educação dos países, alguns mais que ou-tros. Geralmente, os países mais adiantados,devido a ingressos proporcionalmente maio-res e à conscientização de que investir emeducação é a chave do processo de desenvol-vimento, investem mais que os países emer-gentes. Estes últimos, com escassos ingres-sos, falta de conscientização, ausência de umavontade política e às vezes dominados pelacorrupção, deixam de aplicar em educação etecnologia. Esta política aumenta o hiato en-tre os países industrializados e os em vias dedesenvolvimento. Este fenômeno é evidencia-do pelos dados. A população infantil é consti-tuída por 60% de meninas que não têm aces-so à educação primária. Certamente Ásiameridional e África subsaariana, onde o avan-ço tem sido mais difícil, apresentam maioresdificuldades. Os países da América e doCaribe, devido às diferenças regionais e degrupos sociais, baseadas na desigualdade de
ingresso, ainda não conseguiram proporcio-nar a educação para todos.
Torres (2001), especialista em EducaçãoBásica, Assessora Internacional em Educaçãoe conhecedora da realidade e dos problemaseducativos de vários países, com muita propri-edade ressalta que tanto nos países desenvolvi-dos como nos em vias de desenvolvimento, in-cluindo o sistema privado de ensino, a educa-ção exige profundas transformações, novas or-ganizações e estratégias, novas maneiras de pen-sar e de fazer melhorar a qualidade e a eficiên-cia de um sistema educativo e escolar que nãofunciona e que demonstra ser inadequado paraa grande maioria da população (crianças, jo-vens e pobres). Investir na melhoria desse mes-mo sistema, fazê-lo às custas de uma grandedívida internacional e com qualidade sempreabaixo do exigido para garantir níveis mínimosde igualdade na oferta educativa e conseguirimpactos que “fazem a diferença” entre aquelesque aprendem, é um péssimo negócio para aspessoas, os países e as agências financiadoras.O que temos pela frente é o desafio de um com-promisso sério e renovado para que se construauma educação diferente para todos, não apenaspara remoçar a velha educação. Com a menta-lidade e as estratégias tradicionais não será pos-sível alcançar a “educação para todos” e umaeducação diferente, ainda que com grande in-versão de recursos, um aumento no prazo e umapauta renovada no potencial das novastecnologias. A única possibilidade de garantir aeducação para todos é pensar de outra maneira,a partir de outras lógicas, de uma nova compre-ensão comum que integre educação e política,educação e economia, educação e cultura, edu-cação e cidadania, políticas educativas e políti-ca social, mudanças na educação que venhamde baixo para cima, de ordem local, nacional eglobal. A educação para todos somente é possí-vel a partir de uma visão ampliada e renovadada educação que volte a investir nas pessoas,em sua capacidade e potencialidades, no desen-volvimento e na sincronia dos recursos e dosesforços de toda a sociedade no desempenhocomum de fazer da educação uma necessidadee uma tarefa de todos.
354 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Educação: visão panorâmica mundial e perspectivas para a América Latina
O SÉCULO XXI E A EDUCAÇÃO: PERS-PECTIVAS PARA A AMÉRICA LATINA
O desemprego, e o novo subemprego, o au-mento gradual dos excluídos, dos exilados, dosimigrantes, a guerra econômica entre os paísese blocos do poder, a incapacidade de dirigir ascontradições do mercado liberal, o agravamen-to da dívida externa na maioria dos países, ocomércio de armamentos, a baixa estabilidadepolítica, a multiplicação das guerras interétnicas,o surgimento do “Estado Fantasma” – criadopela máfia e pelo cartel de drogas, são algumascaracterísticas da sociedade atual. Este contex-to problemático gera insegurança, incerteza emedo. A entrada do século XXI traz para a hu-manidade contradições de todas as ordens. Se,por um ângulo, existe muito otimismo e espe-ranças pelo desconhecido, por outro ângulo asincertezas, os medos, as ansiedades ocupam amente humana. Sabe-se que o século XXI é maisincerto para uma grande parte da humanidadedo que o século anterior, porque a morte do ve-lho aniquila as velhas certezas, e o novo aindanão terminou de nascer. Segundo Imbernón(1999), não há nada seguro abaixo do sol:encontramo-nos ante uma nova forma de ver otempo, o poder, o trabalho, a comunicação, arelação entre as pessoas, a informação, as insti-tuições, a velhice, a solidariedade.
A globalização econômica e financeira, re-sultado da política neoliberal imposta aos paí-ses industrializados e emergentes, exige um ho-mem e uma mulher cada vez mais preparadospara enfrentar o cotidiano familiar, social,laboral e cultural. Os avanços da tecnologia eda informática são uma força decisiva que mu-dou a maneira de pensar, sentir e atuar. O per-feito domínio da informática e suas aplicaçõesé, sem dúvida alguma, a última tendência queinvadiu o ritmo cotidiano da sociedade atual.
A tecnologia produziu e está produzindo re-voluções na microeletrônica, na biotecnologia,nas informações, nas comunicações e nos trans-portes. Muitos autores analisam os paradoxosda tecnologia: alguns apontam as vantagens,outros, os perigos da era da informática.
Bohórquez (1999), analisando os paradoxos datecnologia de ponta (microeletrônica,informática, telecomunicações, robótica e laser),assinala que, ao mesmo tempo em que osinventos tecnológicos constituem uma esperan-ça para um mundo mais humano, garantindoum nível de subsistência para as pessoas, poroutro ângulo, em nenhum momento da históriativemos um aumento tão significativo de pesso-as que vivem na mais absoluta miséria, despro-vidas de saúde, moradia e educação. Gómez-Bezares e Eguizábal (1999) são do parecer deque o desenvolvimento tecnológico não pode servisto como uma ameaça. Se utilizarmos ade-quadamente os recursos físicos, humanos e atecnologia que está a nossa disposição, é possí-vel atender às necessidades básicas das pessoasno século XXI. Soares (1998) adverte que, aomesmo tempo em que estamos produzindo oprogresso, também estamos ampliando os limi-tes do terror e a extinção de tudo o que vive.Gurtner e outros (1998) pensam que o empregoda tecnologia da informação e da comunicaçãoé uma conseqüência do esforço que a própriaevolução impõe à sociedade e à nova maneirade viver. Os autores alertam sobre os perigosdas novas tecnologias no ensino, já que dificul-tam a formação de hábitos de estudo e provo-cam transformações nas práticas e funções doprofessorado. Lampert (2000) ressalta que, noséculo XXI, não é possível ignorar a revoluçãotecnológica e muito menos da Internet,paradigma tecnológico da comunicação de mas-sas. O parecer do autor é de que se necessitaaproveitar o potencial da tecnologia para aten-der aos interesses, peculiaridades e ritmos deaprendizagem dos estudantes, porém o empre-go egoísta, abusivo e sem ética do aparelhotecnológico colaborará para a formação de in-divíduos acríticos e de um mundo desumano.Em relação a esta problemática, Torres (2000)diz que desenvolver o pensamento crítico é arazão e a missão central da educação, educaçãoque prepara não somente para a adaptação nasmudanças, senão também para antecipá-las edirigi-las, sendo, ao mesmo tempo, condiçãopara seu próprio desenvolvimento.
355Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Ernâni Lampert
A tecnologia necessita ser analisada dentrodo contexto atual e sob diferentes prismas. Pe-dagogicamente, a Internet é uma excelente fer-ramenta para se obter uma gama de informa-ções, de atualização, de educação permanente ede comunicação sem fronteiras. É uma ferra-menta que, se utilizada adequadamente, trarágrandes benefícios aos seus usuários. Politica-mente, é imprescindível pensar que osneoliberais investem muito em tecnologia semnecessariamente melhorar a qualidade de ensi-no. Este fenômeno privilegia os grandes con-glomerados, que lucram com a venda de apare-lhos tecnológicos. Outro aspecto a destacar éque a tecnologia permite reduzir os gastos como público, com o salário dos professores.Hargreaves (2001) alerta que, ainda que os pro-fessores e as escolas sejam os agentes das mu-danças na sociedade de informação, eles tam-bém são vítimas da redução de gastos com obem público, com o congelamento dos salários,trabalhando mais e ganhando menos.
O setor quaternário ou informacional, em quea informação é a matéria-prima, e oprocessamento destas é o fundamento do siste-ma econômico, é o setor que mais está se desen-volvendo na atualidade. Atualmente, as pesso-as que não possuem as competências para criare tratar a informação ficam excluídas do pro-cesso produtivo. De acordo com Flecha eTortajada (1999), a sociedade informacionalrequer uma educação intercultural quanto aosconhecimentos e os valores, assim como a von-tade de corrigir a desigualdade das situações eas oportunidades.
No contexto atual, em que a informação é abase de tudo, e a escola não está mais apta aatender às exigências de uma sociedade incons-tante, a transformação da escola na comunida-de de aprendizagem é uma resposta à atual trans-formação social. Na comunidade de aprendiza-gem, todos os recursos educativos e culturaisde uma comunidade geográfica e social são ar-ticulados e aproveitados para atender às neces-sidades básicas de aprendizagem de seus mem-bros: crianças, jovens, idosos, famílias. Segun-do Imbernón (2001), a educação no futuro não
está tanto nos professores, mas no apoio da co-munidade. De acordo com Flecha e Tortajada(1999), as comunidades de aprendizagem par-tem de um conceito de educação integrada,participativa e permanente. Integrada porque sebaseia na atuação conjunta de todos os compo-nentes da comunidade educativa, sem nenhumtipo de exclusão e com a intenção de oferecerrespostas às necessidades educativas de todo osdiscentes. Participativa porque, na atual socie-dade, recebemos constantemente, de todas aspartes e em qualquer idade, muita informação,cuja seleção e processamento requer uma for-mação continuada. Segundo Torres (2001), autilização de comunidades de aprendizagemimplica: adotar, como exemplo, mais a aprendi-zagem do que a educação; assumir que todacomunidade humana possui recursos, agentes,instituições e redes de aprendizagem; estimulara busca e o respeito ao “diverso”, e envolvercrianças, jovens e adultos, valorizando a apren-dizagem entre gerações e pares.
Portanto, em uma sociedade informacional,é imprescindível a participação da comunidadepara superar os processos de exclusão. É ne-cessário uma ruptura epistemológica. A educa-ção necessita ser vista como uma prática socialconcreta e não como um fato abstrato, distante,descontextualizado. A escola necessita ser re-vista, adaptada às novas exigências, expectati-vas e necessidades de um mundo que está sem-pre em transformação, que não tem um quadroparadigmático orientador definido e único.
A educação a distância, que, ao longo dahistória, passou por distintos períodos, certa-mente será uma das perspectivas mais viáveis,útil e de enorme aceitação no século XXI. Oselevados déficits públicos de grande parte dospaíses, os sucessivos cortes no investimento emeducação e na saúde, a necessidade de reduzirgastos com o pessoal, as deficiências no siste-ma convencional de educação, o incremento eos avanços nos recursos tecnológicos, a possi-bilidade de reciclar e atualizar parte significati-va da população conferem à educação a distân-cia credibilidade para, de imediato e a custo re-duzido, atender às necessidades de uma socie-
356 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Educação: visão panorâmica mundial e perspectivas para a América Latina
dade que muda constantemente. Sabe-se que aeducação a distância tem acompanhado, de for-ma mais ágil, as mudanças incorporadas pelasnovas tecnologias, possibilitando uma aproxi-mação maior com a realidade dos alunos e, aomesmo tempo, tornando a aprendizagem maisdinâmica e interessante. A partir dos anos 90,as novas tecnologias como o e-mail, a Internet eas teleconferências permitiram uma espécie dediálogo com o destinatário. Isso representa semdúvida um progresso, uma possibilidade deinteragir. As novas tecnologias podem contri-buir para a melhoria do ensino, tanto convenci-onal quanto a distância. Porém, os equipamen-tos em si só não operam milagres. O mais im-portante é explorar e aproveitar todos os re-cursos disponíveis para a construção de umaeducação de qualidade, mais humana, solidá-ria, em que o ser humano é o sujeito. A educa-ção a distância é uma tendência no século XXI.Ela não é uma solução para todos os problemasde ensino: apresenta muitas contradições e de-safios que necessitam ser superados, porém éuma modalidade de responder aos desafios deigualdade de oportunidades, de educação per-manente, de superação dos limites tempo/espa-ço e restrições econômicas. É uma perspectivaque necessita de investigação para ser mais bemconhecida, melhorada, e de eliminar preconcei-tos. A educação a distância tem um enorme per-curso para percorrer e necessita de saídas ur-gentes para atender aos desafios.
Ferrer (1998) ressalta que, no século XXI,necessitamos de uma educação que permita aconvivência entre as diferentes culturas, dê pri-oridade ao ensino por toda a vida; utilize todo opotencial das novas tecnologias; não se limiteàs classes; que tenha implicações com a famí-lia; que forme para a autonomia e a responsabi-lidade; uma educação universalista quepotencialize o pensamento crítico, criativo esolidário. Santamaría (1998), em seu artigo so-bre as transformações sociais e a educação nolimiar do século XXI, enfatiza a necessidade dese ter líderes para revolucionar a educação, queé a base do futuro. A educação terá que ser degrande prioridade no futuro. Necessitamos
aprender sozinhos, aprender com quem nos ro-deia, com os outros países e com as culturasdiferentes. Se quisermos manter a escola, ne-cessitamos agitar e revolucionar quase tudo:conteúdos, métodos, edifícios, espaços e, sobre-tudo, a visão da realidade. Necessitamos, demaneira urgente, de uma nova arquitetura daeducação, capaz de coordenar a educação for-mal e a informal; capaz de transformar os obje-tivos, os métodos, os conteúdos, e capaz de ofe-recer às crianças, aos adolescentes e aos adul-tos uma autêntica igualdade de oportunidades.Segundo Subirats (1999), as finalidades da edu-cação, na atualidade, parecem estar mais clarasdo que nunca, visto que ela se converteu em umrequisito indispensável para viver na nossa so-ciedade. Por sua vez, o conhecimento é a gran-de produção do nosso tempo. O autor chama aatenção para a necessidade de a educação for-mar indivíduos capazes de buscar e manejar,por sua conta, os conhecimentos propriamenteditos. A competitividade e o economicismo, pi-lares que são de grande utilidade para forçar odesenvolvimento dos sistemas produtivos, hojecomeçam a ser valores fortemente daninhos paraa sociedade, já que resultam em desigualdadesferozes e constituem uma ameaça para o siste-ma e a natureza humana. Para o autor, a recu-peração do conceito integral de educação, quecontinua sendo uma utopia, é indispensável naeducação do século XXI.
A educação integral e a educação para a ci-dadania são perspectivas que necessitam serretomadas e revalorizadas. Vivemos em umasociedade baseada na ciência e na tecnologia,que, conectada à informática e coordenada pe-los grandes conglomerados dos países centrais,comanda a vida das pessoas. O processo deinternacionalização, a tendência crescente dacentralização do conhecimento e a globalizaçãoda economia parecem ser irreversíveis e certa-mente intensificaram-se no século XXI. Lamen-tavelmente, na sociedade pós-moderna o impor-tante é o setor produtivo e financeiro; os valo-res morais, éticos e a solidariedade são consti-tuídos pelo cidadão consumidor. A formação dacidadania é um processo complexo e lento. De
357Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Ernâni Lampert
acordo com Serrano (1999), a educação para acidadania é uma exigência da sociedade civil.Sua formação requer democracia, justiça soci-al, igualdade, liberdade, e o processo de cida-dania se faz principalmente através de açõesconcretas e práticas. Uma das possibilidades dese exercer a cidadania é o serviço voluntário. Oserviço voluntário é uma perspectiva que estáganhando espaço tanto em países industrializa-dos como em países emergentes. Arron (1999)assinala que, atualmente, na Grã-Bretanha, naAlemanha e na França, há um crescimento dasorganizações de voluntariado. Essas organiza-ções estão atuando nos diferentes setores soci-ais: pobreza, terceira idade, infância, imigran-tes, mulher, esporte, meio ambiente, saúde, co-operação internacional, e têm a intenção de ga-rantir que toda pessoa tenha atendidas todas assuas necessidades e tenha uma vida digna. Esseserviço traz à população um benefício social etem uma dimensão educativa, porque estimulaos processos de conscientização pessoal e co-munitária. São verdadeiras escolas de cidada-nia.
Analisando o ensino técnico e profissionaldo século XXI, Power (1999) é do parecer deque a formação deve orientar a satisfação dasdemandas da sociedade do conhecimento e, não,das revoluções industriais. A formação técnicae profissional deve ser pensada como um pro-cesso para toda a vida e como uma parte inte-gral da educação básica para todos, auxiliandoos alunos a conseguirem êxitos nas competên-cias básicas, como: matemática, língua estran-geira e informática; habilidades mentais comoa criatividade, a solução de problemas e a to-mada de decisões; habilidades pessoais como asocialização, a auto-estima, a autoconfiança, aautogestão e a integralidade.
Rigal (1999), referindo-se à educação parao século XXI, propõe a escola crítico-democrá-tica na América Latina. A escola para a novaépoca necessita fundamentar-se na vertente crí-tica do pensamento pós-moderno. É uma con-cepção teórica que prioriza a análise da produ-ção social e histórica das diferenças e desigual-dades com uma intenção totalizadora. Concebe
os significados e os textos como práticas mate-riais estruturalmente determinadas; procura,portanto, ligar a discussão do cultural com umareflexão sobre suas vinculações e sua determi-nação pela base material. A escola crítico-de-mocrática é concebida como uma forma políti-co-cultural. É uma maneira de reescrever oinstitucional de tal forma que facilite a recupe-ração do sujeito como protagonista, situado tem-poral e espacialmente a partir do respeito e daacepção do diverso e do inacabado. Como sín-tese, a finalidade da escola do século XXI, se-gundo o autor, é construir uma cultura orienta-da em direção ao pensamento crítico, que pre-tenda dotar o sujeito individual de um sentimentomais profundo de seu lugar no sistema global, ede seu potencial papel protagônico na constru-ção da história. Em relação às funções, a outraescola terá três funções: a socializadora, compráticas educativas democráticas, incluindo aparticipação dos diversos atores, e reconstrutora.Quanto aos objetivos, a escola crítica e demo-crática tem um papel relevante na formação desujeitos políticos: formar governados que pos-sam ser governantes. O tema central da institui-ção é reivindicar a singularidade da naturezaeducativa. Deve-se fortalecer os espaços e astomadas de decisões. Na relação ensino-apren-dizagem, deve-se respeitar a importância dosprocessos como instância de produção dialógicacoletiva e de negociação cultural. O currículodeve ser considerado produto cultural, núcleode relações entre a educação e o poder, identi-dade social e construção de produção de identi-dades individuais e sociais. Segundo Giroux(1999), a pedagogia crítica é uma maneira deprática social que surge de determinadas condi-ções históricas, contextos sociais e relações cul-turais. Arraigada a uma visão ética e política, apedagogia crítica se preocupa com a produçãode valores e de relações sociais para formar es-tudantes com cidadania crítica e capacidade denegociar e participar nas estruturas mais am-plas de poder.
A América Latina apresenta peculiaridadespróprias. De modo geral, carece de bens ele-mentares: saúde, educação, trabalho e estabili-
358 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Educação: visão panorâmica mundial e perspectivas para a América Latina
dade política. As causas da falta de desenvolvi-mento são históricas e estruturais e caracteri-zam-se pela desigualdade setorial de produtivi-dade, desarticulação da economia e dependên-cia exterior. A longa história da colonização eda exploração produz preços baixos de seusprodutos e da matéria-prima, salários inferio-res aos cobrados nas multinacionais e o benefí-cio somente das cúpulas governamentais. Cabeà educação, um dos pilares fundamentais, mu-danças da realidade. Os países latino-america-nos necessitam de uma educação flexível, ca-paz de responder às necessidades ao longo detoda a vida. A educação básica deve permitirque a criança e o adolescente cresçam em di-mensão ética e cultural, científica, tecnológica,econômica e social. A universidade deve prepa-rar-se e preocupar-se com a educação continu-ada e garantir o patrimônio cultural. Certamen-te os países necessitam de ajuda e cooperaçãointernacional para desenvolver-se a curto pra-zo, porém a assistência, necessariamente, deveconsiderar a pluralidade das culturas, o respei-to à natureza e a transmissão dos bens culturaise das tradições.
Para concluir, é oportuno afirmar que a edu-cação é um elemento chave de desenvolvimentosustentável para a paz e estabilidade de um paíse, sobretudo, é um direito humano fundamen-tal. No século XXI, a sociedade certamente con-tinuará alcançando avanços em, praticamente,todas as áreas do saber humano. No campoeducativo, nos países latino-americanos, é im-prescindível unir esforços dos diferentes segmen-tos sociais, do governo e de organismos não-governamentais, para que:
� a educação infantil seja estendida a to-dos os meninos e meninas;
� todos os meninos e, sobretudo, as meni-nas em idade escolar tenham acesso aoensino primário gratuito de boa qualida-de;
� todos os jovens e adultos tenham acessoaos programas educativos, de preparaçãoprofissional e/ou de readaptação profis-sional ou de educação permanente;
� os governantes elaborem e implantem
programas de educação para todos, paraa erradicação do analfabetismo;
� seja diminuída, drasticamente, a porcen-tagem de analfabetos e de adultos anal-fabetos funcionais;
� a qualidade de ensino básico, primário esecundário seja melhorada;
� sejam fomentadas políticas públicas pororganismos internacionais para diminuiras disparidades entre a educação básicados países ricos e a dos pobres;
� sejam aproveitadas as novas tecnologiasda informação e da comunicação parapromover a educação para todos;
� sejam incrementados programas para au-mentar a participação e a retenção dosalunos no sistema escolar;
� sejam mesclados o material didático con-vencional com as novas tecnologias;
� sejam atendidas, através de adequadosprogramas, as pessoas com alguma inca-pacidade física e psicológica;
� o Banco Mundial, os bancos regionais dedesenvolvimento, assim como o setor pri-vado, sejam mobilizados para oferecersubsídios e assistência para projetoseducativos;
� os recursos públicos, assim como osdonativos, sejam controlados para seremaplicados nos programas educativos;
� haja uma assistência e acompanhamentoda educação para todos;
� que sejam criados Fóruns de Educaçãopara Todos em diferentes países da Amé-rica Latina para acompanhar o desenvol-vimento;
� sejam criados programas especiais paraatender crianças, jovens e adultos afeta-dos por HIV/AIDS, a fome ou a má saú-de ou dificuldades na aprendizagem;
� sejam propiciados aos professores recur-sos de reciclagem, de atualização na áreapedagógica, porém contextualizados;
� seja utilizada na alfabetização inicial alíngua local;
� nas reformas educativas, os diferentesatores sociais tenham participação, re-
359Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Ernâni Lampert
presentação e voz;� as reformas educativas tenham uma pre-
ocupação com a formação de cidadãoscríticos, reflexivos, capazes de transfor-mar a realidade;
� haja uma inversão nas condições de tra-balho e no salário dos professores;
� as políticas públicas levem em conside-ração as reais necessidades e não critéri-os político-partidários;
� a organização curricular seja flexível eenfatize mais a formação do que a infor-mação.
As sugestões apresentadas são algumas pers-pectivas concretas de mudanças na educação,principalmente nos países emergentes, porque
REFERÊNCIAS
ARRON, J. N. Educar para una nueva ciudadanía: el voluntariado social. Bordón, Madrid, v.49, n.1,p.15-25, 1999.
BOHORQUEZ, A. G. Las nuevas tecnologías en el siglo XXI. La demografía. Acontecimiento, Madrid,v.15, n.50, p.12-14, 1999. Especial.
CARDÓN, J. L. R. Iberoamérica hoy: ¿ más democracia y menos justicia? Acontecimiento, Madrid, v.15,n.50, p.35-42, 1999. Especial.
CORZO, J. L. La educación de la fe ante el nuevo milenio. Sinite, Madrid, n.122, p.457-476, sep./dic.1999.
FERRER, F. Educación y sociedad: una nueva visión para el siglo XXI. Revista Española de EducaciónComparada, Madrid, n.4, p.11-36, 1998.
FLECHA, R.; TORTAJADA, I. Retos y salidas educativas en la entrada de siglo. In: IMBERNÓN, F.(org.). La educación en el siglo XXI: los retos del futuro inmediato. Barcelona: Graó, 1999. p.13-28.
GIROUX, H. Pedagogía crítica como proyecto de profecía ejemplar: cultura y política en el nuevo milenio.In: IMBERNÓN, F. (org.). La educación en el siglo XXI: los retos de un futuro inmediato. Barcelona:Graó, 1999. p.53-62.
GÓMEZ-BEZARES, F.; EGUIZÁBAL, J. El nuevo escenario de las relaciones entre economía y políticaeducativa para el siglo XXI. Innovaciones en el poder económico, procesos de decisión, autonomía degestión y compromisos éticos de sus actores. Revista de Ciencias de la Educación, Madrid, n.178-179,p.261-278, abr./set.1999.
GURTNER, J. L. et al. Nuevas tecnologías, educación y formación: un esfuerzo necesario de adaptacióna los cambios sociales. Revista Española de Educación Comparada, n.4, p.51-67, 1998.
HARGREAVES, A. O ensino como profissão paradoxal. Pátio, v.4, n.16, p.13-18, fev./abr. 2001.
IMBERNÓN, F. Entrevista. Pátio, Porto Alegre, v. 4, n.16, p.35-38, 2001.
nos países desenvolvidos já são contempladas amaioria das sugestões. Sabe-se que uma verda-deira revolução na educação não poderá ocor-rer sem uma revolução do atual quadro políti-co, econômico, social e cultural imposto paraos países emergentes; certamente, a educaçãopor si só não terá as condições de, em curtoprazo, transformar a sociedade, porém, atravésde uma verdadeira educação e conscientização,é possível começar o processo de reversão e dehumanização. Para modificar as políticas pú-blicas, é indispensável a transformação dos atu-ais quadros de referência ideológica, moral, so-cial e cultural. Portanto, uma disposição políti-ca é condição imprescindível para uma verda-deira revolução paradigmática.
360 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 349-360, jul./dez. 2002
Educação: visão panorâmica mundial e perspectivas para a América Latina
IMBERNÓN, F. (org.). La educación del siglo XXI: los retos del futuro inmediato. Barcelona, Grao,1999.
KORSGAARD, O. El aprendizaje de las personas adultas del siglo XXI. Educación de Adultos y Desa-rrollo, Bonn, v.49, p.9-30, 1997.
LAMPERT, E. Educación a distancia: elitización, o alternativa para democratizar la enseñanza? PerfilesEducativos, México, v.21, n.88, p.89-111, 2001.
LAMPERT, E. O professor universitário e a tecnologia. Revista Galego-Portuguesa de Psicología yEducación, La Coruña, n.5, v.6, p.55-64, 2001.
MARCO DE ACCIÓN DE DAKAR. Educación para todos: cumplir nuestros compromisos comunes In:FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN. Dakar, abr. 2000. Anais... Dakar: UNESCO, 2000.
POWER, C. N. La enseñanza técnica y profesional en el siglo XXI. Perspectivas, v.29, n.1, p.33-41, mar.1999.
PUIGGRÓS, A. Crónica de la educación en Latinoamérica. Cuadernos de Pedagogía, Barcelona, n.286,p.56-60, dic. 1999.
RIGAL, L. La escuela crítico-democrática: una asignatura pendiente en los umbrales del siglo XXI. In:IMBERNÓN, F. (org.). La educación en el siglo XXI: los retos del futuro inmediato. Barcelona: Graó,1999. p.147-170.
SANTAMARÍA, F. R. Cambio social y educación en el umbral del siglo XXI. Revista Española de Edu-cación Comparada, Madrid, n.4, p.37-50, 1998.
SERRANO, G. P. Educación para la ciudadanía: una exigencia de la sociedad civil. Revista Española dePedagogía, n.213, p.245-278, mayo/ago. 1999.
SOARES, J. C. Repensando a noção de progresso globalizado. Sociedad y Utopía, Madrid, n.12, p.155-162, nov. 1998.
SUBIRATS, M. La educación del siglo XXI: la urgencia de una educación moral. In: IMBERNÓN, F.(org.). La educación del siglo XXI: los retos del futuro inmediato. Barcelona, Grao, 1999. p.171-180.
TORRES, R. M. Itinerários pela educação latino-americana. Porto Alegre: Artmed, 2000.
Recebido em 22.08.02 Aprovado em 28.02.03
361Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Emília Maria da Trindade Prestes
POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR BRASILEIRO
COMO POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
Emília Maria da Trindade Prestes*
RESUMO
O artigo trata das novas políticas de educação do trabalho implantada peloEstado brasileiro em articulação com os representantes dos empregadores edos trabalhadores, a partir de l995, em um contexto em que a globalização e astransformações conjunturais da produção provocam o desemprego estruturalampliando a situação de pobreza e de exclusão social. Como revela o Ministé-rio da Ciência Tecnologia do Brasil, a previsão para o atual mercado de traba-lho, nas primeiras décadas deste século, é de que apenas 25% da populaçãoeconomicamente ativa do globo, se constituirão de trabalhadores permanentes,qualificados e protegidos pela legislação. Outros 25%, portadores de poucaescolaridade e qualificação, poderão estar nos chamados segmentos informaisda economia, enquanto os 50% restantes, correrão o risco de estar desemprega-dos ou subempregados Como objetivo especifico de análise, o texto focaliza aspolíticas de educação profissional implementadas em todo o território brasilei-ro pelo Ministério de Trabalho e Emprego, através do PLANFOR - Plano Na-cional de Educação Profissional, e propagada como uma política capaz demelhorar as condições de vida e de trabalho da PEA – População Economica-mente Ativa –, reduzindo as condições de pobreza e exclusão dos trabalhadoresde baixa escolaridade ou com problemas de trabalho e contribuindo para apromoção do desenvolvimento e da sustentabilidade local.
Palavras-chave: Educação e desenvolvimento – Políticas públicas de educa-ção para o trabalho – Inclusão social
ABSTRACT
POLITICS OF EDUCATION OF THE BRAZILIAN WORKER AS DE-VELOPMENT POLITICS
The article deals with the new politics of education for work implemented by theBrazilian State in articulation with the representatives of the employers and theworkers, from 1995 on, in a context in which globalization and the juncturaltransformations of the production cause the structural unemployment, magnify-ing the situation of poverty and of social exclusion. As revealed by the Ministryof Technological Science of Brazil, the outlying for the current work market, in
* Professora doutora em Estudos Latino-americanos do Programa de Pós-Graduação em Educação – Uni-versidade Federal da Paraíba – UFPB. A autora conta com o apoio da CAPES, através de bolsa, para arealização do pós-doutorado. Endereço para correspondência atual: Calle Castillejos, 250, 2.2ª – 08013Barcelona, Espanha. E-mail: [email protected]
362 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Políticas de educação do trabalhador brasileiro como política de desenvolvimento
the first decades of this century, is that only 25% of the global economicallyactive population will be constituted of permanent workers, qualified and pro-tected by the legislation. Other 25%, holders of limited educational backgroundand qualification, will be able to be in the so called informal segments of theeconomy, while the other 50% might be unemployed or sub-employed. As aspecific objective of analysis, the text focuses on the professional educationpolitics implemented throughout the Brazilian territory by the Ministry of Workand Employment, through PLANFOR – National Plan of Professional Educa-tion, and divulged as politics capable of improving the conditions of life andwork of PEA – Economically Active Population –, reducing the conditions ofpoverty and exclusion of the limited educational background workers and con-tributing to the promotion of the local development and sustainability.
Key words: Education and development – Public politics of education to work– Social inclusion
Introdução
A importância da educação do trabalhador,traduzida em políticas e iniciativas concretaspara gerar o desenvolvimento, ganha maior re-levância na década de 90, época em que, devidoàs grandes transformações econômicas e ajus-tes estruturais e políticos, a pobreza e a exclu-são1 ganham maior visibilidade. No cenário in-ternacional europeu, como nos paises empobre-cidos dos terceiro mundo, políticas e projetosvoltados para a formação profissional passarama compor as prioridades das agendas governa-mentais, com vistas a integrar, no novo merca-do, grupos de pessoas escassamente qualifica-dos (LOOS, 2002; ESCUDEIRO, 2002), con-siderando que o desemprego, gerador de exclu-são e pobreza, coloca em risco a estabilidade domodelo econômico e político em adoção.
O Estado brasileiro, acompanhando a ten-dência – e exigências internacionais – reorgani-za as suas políticas de educação do trabalhadorcom vistas a possibilitar ao país integrar-se aosprocessos de globalização competitiva, propici-ando maiores oportunidades de trabalho e dimi-nuição da incidência da pobreza e da exclusãosocial, em situação de crescimento. A educaçãoprofissional transforma-se, assim, em um fatorde desenvolvimento e, também, “um instrumen-to de mistificação que encobre problemas que asociedade enfrenta para a geração de renda e,
no limite para a sobrevivência do indivíduo”.(LÚCIO; SOCHACZEWSKI, 1998, p.105)
Este artigo aborda, sinteticamente, as políti-cas públicas de educação para o trabalho,implementadas pelo Estado brasileiro e destina-das, fundamentalmente, aos trabalhadores ne-cessitados de educação e em processo de exclu-são. Elege-se, como objeto particular de análi-se, o Plano Nacional de Educação Profissional -PLANFOR2 , organizado sob a orientação doMinistério do Trabalho e Emprego, no ano de1995, e com meta de qualificar ou requalificar,anualmente, cerca de 20% da População Eco-nomicamente Ativa – PEA – ou seja, 15 milhõesde trabalhadores, em um período de 05 anos.3
Partimos da idéia de que a relação entre edu-cação do trabalhador e políticas de desenvolvi-
1 Entende-se a exclusão social nas privações múltiplas:baixa escolaridade, baixa renda, emprego inexistente ouinseguro, moradia pobre, tensão familiar e alienação so-cial (HAAN, 1998).2 O PLANFOR, ao longo da sua evolução mudou de nome.Do original Plano Nacional de Educação Profissional,passou a ser denominado PLANFOR - Plano Nacionalde Qualificação do Trabalhador.3 Até o ano 2002, este programa de educação para o tra-balho não havia podido cumprir suas metas quantitati-vas, ou seja, qualificar em cinco anos os 15 milhões detrabalhadores previstos. No ano de 2001, o Ministério doTrabalho e Emprego atualizou o PLANFOR, através daResolução CODEFAT n.258. O novo documento, no seu
363Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Emília Maria da Trindade Prestes
mento do Estado não é um fato recente. Entre-tanto, foi neste final de século que essas rela-ções foram redefinidas e revalorizadas comofundamentais para um novo modelo de desen-volvimento globalizado que tanto defende a com-petição econômica como propaga a justiça e aigualdade social. Nesse novo contexto em quese cruzam os mais diferentes interesses, as polí-ticas públicas de educação para o trabalho con-vertem-se em estratégias governamentais volta-das para atender, simultaneamente, aos comple-xos compromissos e solicitações internacionaise as diferentes demandas da sociedade nacional.Trata-se, portanto, de políticas reforçadas nasnovas relações de poder as quais tentam, atra-vés de jogos de forças e negociações, equilibrardistintos interesses em pugna.
I - As políticas de educação profissi-onal e o modelo desenvolvimentista
Nas últimas décadas, ampliam-se, na comu-nidade internacional, políticas e iniciativas comvistas a diminuir a pobreza e a exclusão, maci-çamente ampliada devido aos impactoseconômicos da globalização e da reestruturaçãoprodutiva. No conjunto das negociações e res-ponsabilidades assumidas por diferentes gover-nos e organizações, nos fóruns e tratados inter-nacionais sobre o desenvolvimento (ESCUDEI-RO, 2002), destacam-se as políticas trabalhis-tas e de qualificação profissional que passam aser assunto de interesse não apenas do trabalha-dor, mas também do Estado e do patronato. Noano de 1995, o Sr. James D. Wolfensohn, presi-dente do Banco Mundial, enunciava que emmuitos países:
(...) as políticas trabalhistas têm favorecido er-roneamente os ocupantes de bons empregos, em
prejuízo dos trabalhadores rurais e do setor in-formal e dos desempregados. Corresponde cla-ramente aos governos a função de estabelecer aestrutura normativa e reguladora em que os sin-dicatos e as empresas incentivem a sua positivacontribuição para o desenvolvimento. (...) sãoboas políticas trabalhistas aquelas que operamem harmonia com o mercado e evitam a conces-são de proteções e privilégios especiais a certosgrupos de trabalhadores, em detrimento dos maispobres. (BANCO MUNDIAL, 1995, p.iii)
Apesar da nova ênfase dada pelo BancoMundial à educação do trabalhador, o tema daformação profissional faz parte da história dotrabalho e do trabalhador. Foi, no entanto, nametade do século XX que Estado, patrões e tra-balhadores começaram a ter maior consciênciada necessidade da formação profissional.
Ao término da II Grande Guerra, a socieda-de mundial atingida pelas crises econômicas epelas novas configurações geopolíticas advindasdo conflito internacional, passou a considerarque os recursos não eram ilimitados. A amplia-ção da noção de Desenvolvimento – em lugarda anterior concepção de Progresso – ajudou areforçar as idéias sobre a acumulação, a distri-buição dos recursos, o problema de emprego ea industrialização e a organização das classestrabalhadoras. Surgem, na América Latina, asprimeiras preocupações com a relação educa-ção do trabalhador e desenvolvimento. Orga-nismos internacionais como a CEPAL (Comis-são Econômica para América Latina e Caribe),a UNESCO (Organização das Nações Unidaspara a Educação), a OREALC (Organizaçãodos Estados da América Latina e Caribe) e aOEA (Organização dos Estados Americanos)passaram a propagar a Teoria do Capital Hu-mano, idéias concebidas pelos economistasamericanos Schultz e Habirson (MANFREDI,1998). A educação, na Teoria do Capital Hu-mano, concebendo a educação como valor parao crescimento social, a mobilidade individual eas transformações estruturais – modernização– da sociedade impelia os Estados, em processode modernização das suas estruturas, a elabo-rarem políticas e reformas educativas voltadasàs exigências da nova economia industrial e dos
artigo 2, continuou prevendo a oferta de educação profis-sional – EP, em cada ano, a pelo menos 20% da PEAmaior de 16 anos de idade. (MINISTÉRIO DO TRABA-LHO E EMPREGO, Plano Nacional de Qualificação doTrabalhador. Resolução CODEFAR, n.258, PLANFOR2001-2002, p.1-2)
364 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Políticas de educação do trabalhador brasileiro como política de desenvolvimento
setores políticos em transformação.Os anos 40 revelam o final do modelo de
desenvolvimento brasileiro conhecido comoagro-exportador, cedendo lugar ao modelodesenvolvimentista, caracterizado pelaagilização da acumulação do capital e inova-ções tecnológicas procedentes do estrangeiro. Aeconomia tornou-se urbano-industrial, e a idéiacentral era que a sociedade atrasada (tradicio-nal) podia se desenvolver quando eliminassecertos tipos de mecanismos econômicos, políti-cos e psicológicos que a impediam de equipa-rar-se a uma sociedade moderna. Para tal fim,eram necessárias a organização da sociedade, asustentação de políticas para o desenvolvimen-to e a propagação de uma base ideológica vol-tada para organizar a vontade nacional.
A educação das massas foi vista, nacional-mente, num primeiro momento, como prepara-ção de mão-de-obra para o processo industrial.Mas, em seguida, o próprio processo políticodo pacto populista descobriu a educação comoum dos seus mecanismos mais eficazes demobilização das massas.
A educação de adultos passou a ter um sig-nificado político novo de conscientização, depolitização, de socialização e de engajamento.Das antigas campanhas de educação de adultos,voltadas para a alfabetização, as quaisobjetivaram a formação de um eleitorado, con-trolado por oligarquias, chegou-se a uma visãoabrangente da educação, enquanto mecanismode mudanças e transformação no processo soci-al e político. Como expressão educacional deum projeto político, os movimento de educaçãopopular reivindicavam reformas de base, mes-mo que não propusessem substituição do modode produção capitalista como um todo.
O Brasil pré-64 estava diante do dilema pos-to pelo capitalismo internacional: ou optava porum desenvolvimento nacional autônomo, auto-sustentado, ou escolhia o desenvolvimento de-pendente, associado ao capital internacional. Aburguesia nacional preferiu uma aliança com ogrande capital como mais conveniente aos seusinteresses, rompendo o pacto populista. Daí re-sultou a mudança política de 1964.
Com a mudança do golpe de 1964, os movi-mentos de educação de adultos que se caracte-rizaram pela opção política pelas massas foramatingidos e dizimados. Redefiniu-se o universoda educação de adultos e restringiram-se os es-paços de educação popular.
A redefinição e a reestruturação da socieda-de, no pós-64, pautadas na adoção de um mode-lo político e ideológico bem definido e menosambíguo que o do pacto populista, implicarama utilização de um mecanismo de controle soci-al e a ampliação dos conceitos de Segurança eDesenvolvimento, como uma nova ideologia doEstado. Nisto se firmaram as estratégias impres-cindíveis para a legitimação do novo regimepolítico, mas que resultaram também no efeitoperverso de uma intensa repressão policial epara-policial apoiada pelo aparelho estatal. Jánão havia mais condições para a mobilizaçãodas massas ou suas organizações, reivindican-do a participação do poder, seja econômico, sejapolítico.
Esse pacto de sustentação possibilitou o re-gime autoritário militar por vinte anos, e um cli-ma da chamada cooperação internacional queembasava os acordos entre países do centro e daperiferia, suprindo os países subdesenvolvidoscom recursos para suas propostas de um desen-volvimento que assegurasse a manutenção daordem internacional.
É nesse enquadramento que aparecem umorganismo como a United States Agency for thedevelopment – USAID – e um programa comoa Aliança para o Progresso. Dependentes deles,convênios e acordos foram firmados paraprojetos educativos como a Cruzada de AçãoBásica Cristã.- Cruzada ABC (PRESTES eMADEIRA, 2001). Foi, também, esse novoEstado que propôs políticas de erradicação oudiminuição do analfabetismo adulto voltadaspara capacitar uma mão-de-obra especializadae como forma de resposta aos novos processosprodutivos (PAIVA, 1973), como o MovimentoBrasileiro de Alfabetização (MOBRAL), orga-nizado no ano de 1970.
A preparação do trabalhador, sobretudo paraa industria e para o comércio, ou as campanhas
365Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Emília Maria da Trindade Prestes
ou movimentos de educação de adultos surgidasnaquele contexto, não significaram, contudo, queo Estado ou o empresariado nacional tivessem umamaior preocupação com a escolaridade básica dotrabalhador, em sua generalidade. As reformas doEnsino Básico e Técnico e a do Ensino Superiornas décadas de 60 e 70, ao formarem quadros ca-pazes de atenderem às demandas da modernidadeprodutiva, não modificaram o perfil do trabalha-dor brasileiro. Muitos desses trabalhadores, atu-antes na produção como “especialistas”, quandonão eram analfabetos, mal sabiam ler ou escrever(PRESTES e MADEIRA, 2001). A“hierarquização, verticalizada e especializada”(FIDALGO, 1999, p.17) do mercado de trabalhobrasileiro garantia a produção – independentementeda sua qualidade – através de uma mão-de-obrabarata e de fácil substituição.
Se, por um lado, o Estado militar moderni-zou as estruturas econômicas e sociais do país,por outro, reforçou a proteção das políticas dedesenvolvimento, sem uma maior interferênciada sociedade. A modernização das estruturasprodutivas centradas em políticas de desenvol-vimento hierarquizadas por estados federativos,regiões e por postos de trabalhos especializados,relacionados a uma maior escolarização, ressal-tou os problemas sociais decorrentes de umaestrutura econômica macrossocietária ineficientee atrasada. As disparidades regionais foram agra-vadas, e os problemas do trabalho e do traba-lhador passaram a ser melhor visibilizados nocenário nacional.
Ao longo de mais de três décadas em que im-perou o modelo desenvolvimentista, criou-se noBrasil um mercado segmentado em que setoresmodernos industrializados combinaram-se comsetores atrasados, ampliando espaços para um usoselvagem da mão-de-obra desqualificada. As dife-renças regionais, a inexistência de um mercadointerno e a concentração de renda, aliadas a umapolítica salarial ineficiente, tornaram os níveis deconsumo muito aquém dos necessários para osníveis de desenvolvimento desejados, agravando,naquela conjuntura, a pobreza e a exclusão socialbrasileira.
Dessa maneira, o principio da exclusão pela
diferença (BONETI, 1997; ELBOJ, 2002) já sefazia presente naquele contexto, pois os traba-lhadores analfabetos ou de pouca escolaridade,mesmo participando do processo econômico,encontravam-se em situação diferenciada, fren-te aos escolarizados. Segundo Escorel (apudBONETI, 1997, p.28), “(...) a exclusão socialse manifesta no contexto social (pela fragilida-de que se estabelece nos contexto das relaçõeshumanas); no contexto cultural pela estigmaçãosimbólica e o descaso pelas representações so-ciais; no contexto humano pelo descaso à pes-soa quando sem uma função social; no contextopolítico pelo desrespeito aos direitos fundamen-tais do homem”.
É verdade que, durante todo esse período, opaís, respaldado pela intervenção direta do Es-tado na economia e nas regulamentações de tra-balho – uma “versão tropical” do modelofordista-taylorista4 –, vivenciou um processo demodernização da sua estrutura produtiva e aformação de uma elite de gestores, técnicos eempresários capazes de influenciar as estrutu-ras industriais e modificar – de forma controla-da – o comportamento de diferentes atores domundo do trabalho e da sociedade. Mas, tam-bém, é verdade que o modelo de industrializa-ção adotado e a modernização das estruturasprodutivas se deram às custas da exclusão demuitos outros trabalhadores e de regiões do país,acentuando o desigual caráter do capitalismobrasileiro e evidenciando, cada vez mais, as di-ferencias regionais.
II – Um novo paradigma: o modelode desenvolvimento globalizado
O reordenamento do sistema capitalista e astransformações políticas acentuadas no mundo,
4 O atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-metalúrgicoe líder sindical, ao expor suas propostas como candidatoàs eleições presidenciais de 1994 afirmou: “Não queroque os empresários sejam marxistas; quero que sejamfordistas. Quero que concebam a idéia de pagar um salá-rio melhor para os operários consumirem os produtos quefabricam” (EXAME VIP, abril/94, p. 62.)
366 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Políticas de educação do trabalhador brasileiro como política de desenvolvimento
a partir dos anos 80, romperam com esquemaseconômicos e políticos estabelecidos durante aetapa da sociedade industrial. A decadência domodelo Keynesiano amplia o desemprego – quepassa a ser configurado como estrutural – tor-nando mais evidente, no mundo em globalização,as situações de ruptura social, as manifestaçõesextremistas e de exclusão. O Relatório sobre oDesenvolvimento Mundial, do Banco Mundial,do ano de 1995, dizia que as desigualdades en-tre regiões ou dentro dos próprios países acen-tuavam-se no contexto da economia global, vezque a renda per capita entre os países mais ri-cos, no ano de 1870, era 11 vezes maior do queentre os mais pobres, sendo que essa diferençahavia se elevado para 38 em 1960, e para 52 em1985 (BANCO MUNDIAL, 1995). Segundoeste mesmo relatório, essa desigualdade, entre-tanto, não excluía os paises ricos de convivercom o desemprego, uma vez que aproximada-mente um terço da sua população economica-mente ativa – PEA – estava fora da força detrabalho ou desempregada.
Na maioria dos países europeus, essa situa-ção, aliada às mudanças geopolíticas esocioeconômicas regionais, fez com que as legis-lações nacionais dessem lugar a uma série de acor-dos centrais, colocando o Estado, empregadores eempregados em situações de negociações comoforma de equilibrar uma situação incerta eperturbadora (FERNER e HYMAN, 1998). Abusca de alternativas para oportunizar empregoao trabalhador induziu diferentes governos e or-ganizações a criarem projetos inovadores de ensi-no e de formação, capazes de favorecer a integraçãodos trabalhadores de baixa qualificação no mer-cado de trabalho. Esses projetos, segundo Loos(2002), passam a ser uma das principais políticaseducativas da União Européia.
No caso brasileiro, os efeitos dos processosde globalização e de reestruturação produtivano problema do emprego, desemprego, pobrezae exclusão se fizeram mais graves. No âmbitodesse momento ambíguo em que liberalismoeconômico se associa às políticas da democra-cia representativa – exigência de uma “reorga-nização do sistema de relações internacionais”– surgem – ou renascem – diferentes demandas(SCHMIDT, 2001, p.3) obrigando o Estado aadotar políticas capazes de atender a interessesindividuais e coletivos, internacionais, nacionaise regionais e de implantar um novo modelo dedesenvolvimento, integrando o econômico como social.
Assim, o Estado, como um “Leviatã encur-ralado”, tenta, através da implantação de polí-ticas “ambíguas”, equilibrar interesses e situa-ções diferenciadas entre as quais se destaca aformação profissional. Está em jogo não ape-nas um novo projeto de desenvolvimento, mastambém a própria legitimidade do Estado que,por sua fragilidade, se vê impossibilitado decumprir suas novas funções econômicas e dedesempenhar seus tradicionais papéis de guardiãdos interesses sociais.
Análises recentes relativas aos resultadoseconômicos e sociais do modelodesenvolvimentista em sua fase de esgotamen-to, tomando por base indicadores econômi-cos, indicam que o Brasil, na década de 80,apesar de toda a crise, foi capaz de gerar con-siderável volume de emprego, mantendo, aomesmo tempo, baixas taxas de desempregoaberto.5 No período de 1981 a 1990, a médiade crescimento do PIB brasileiro ficou emtorno de 1,5% a.a., mas o nível de emprego cres-ceu a uma taxa média de 3,5% a.a., superan-do a taxa de crescimento populacional (2,1%a.a.). Nesse período foram gerados, por ano,1,85 milhão de novos empregos – mais de 16milhões de novos postos de trabalho – ultra-passando os índices de empregos apresenta-dos na década de 70, época da aceleração daindustrialização e do milagre brasileiro, comum PIB crescendo mais de 10% a.a.(AMADEO, 1994). O nível de desemprego
5 Esse avanço foi garantido por alta margem deendividamento no exterior, aliado a um padrão de con-corrência restrita, voltado a um mercado interno em cres-cimento, relativamente fechado e protegido, em especialno que tange a bens de consumo duráveis e não duráveise ao setor de informática (automóveis, eletrodomésticos,computadores).
367Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Emília Maria da Trindade Prestes
permaneceu entre 3,5% e 4%, não passandode 5% nem nos anos mais recessivos (1981-83).
Nos anos 90, apesar da recuperação doPIB, o ritmo de geração do emprego baixoupara 1,3%. As reformas econômicas acentua-ram o processo de reestruturação de empre-sas industriais e da administração pública, quereduziram o emprego em nível absoluto. Mes-mo assim, até o ano de 1997, as taxas de de-semprego aberto permaneceram relativamen-te baixas – entre 5% e 6% – graças, em gran-de parte, ao crescimento do chamado merca-do informal. Com efeito, a partir dos anos 90,o crescimento do mercado informal veio sen-do um dos fenômenos de maior visibilidadeno cenário nacional, fato que se relaciona,diretamente, à situação de um país que, emdez anos, teve que vivenciar uma transiçãodemocrática, enfrentar inflação e dívidas ex-ternas, e, sobretudo, integrar-se, como eco-nomia periférica, a um modelo de desenvol-vimento competitivo e globalizante com oemprego deslocando-se do setor secundáriopara o setor terciário, principalmente comér-cio e serviços e colocando em cheque os inte-resses diferenciados dos empregadores e em-pregados e do Estado.
Os anos 90 terminam retratando uma PEA(População Economicamente Ativa) compos-ta de 79,3 milhões de pessoas e aproximada-mente 8,6 milhões de desempregados, cercade 10,8% desse total. As diferenças por situ-ação mostram que o desemprego é maior en-tre as mulheres não-brancas (16,5%), homensnão-brancos (11,3%), e jovens entre 19 e 24anos (16%) (SCHMIDT, 2001). A crise donão trabalho, com períodos de busca de tra-balho cada vez maiores, repercute nas condi-ções econômicas do desempregado e, também,nas suas condições sociais e de vida. Comoentende Schmidt (2001, p.5), estar desempre-gado é estar “estigmatizado”, ter “sua identi-dade social afetada” e ser um “cidadão in-completo” independente da avaliação pessoalque faz o próprio desempregado sobre a suasituação. É nesse contexto que os programas
de qualificação do trabalhador passam a com-por as políticas publicas de trabalho e rendado Estado brasileiro em conjunto com os em-presários e a sociedade.
Segundo Fidalgo (1999), a CNI (Confe-deração Nacional das Indústrias), até o anode 1992, vinculava a educação do trabalha-dor a questões puramente econômicas. Entre-tanto, devido à nova conjuntura econômica in-ternacional, a partir do ano de 1996 oempresariado brasileiro passa a privilegiar anecessidade da educação geral para acompetitividade e, também, para a constru-ção da cidadania e melhoria da qualidade devida do trabalhador através da produção, as-sumindo um discurso com características si-milares “ao debate constatado no meio em-presarial francês” (FIDALGO, 1999, p.122).É, entretanto, a partir de 1998, através de umaarticulação denominada PNDE (PensamentoNacional das Bases Empresariais) que oempresariado brasileiro se posiciona para as-sumir uma postura de intervenção direta naEducação, considerando que a “negociaçãoentre os interlocutores políticos é a única for-ma capaz de garantir a efetividade das políti-cas públicas para a educação, seguindo as-sim orientações que tem origem na OIT (Or-ganização Internacional do Trabalho).”(FILDALGO, 1999, p.123)
Essas proposições também encontram res-sonâncias nos meios das centrais sindicaisbrasileiras – CUT (Central Única dos Traba-lhadores), CGT (Confederação Geral dos Tra-balhadores) e FS (Força Sindical) – e nas re-soluções do Conselho Deliberativo do Fundode Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), queconsideram a necessidade de oferecer ao tra-balhador brasileiro uma formação básica eprofissional não apenas para a necessidadeda produção, mas também como forma desuperar históricas situações de exclusão edu-cacional, econômica, social e cultural. Ao lon-go dos anos 90, as principais proposições dascentrais sindicais em relação à educação do tra-balhador resumem-se em: submeter a formaçãoprofissional ao Conselho Nacional de Educa-
368 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Políticas de educação do trabalhador brasileiro como política de desenvolvimento
ção e ao Conselho Nacional do Trabalho;priorizar a educação básica e complementá-lacom a formação profissional, com conteúdosprivilegiando conhecimentos científicos,tecnológicos e de cultura geral; priorizar os gru-pos mais necessitados – os grupos de riscos; eparticipar dos processos de administração dosrecursos destinados à formação profissional.Como conclui Fidalgo (1999), as proposições eforma de organização profissional apresentadaspelas centrais sindicais não resultam diferentesdas proposições empresariais e do Ministériodo Trabalho.
A política do governo brasileiro de educa-ção do trabalhador ganha um novo relevo nasegunda metade dos anos 90 quando, integradaàs políticas ativas de trabalho e renda em con-junto com o PROGER (Programa de Geraçãode Emprego e Renda), PRONAF (Programa deFortalecimento da Agricultura Familiar), temcomo meta agrupar em um sistema o pagamen-to do seguro-desemprego, a intermediação damão-de-obra e a qualificação profissional. Par-tindo da constatação que é necessário atenderpelo menos 20% da PEA a cada ano, como for-ma de superar os enormes déficits de escolarizaçãodos trabalhadores, surge, em conjunto com repre-sentações dos trabalhadores e dos empresários –através das comissões tripartites – o Plano Nacio-nal de Qualificação (PLANFOR). Gerenciado peloMinistério do Trabalho e Emprego (MTE), atra-vés do Conselho Deliberativo do Fundo de Ampa-ro ao Trabalhador (CODEFAT) no âmbito nacio-nal, pelas Secretarias de Trabalho e comissõestripartites na esfera estadual, e financiado via re-cursos do Fundo do Amparo do Trabalhador (FAT),o PLANFOR apresenta-se, a partir de 1995, comouma das possibilidades de reduzir o desempregoatravés da qualificação para o trabalho.
III - A política de educação profissi-onal negociada
O PLANFOR, introduzido no país como umapolítica ativa implementada pelo Estado atra-vés de negociações com órgão de representa-
ções do mundo do trabalho e de comunidades,se propôs a construir e divulgar um novoparadigma e uma nova institucionalidade naformação do trabalhador brasileiro. Baseandoseus objetivos nas orientações e nos novos con-ceitos educacionais formulados pelos organis-mos internacionais e tendo como exemplo asexperiências de formação do trabalhador depaíses europeus como a França e a Espanha, oPLANFOR apresenta-se como uma nova for-ma de oferecer educação aos trabalhadores atra-vés de negociações, incluindo-se os acordos es-tabelecidos no âmbito de um conselho tripartite– Estado, empresários e trabalhadores – eparitários.
Implementados em todo o país, de forma des-centralizada, através de parcerias com diversasentidades governamentais e não governamentais,os Planos Estaduais de Qualificação (PEQs) sãoelaborados e geridos pelas Secretarias Estaduaisde Trabalho, sob homologação e supervisão dasComissões Estaduais e Municipais de Emprego.Consta dos seus objetivos gerar trabalho, renda ecidadania para os trabalhadores qualificados e emsituação de exclusão social, dentro de uma reali-dade de desemprego estrutural e ampliação domercado informal.
Dados da Organização Internacional do Tra-balho (OIT) demonstram o peso do crescimentodo mercado informal que, na América Latina, atin-ge cerca de 80% do mercado de trabalho. Assim,o setor informal, que foge do controle e da regula-mentação do Estado e dos próprios sindicatos, vaiadquirindo significância e dimensões imprevistas,devido à precariedade do trabalho formal e à ne-cessidade de sobrevivência. Segundo Tiriba (1998,p.189), essas estratégias de sobrevivência - lutapela manutenção da vida - é o que move a grandecontingência dos excluídos. Como a “clientela pre-ferencial” do PLANFOR se inclui na situação deexclusão e se move nesse complexo e diversifica-do mundo de economia informal excludente, qualestá sendo o papel do PLANFOR para materiali-zar essas formas de sobrevivências: as novas or-ganizações e relações de trabalho? Qual está sen-do a contribuição da qualificação para a constru-ção do trabalho dessas populações e para a
369Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Emília Maria da Trindade Prestes
melhoria de qualidade de vida e busca de cidada-nia? Como o PLANFOR está contribuindo parareduzir a pobreza, um dos seus objetivos previs-tos?
A conjunção de suas pretensões políticas eoperacionais, desenvolvida no âmbito daglobalização excludente, e a vultuosa quantia comque financia seus programas de qualificação comrecursos advindo do FAT, ou seja, “dos própriostrabalhadores”, torna este programa governamen-tal freqüentemente alvo de críticas. Comenta-se quesuas concepções e sua política de ação escondemuma “profunda violência ideológica”, contribuin-do para formar cidadãos passivos e não mais tra-balhadores, além de serem ineficazes para atenderàs suas concretas necessidades, pela forma comoconduz e articula suas atividades de qualificaçãoprofissional com outras políticas de educação for-mal, por reduzir seu foco de atendimento às ne-cessidades do mercado e à lógica empresarial epelas contingências de qualificar o trabalhador paraum mundo sem trabalho e para o mercado infor-mal (ANTUNES, 2001; TIRIBA, 2001;FRIGOTTO, 1995; FRANCO, 1998;POCHMANN, 2002). Alega-se, em síntese, queas atividades profissionais oferecidas peloPLANFOR nem servem para formar o cidadãotrabalhador capaz de refletir sobre o processo pro-dutivo, nem para o mercado, pois contrariam alógica capitalista ao não serem condizentes comuma nova realidade produtiva. Assim, para seuscríticos, as atividades profissionais oferecidas peloPLANFOR servem, apenas, para criar expectati-vas inquietantes nos trabalhadores, pois, ao nãose ajustarem às novas exigências de um mercadoinovador e inovado pela globalização e pelas no-vas tecnologias, não contribuem para diminuir odesemprego e a exclusão.
Os seus defensores, entretanto, que entendema qualificação baseada nas orientações interna-cionais e fundamentada na Teoria do CapitalHumano, justificam que a educação do traba-lhador, no atual contexto internacional, é umadas formas de possibilitar trabalho, combate àpobreza e às injustiças sociais, e facilitar aintegração social. Entre esses defensores, pode-mos citar: Comissão Econômica para América
Latina e Caribe – CEPAL; Organização dasNações Unidas para a Educação, Ciência e Cul-tura – UNESCO; Departamento Intersindical deEstatísticas e Estudos Sociais e Econômicos –DIEESE (1996); Castro (2000); Mehedeff(1995); Leite (1995); Schmidt (2001). Tendema acreditar no surgimento de novas demandas emovimentos ocupacionais decorrentes da quali-ficação. Nesta compreensão, o papel da políticade qualificação do trabalhador é possibilitar aostrabalhadores pobres, desempregados, jovens,idosos, mulheres e negros necessitados de se-rem qualificados ou requalificados, uma opor-tunidade de “empregabilidade”, para permane-cerem no trabalho ou para construírem novasformas de produção, diante de um mundo de tra-balho em reconfiguração. Os idealizadores doPLANFOR propagam, ainda, que esse é umprograma que se justifica na prática, na realida-de e nas necessidades concretas das situaçõesde vida e trabalho das populações com poucaou nenhuma escolaridade, desempregadas ou emrisco de perder o emprego. Por isso, justificamque a maioria das atividades de qualificaçãooferecidas se conduzam para o exercício de ocu-pações tradicionais, as que exigem pouca esco-laridade, ou para o mercado informal, como:cabeleireiro, cozinheira, vigilante, mecânico deautomóvel, garçons, vendedores, trabalhos comserigrafia, ou atividades de artesanatos. Em seusestudos, Salm (1997) constatou que foram jus-tamente essas ocupações as que mais geraram ecriaram empregos na última década. Aliás, cres-cem nos centros urbanos as mais variadas es-tratégias de sobrevivência: comércio ambulan-te, coleta e reciclagem de lixo, hortas comunitá-rias, serviços domésticos, pequenos negócios decaráter familiar, grupos de produção e coopera-tivas.
É preciso, portanto, um olhar mais atentopara o que está acontecendo no mundo do tra-balho, reconhecendo que o fenômeno do desem-prego mobiliza milhares de pessoas a organiza-rem complexas e heterogêneas formas de asse-gurar a satisfação das suas necessidades eco-nômicas. Essas estratégias de sobrevivência, emgeral regionalizadas e localizadas, expressam
370 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Políticas de educação do trabalhador brasileiro como política de desenvolvimento
demandas e necessidades diferenciadas, singu-lares e específicas em suas formas de organiza-ção do trabalho, mesmo integradas, na totalida-de, a uma realidade globalizada (SANTOS,2002; TIRIBA, 1998, 2001; KRAYCHETE;2000; POCHMANN, 2002). Diante da ausên-cia de outras oportunidades de emprego formal,considerando as características das populaçõestreinadas e dos treinamentos, estarão os progra-mas de qualificação servindo ao trabalhadorpara a organização de alternativas de inclusão?Respondem às suas necessidades de vida e tra-balho? Se não atendem às necessidades dessestrabalhadores para que servirão? Como estra-tégia governamental para manutenção e restau-ração da coesão social ameaçada pela exclusãosocial? Como respostas aos interesses dos or-ganismos internacionais? Como tentativa deconciliar o pacto social ameaçado? Essas ques-tões desafiam técnicos e estudiosos do assuntoa observações empíricas e estudos e reflexões,como tentativas de respostas.
Até o ano 2001, as equipe de avaliação doPLANFOR não dispunham de indicadores ca-pazes de avaliar importantes dimensões relati-vas a seus impactos – efetividade – nas condi-ções de vida e trabalho dos seus treinados, e re-flexos nos processos de desenvolvimento esustentabilidade local e regional. Os resultadosdisponibilizados em relatórios forneceram infor-mações sobre o perfil do egresso quanto ao graude instrução, ao sexo, à faixa etária, a raça, arenda, a situação de trabalho, relacionados aoemprego ou desemprego, ao setor de economia,à formalidade do trabalho por ele executado, aosmotivos da procura por determinado curso, e suautilidade, entre outras questões. Essas informa-ções de natureza objetiva, que compõem o ban-co de dados do período de 1996 a 2001, nãoestão sendo suficientes para produzir indicado-res capazes de responder questões subjetivas erelacionadas ao cotidiano do trabalhadorenfocando a superação das situações de pobre-za e exclusão (SAUL, 1998, 1999; PRESTES,1999; YUNUS, 2002; DOURADO, 2001).
Por isso, é de extrema importância que oPLANFOR e a sociedade possam obter infor-
mações mais precisas e minuciosas sobre osimpactos propiciados por seus programas deformação nas condições de trabalho e renda nascondições de vida dos indivíduos treinados. Éimportante, ainda, que possa mensurar e anali-sar a efetividades das suas ações – os reflexosdos cursos de educação profissional – nas con-dições econômicas e sociais das localidades ondese encontram inseridos, dimensionando o alcan-ce das suas propostas. E importante, por fim,ter informações sobre os resultados doPLANFOR na diminuição da pobreza e promo-ção do desenvolvimento local, alguns dos seusobjetivos esperados.
IV - A qualificação como alternativapara o trabalho e o desenvolvimen-to do país
No ano de 1992, a CEPAL e a UNESCOelaboraram um documento denominado Educa-ção e conhecimento, eixo da transformação pro-dutiva com equidade defendendo o papel da edu-cação para o desenvolvimento, o novo modelode sociedade, o novo tipo de cidadão e a incor-poração do progresso técnico no âmbito do novomodelo econômico (ALPIZAR, 2001), reforçan-do os argumentos defendidos no Relatório so-bre Desenvolvimento Mundial e organizado peloBanco Mundial no ano de 1990 (BANCO MUN-DIAL, 1995).
No ano de 1995, este Relatório, denomina-do o Trabalhador e o Processo de IntegraçãoMundial, orientava os países internacionais ainvestirem em capital humano, especialmente emeducação para aumentar a produtividade, atra-ir investimento de capital e elevar capacidadede auferir renda capital. Comentava que a“educação aumenta a capacidade de desempe-nhar tarefas normais, de processar e utilizar in-formações e de adaptar-se a novas tecnologiase práticas produtivas. (...) O incremento do ca-pital humano dos trabalhadores aumenta sua ca-pacidade de auferir renda, porque as economiasorientadas para o mercado recompensam o tra-balhador especializado que é capaz de produzirmais ou de produzir um bem com alto valor de
371Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Emília Maria da Trindade Prestes
mercado” (BANCO MUNDIAL, 1995, p, 42-43).
O conjunto desses documentos demonstravaa necessidade de os países pobres implantaremestratégias com vistas a atingir os novos objeti-vos atualizados de desenvolvimento quais se-jam: crescer, melhorar a distribuição de renda,consolidar os processos democráticos, adquirirmaior autonomia, criar condições para prote-ger o ambiente e melhorar a qualidade de vidade toda a população (ALPIZAR, 2001). No elen-co desses objetivos, sobressaía-se a oferta deserviços básicos aos grupos vulnerareis, vez queo crescimento econômico não havia beneficia-do a maior parte da sua população. Como co-mentava o Relatório do Banco Mundial de 1995,persistia a desigualdade entre indivíduos e gru-pos e “sem igualdade de acesso a bens econô-micos – especialmente educação e especializa-ção – além da discriminação étnica e de sexo,esses grupos não podem tirar partido das novasoportunidades geradas pela mudança econômi-ca”. (BANCO MUNDIAL, 1995, p.47-48)
No caso da América Latina, e do Brasil es-pecialmente, surge uma orientação imperativade incorporar os grupos marginais – analfabe-tos, negros, indígenas, mulheres, portadores denecessidades especiais e jovens sem escolarida-de – a atividades de crescente produtividade,estabelecendo para eles medidas deredistribuição apoiadas por processos educaci-onais. A oportunidade de maior participaçãodesses grupos no sistema educacional passa acompor a idéia da transformação produtiva comequidade. Mas essa concepção de igual oportu-nidade de entrada no sistema educacional nãodescarta a idéia de uma distribuição eqüitativae compensatória, que significa possibilidadedesigual de obtenção de uma educação de qua-lidade aos grupos vulneráveis sem, contudo,deixar de considerar a competitividade.
Um conjunto de destreza e habilidades ne-cessárias para a participação ativa na vida pro-dutiva da sociedade moderna, compreendendoo uso de tecnologias, as capacidades básicas deleitura escritura e cálculo passam a compor onovo quadro das exigências educacionais e com
a necessidade de gerar um conhecimento inova-dor. Surge, nesta perspectiva, uma tríade com-posta por noções de educação, conhecimentocientífico e tecnológico e recursos humanos,diretamente vinculados com o mundo dainformática e das telecomunicações. Os concei-tos de aprendizagem adquirem novos significa-dos e novos desafios, exigindo que os Estadosestabeleçam profundas reformas institucionais,integrando todos os níveis de ensino do sistemae vinculado-os ao mundo da produção e do tra-balho.
Como fator de desenvolvimento, a educaçãopassa a ser conceituada como mecanismo detransformação, uma instituição produtiva e omelhor instrumento de progresso técnico quepode dispor uma sociedade que almeja se de-senvolver. O papel da educação será, sobretu-do, formar a mão-de-obra profissional e técni-ca, necessária ao processo de industrialização ecapaz de possibilitar aos indivíduos adaptarem-se às novas mudanças em processo, aumentan-do-lhes “a capacidade de desempenhar tarefasnormais, de processar e utilizar informações ede adaptar-se a novas tecnologias e práticas deprodução” (BANCO MUNDIAL, 1995, p.42).
No caso do Brasil, o PLANFOR de 1995surgiu como política educativa do governo, paracumprir um papel estratégico naoperacionalização dos novos conceitos e pro-postas internacionais e disseminar concepçõese lógicas de natureza valorativa e/ou axiológicae operacional das políticas mais amplas de de-senvolvimento social adotadas pelo Estado (FA-RIA, 2001).
A aceitação pela sociedade – e pelos orga-nismos internacionais –, dos resultados dessapolítica propicia a legitimidade e a garantia dasua continuidade. Lembra Diniz (1997, p.195)que “o êxito dos programas governamentais re-quer, além, dos instrumentos institucionais e dosrecursos financeiros controlados pelo Estado, amobilização dos meios políticos de execução ea garantia da viabilidade política – estratégiasde articulação de alianças e coalizões –, quedêem sustentação às decisões”.
No caso do PLANFOR, como vimos, a cons-
372 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Políticas de educação do trabalhador brasileiro como política de desenvolvimento
trução de um pacto para a formação do traba-lhador, entre Estado, empresários e representa-ções trabalhistas, parece caminhar no sentidode ajustar, de forma negociada, as políticas deformação aos novos padrões produtivos e com-petitivos. Ao que parece, a necessidade da for-mação do trabalhador para as novas adaptaçõese aprendizagens requeridas no mundo em recons-trução é algo amplamente consensual. Documen-tos do MTE indicam que 10,8% das 79,3 mi-lhões de pessoas componentes da PEA (Popula-ção Economicamente Ativa) são consideradasdesempregadas. Mais de 50% dessas pessoassobrevivem em ocupações informais e insegu-ras, com uma escolaridade média de 3,8 anosde estudos, existindo 11,5 milhões de analfabe-tos ou analfabetos funcionais, dentre os quaisquase 80% não concluíram ou não freqüentamo ensino médio. Essa situação forneceu aoPLANFOR argumentos concretos para ofere-cer educação profissional (incluindo cursos dealfabetização funcional) a cerca de, pelo me-nos, 20% da PEA, para uma população maiorde 16 anos, preferencialmente pessoas desem-pregadas, em desvantagem social ou em “situa-ção de risco de perda do emprego” (PLANFOR,2001/2002, p.2), como forma de ampliar aspossibilidades de “empregabilidade” e de cida-dania.
Apesar dessas propostas, dados contidos nosrelatórios de avaliação do PLANFOR ao longodos seus seis últimos anos de existência6 , indi-cam que muitos dos tipos de cursos e de forma-ção oferecidos parecem não confluir para osprocessos de trabalho esperados pelo Ministé-rio do Trabalho e Emprego. A oferta da forma-ção, baseando-se na demanda e processada pordiferentes entidades da sociedade, como univer-sidades, ONGS, sindicatos, prefeituras e o sis-tema SENAI, SENAC e SANAI, por exemplo,e referendada através das comissões estaduais
e municipais de emprego, é ainda deficiente eprecária. Muitos dos cursos oferecidos são re-petidos anos após anos, sem parecer haver ino-vações nas suas programações e metodologias;a carga horária é deficiente quando comparadaà dos cursos oferecidos regularmente por insti-tuições de natureza profissionalizante – como oSENAI e o SENAC, fatos que contribuem paraque o trabalhador qualificado continue sem es-paço de trabalho ou que trabalhe em ocupaçõesdiferentes daquelas para as quais foram forma-dos. Por isso, é importante questionar: o quesignifica preparar para o trabalho em um mun-do onde a situação do trabalho é cada vez maisincerta? (FRANCO, 1999). O que significa pre-parar o trabalhador em desvantagem social, seas desigualdades continuarão a persistir? Des-providos de trabalho, rendas e informações,muitas são as pessoas que, ao término dessescursos continuam vivendo em uma situação demarginalidade e de exclusão, tanto na esferaprodutiva como na de “ordem social – dos vín-culos sociais - e de cidadania” (BONETI, 2000,p.30) Assim é de se imaginar que a população-alvo do PLANFOR, ao somar os velhos pro-blemas de exclusão aos novos, provenientes dasexpectativas que lhes são apresentadas –irrealizadas - após os treinamentos, sente comoampliadas as suas dificuldades de vida e de tra-balho sentindo-se (tornando-se) duplamente ex-cluídos.
Ainda assim, a cada ano que se inicia, mi-lhares de pessoas com mais de 14 anos, em todoo país, se dispõem a participar dessas ativida-des de qualificação, possivelmente na esperan-ça, de que a qualificação possa ampliar suaschances de trabalho, o que efetivamente vemocorrendo, segundo dados contidos no relatórioda avaliação nacional do PLANFOR.(PLANFOR, 2000). É importante reconhecer,por último, que uma política educativa não éuma “panacéia” capaz de resolver por si mes-ma os graves problemas macroeconômicos. Detodo modo, um Programa que se propõe inovar,que tenta o dialogo com a sociedade e que, emsuas metas iniciais, previa oferecer educaçãoprofissional para cerca de cinco milhões de tra-balhadores, nas habilidades de educação bási-
6 A autora, durante cinco anos – de 1996 a 2000, atuoucomo avaliadora do PEQ/PB - Plano Estadual de Quali-ficação da Paraíba - e, por isso, teve acesso à maioria dosdados e informações relativos à formação do trabalhadorna Paraíba, como também no âmbito nacional.
373Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Emília Maria da Trindade Prestes
ca, habilitações específicas e de gestão; mobili-zando cerca de R$ 400 milhões de reais no ano2000 não deve ser menosprezado. Como enten-dem ELBOJ e OUTROS, “Para combatir (...)pensamientos exclusores, se necesistadessarrolar tanto práticas como teorias alterna-tivas. A menudo se critican las experiencias yteorías transformadoras y se legitiman aquellasque están a favor del poder (…). Bajo el ampa-ro de un pretendido conocimiento técnico,utilizan la cultura y la educación como barreraspara perpetuar las desigualdades. Estas pers-pectivas conservadoras han servido para des-truir ilusiones, desarrollar actitudes racistas,provocar monotonía y desmovilizar aestudiantes, movimientos sociales y profesorado.Necesitamos soñar un mundo mejor” (ELBOJ,2002, p.126-7).
V – Considerações finais
A tendência do atual mercado de trabalho,nas primeiras décadas deste século, segundo oMinistério da Ciência e Tecnologia do Brasil, éde que apenas 25% da população economica-mente ativa do globo, se constituirão de traba-lhadores permanentes, qualificados e protegidospela legislação. Outros 25%, portadores de pou-ca escolaridade e qualificação poderão estar noschamados segmentos informais da economia,enquanto os 50% restantes, correrão o risco deestar desempregados ou subempregados (LivroVerde do Governo Federal, 2000).
Ora, não se põe dúvida na existência de umaacentuada crise de trabalho; no fato de que aeducação e os investimentos não resolverem porsi mesmos os problemas relacionados ao de-semprego estrutural; não se nega que a crise dotrabalho não se resolverá com a oferta de cur-sos/atividades de curtíssima duração e com con-teúdos restritos ao conhecimento imediato, de-sarticulados da reflexão sobre a complexidadedas atuais exigências do mundo do trabalho eda produção. Entretanto, é necessário continu-ar investindo na educação e na utopia.
Se o fortalecimento de um novo padrão dedesenvolvimento referenciado pela tecnologia e
por complexas relações internacionais põe emrelevo a pobreza e a exclusão social, tambémpõe em relevo a luta e a defesa pela diminuiçãoda pobreza, do desemprego e da desigualdade.Osnovos desafios do desenvolvimento globalizadotratam de viabilizar estratégias para as melhoriasdas condições de saúde, nutrição, moradia etransporte, da população e da preservação dascondições ambientais. A educação se apresentacomo uma dessas estratégias.
Os dados da avaliação do PLANFOR, emsuas diferentes dimensões, têm mostrado quemudanças vêm ocorrendo com a população qua-lificada. Significativos são os dados sobre osegressos que dizem ter melhorado sua auto-es-tima, suas relações pessoais e sua segurança,que indicam terem conseguido trabalho, melho-rado a renda. Muitos dizem que se atualizarame outros que agora são capazes de escrever paraas famílias e lerem as indicações urbanas. Sen-tem-se mais seguros e valorizados. Todas essasinformações são signos de mudanças. Comocostuma dizer Ramón Flecha7 , “mudanças de-mandam tempo”. É importante reconhecer quea própria sociedade que planeja e oferece essestreinamentos através de distintas organizaçõesnecessita, também, de tempo para (re)educar-se, mudar e passar a oferecer cursos/treinamen-tos mais compatíveis com as demandas dos gru-pos necessitados de educação. Por vezes, a difi-culdade de se entender como estão se dando, naprática, nas situações micros e localizadas, osprocessos de vida e trabalho de uma populaçãosubmetida às violências de uma realidade con-cretamente excludente, propicia uma leituraequivocada dessa realidade e mascara as pró-prias mediações históricas da relação educação
7 Ramón Flecha é professor investigador da disciplinaSociologia da Educação do Departamento de Teoria So-ciológica, Filosofia do Direito e Metodologias das Ciên-cias Sociais da Universidade de Barcelona, coordenadordo Centro de Pesquisa Social e Educativa - CREA e umdos organizadores das Comunidades de Aprendizagens,uma experiência educativa voltada para superar as desi-gualdades educativas, sociais e econômicas das popula-ção excluídas e que são geradas (ou agravadas) pela so-ciedade da informação.
374 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Políticas de educação do trabalhador brasileiro como política de desenvolvimento
e trabalho. Mascara os resultados de uma polí-tica que pretende oportunizar ao trabalhadorvivenciar, no cotidiano, a sua plena condiçãode cidadão.
Sendo certo que o PLANFOR necessita serrevisto para atingir seus objetivos de eficiência,
eficácia e efetividade social.proclamados, é tam-bém certo que a sociedade deve se empenharpara, em conjunto com o Estado, encontrar es-tratégias capazes de tornar a educação do tra-balhador um fator de desenvolvimento e, sobre-tudo, de inclusão e de cidadania.
REFERÊNCIAS
ALPIZAR, José Solano. Educación y desarrollo en América Latina: un análisis histórico-conceptual.Heredia, Costa Rica: EUNA, 2001.
AMADEO, J. E. et al. A natureza e o funcionamento do mercado de trabalho brasileiro desde 1980. Brasília/Rio de Janeiro, IPEA, 1994 (texto para discussão nº 353). In: BRASIL. Ministério do Trabalho. SEFOR –Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional. Educação Profissional: um projeto para odesenvolvimento sustentado. Brasília, FAT, março de 1999. p.5.
ANDRIOLA, Wagner Bandeira. Evaluación: la vía para la calidad educativa. In: Ensaio: avaliação epolíticas públicas em educação. Rio de Janeiro: Fundação CESGRANRIO, p.343-355, out/dez. 1999.
ANDRADE, Ilza Araújo Leão de. O desenvolvimento sustentável: entre o discurso e a prática. Natal: [s/n], 2001.
AZEVEDO, Janete M. Lins. A educação como política pública. Campinas: Autores Associados, 1997.
BANCO MUNDIAL. O trabalhador e o processo de integração mundial. In: Relatório sobre o desenvolvi-mento mundial. Indicadores do Desenvolvimento Mundial. Washington: BIRD: Banco Mundial, 1995.
BONETI, Lindomar Wessler. Políticas Públicas, Educação e Exclusão Social. In: _________ (coord.).Educação, Exclusão e Cidadania. Unijuí: Unijuí, 2000. p.13-38.
BRASIL. Ministério do Trabalho. PLANFOR/FAT/CODEFAT. Formando o cidadão produtivo. Brasília,1997.
BRASIL. Ministério do Trabalho. Plano Nacional de Educação Profissional: trabalho e empregabilidade.Brasília, 1997.
BRASIL. Ministério do Trabalho. Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional - SENFOR/FAT. Política pública de emprego e renda: ações do Governo. Brasília, 1997.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Secretaria de Políticas de Emprego -SPPE. Guia doPLANFOR 2001. Brasília: MTE: SPPE, 2001.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. Reso-lução n. 258 do CODEFAT / PLANFOR. 2001/2002. Brasília, 2001/2002.
CASTRO, Cláudio de Moura. Trabalho, qualificação e competência. In: ZIELDAS, Selma (org.). Anaisdo Congresso Internacional Educação e Trabalho: Brasil 98. São Paulo: SENAI/SENAC, 1998. p.53-87
DIEESE. Programa de capacitação sindical em formação profissional: Relatório técnico de pesquisa. SãoPaulo, 1996. (mimeografado).
DINIZ, Eli. Crise, reforma do estado e governabilidade. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997.
DOURADO, Luiz Fernando et al. A política de avaliação da educação superior no Brasil, em questão.2001. (mimeografado).
375Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Emília Maria da Trindade Prestes
ELBOJ, Carmen Saso; PUIGDELLÍVOL, Ignacio Aguadé et al. Comunidades de aprendizaje. Transfor-mar la educación. Barcelona: Graó, 2002.
ESCUDERO, Paloma (coordenadora). La responsabilidad de la Unión Europea en la lucha contra lapobreza: claves de la Presidencia española 2002: una evaluación de Intermón OXFAM. España: IntermónOxfam, 2002. (Colección Informes, 22).
EXAME VIP, São Paulo: São Paulo, abr. 1994, p.62.
FARIA, Vilmar Evangelista. A política social no Brasil: uma perspectiva comparada. In: VOGEL, Arbo etal. Políticas públicas de trabalho e renda e controle democrático. São Paulo: UNESP, 2001. p.108.
FERNER, Anthony y HYMAN, Richard (Orgs.). La transformación de las relaciones laborales en Europa.España: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002.
FIDALGO, Fernando. A Formação Professional Continuada. França e Brasil, anos 90. São Paulo: AnitaGaribaldi, 1999.
FRANCO Maria Ciavatta. Formação profissional para o trabalho incerto: um estudo comparativo Brasil,México e Itália. In: FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). Educação e crise do trabalho: perspectivas de final deséculo. Petrópolis: Vozes, 1998. p.167-188
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação, crise do trabalho assalariado e do desenvolvimento; teorias em con-flito. In: _____. (org.) Educação e crise do trabalho: perspectivas de final de século. Petrópolis: Vozes,1998. p.15-47.
HAAN, Arjan de. “Social Exclusion”: an alternative concept for the study of deprivation. IDS bulletin.Poverty and social exclusion in North and South. London, Institute of Development Studies, Sussex, v.29, n.1, p.10-19, Jan.1998.
KRAYCHETE, Gabriel et al. (orgs.). Economia dos setores populares: entre a realidade e a utopia.Petrópolis: Vozes, 2000.
LEITE, Elenice M. Educação Profissional no Brasil: No lomia de uma nova possibilidade. Buenos Aires:UNESCO IIPE: INET, 1995. (mimeografado)
LOOS, Roland. Innovaciones para la integración de personas de baja calificación en la formación perma-nente y el mercado de trabajo: estudios de casos extraídos de seis países europeos. Luxemburgo: CEDEFOP,2002.
LÚCIO, Clemente Ganz: SOCHACZEWSKI, Suzana. Experiência de elaboração negociada de uma polí-tica de formação profissional. Educação e Sociedade. Competência, Qualificação e Trabalho. Campinas,v.19, p.88-104, set. 1998. (Especial, 64).
MACHADO, Lucilía Regina de Souza. Eficácia, eficiência e efetividade social na implementação dosPEQs. In: Anais do Seminário Nacional sobre avaliação do PLANFOR: uma política pública de educaçãoprofissional em debate. Cadernos UNITRABALHO. São Carlos, 1999. p.93-102.
MANFREDI, Silvia Maria. Trabalho, qualificação e competência profissional – das dimensões conceituaise políticas. Educação e Sociedade. Competência, Qualificação e Trabalho. Campinas: CEDES, v.19, nú-mero especial 64, setembro.1998. p.13-49.
MEHEDEFF, Nassim Gabril. Questões críticas da educação brasileira: consolidação de propostas e subsí-dios para ações nas areas da tecnologia e da qualidade. Brasília: Ministério do Trabalho, 1995
OLIVEIRA, Dalila Andrade. Educação Básica: gestão do trabalho e da pobreza. Petrópolis: Vozes, 2000.
PAIVA, Vanilda. Educação Popular e Educação de Adultos. São Paulo: Loyola, 1973.
_____ et al. Qualificação, consumo e estilos de vida. In: LEITE, Márcia Trabalho et al. (orgs). Qualifica-ção e formação profissional. São Paulo: Rio de Janeiro: ALST, 1998. p.48.
376 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 361-376, jul./dez. 2002
Políticas de educação do trabalhador brasileiro como política de desenvolvimento
POCHMANN, Márcio. (Org.) Desenvolvimento, trabalho e solidariedade: novos caminhos para a inclu-são social. São Paulo: Fundação Perseu Abramo: Cortez, 2002.
PRESTES, Emília Maria da Trindade. Repensando o conceito de educação profissional, empregabilidadee competência no estado da Paraíba: tentativa de um avanço metodológico. In: UFPb/CCSA/CME/PPGE-CE. Plano Estadual de Qualificação Profissional. Avaliação do PEQ/PB -1997, João Pessoa: [s/n.], 1998.p.86-98. (documento digitado)
_____. Avaliação do PLANFOR: reflexões sobre fundamentos e metodologias. In: Anais do SeminárioNacional sobre avaliação do PLANFOR: uma política pública de educação profissional em debate. Cader-nos UNITRABALHO. São Carlos, 1999. p.41-56.
_____. Políticas educacionais para o trabalho em contexto populares. In: SCOCUGLIA, Afonso Celso eMELO NETO, José Francisco. Educação popular: outros caminhos. João Pessoa: Editora UniversitáriaUFPB, 1999. p.153-168.
_____ ; MADEIRA, Vicente de Paulo Carvalho. Contexto sócio-político e educação popular. O caso daCruzada ABC. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2001.
ROCHE, Chris. Avaliação de impacto dos trabalhadores de ONGS: aprendendo a valorizar as mudanças.São Paulo: Cortez, 2000.
SCHMIDT, Benício Viero. O Estado, a nova esquerda e o neocorporativismo (dilemas também da educa-ção). Brasília, CEPPAC/UnB, 2001. (mimeografado).
SANTOS, Boaventura dos (Org). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio deJaneiro: Civilização Brasileira, 2002.
SAUL. Ana Maria. Avaliação participante. Uma abordagem crítico transformadora. In: RICO, ElizabethMelo (org). Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate. São Paulo: Cortez, 1998.
_____. Metodologia de avaliação: um processo em questão.In: Anais do Seminário Nacional sobre avali-ação do PLANFOR: uma política pública de educação profissional em debate. Cadernos UNITRABALHO.São Carlos, 1999. p.67-74.
TAKAHASHI, Tadao (org.). Sociedade de informação no Brasil: Livro Verde do Governo Federal, Brasília:Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000.
TIRIBA Lia Vargas. Economia popular e produção de uma nova cultura do trabalho: contradições edesafios frente à crise do trabalho assalariado. In: FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). Educação e crise dotrabalho: perspectivas de final do século. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 189-216.
_____. Economia popular e cultura do trabalho. Pedagogia(s) da produção associada. Ijuí: Editora Unijuí,2001.
YUNUS, Muhammad com Alan Jolis. O banqueiro dos pobres. São Paulo: Ática, 2002.
Recebido em 08.11.02Aprovado em 21.03.03
377Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 377-382, jul./dez. 2002
Lanara Guimarães de Souza
Na formulação de políticas públicas para aeducação e programas destinados à melhoria daqualidade do ensino brasileiro, é possível dis-tinguir dois enfoques; por um lado, os de orien-tação redistributiva ou assistencial, que depen-dem da transferência de recursos externos e querequerem que estes fundos se utilizem proveito-samente, mediante uma gestão eficiente eparticipativa de todos os segmentos educacio-nais. Por outro lado, também é possível formu-lar outros tipos de políticas, cujo objetivo es-
sencial seja impulsionar a descentralização daeducação, como a municipalização, cujos resul-tados podem criar fontes endógenas de desen-volvimento educacional e crescimento econômi-co a partir de estratégias e iniciativas locais dedesenvolvimento.
Estes dois enfoques têm raízes históricas. NoBrasil, o desenvolvimento econômico local sur-giu como produto de posicionamentos impulsi-onados a partir dos governos centrais, e nãocomo conseqüência de iniciativas territoriais
* Pedagoga e especialista em Gestão e Planejamento Educacional pela FAEEBA – UNEB; aluna do Mestradoem Educação e Contemporaneidade - UNEB, da linha de pesquisa: Educação, Gestão e DesenvolvimentoLocal Sustentável; diretora do Núcleo de Tecnologia Educacional 15 – SEC/Ba. Endereço para correspon-dência: Caminho13, n. 07, Gleba C - 42800-000 Camaçari – Bahia. E-mail: [email protected]
DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL EM POLÍTICAS
PÚBLICAS EDUCACIONAIS DE MUNICIPALIZAÇÃO
Lanara Guimarães de Souza ∗
RESUMO
Este artigo discute alguns aspectos do processo de municipalização da educaçãona perspectiva do desenvolvimento local sustentável. Mostra a importância dadescentralização política e administrativa – no e pelo município- fomentando aação participativa da sociedade local.
Palavras-Chave: Municipalização – Desenvolvimento – Participação –Descentralização
ABSTRACT
SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL PUBLICPOLITICS OF MUNICIPALIZATION
This article discusses some aspects of the process of municipalization of educationin the perspective of the sustainable local development. It shows the importance ofthe political and administrative decentralization – in the and by the municipality -encouraging the participative action of the local society.
Key words: Municipalization – Development – Participation – Decentralization
378 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 377-382, jul./dez. 2002
Desenvolvimento local sustentável em políticas públicas educacionais de municipalização
geradas “desde baixo”, capazes de impulsionaratividades de fomento produtivo e empresarialno momento em que as condições econômicas einstitucionais estavam experimentando umamudança radical. As discussões em torno destatemática travavam-se “entre uma corrente quedefendia o liberalismo econômico, preocupadaem garantir a “vocação agrária” do Brasil, euma corrente desenvolvimentista, que pregavaa intervenção do Estado na economia paraimplementar a industrialização no país”(MANTEGA, 1987, p.12).
Os estudos de caso nos países desenvolvi-dos mostram que, nestas duas últimas décadas,ocorreram algumas experiências de desenvolvi-mento local surgidas de forma espontânea e dis-persa, segundo Acselrad (1999), apesar de ne-cessitarem de apoio ou estímulo por parte dasinstâncias centrais de governo, as quais têm dadoprioridade absoluta (e, em certas ocasiões, qua-se exclusiva) ao controle dos grandes equilíbri-os macroeconômicos, como se deles dependes-se a solução de todos os problemas.
A partir dos anos setenta e oitenta, a crise domodelo de desenvolvimento fordista acabou des-pertando maior interesse na reflexão sobre asiniciativas de desenvolvimento econômico local,ao questionar a visão do processo de desenvol-vimento econômico em que fomos educados, aqual tende a simplificá-lo como se se desenvol-vesse unicamente pela via do modeloconcentrador baseado na grande indústria e nosgrandes núcleos urbanos.
Foram constatadas igualmente as limitaçõesdas políticas macroeconômicas formuladas apartir das instâncias centrais, quando se tratade conseguir um crescimento mais equilibradoterritorialmente, mais eqüitativo do ponto devista da distribuição da renda, maisambientalmente sustentável e, em suma, comcapacidade para impulsionar o desenvolvimen-to humano e elevar a qualidade de vida das pes-soas, o que inclui a qualidade da educação.
No caso do Brasil, a história do poder admi-nistrativo está marcada por constantes oscila-ções entre o maior e o menor grau de centrali-zação e descentralização, especialmente no cam-po educacional e quase sempre preso às mu-
danças dos interesses políticos e/ou econômi-cos. Hoje, “a descentralização neoliberal temcomo base uma filosofia individualista, e é im-portante diferenciá-la das propostas de demo-cratização do sistema sustentada pelos setoresdemocráticos e progressistas” (BIANCHETTI,1999, p.104). O município vem sendo relegadoa segundo plano no contexto das políticas naci-onais desde longa data, com mínima autonomiaadministrativa e financeira, embora o desenvol-vimento municipal seja um dos modelos de de-senvolvimento local.
O desenvolvimento municipal é uma resultantedireta da capacidade de os atores e de a socieda-de locais se estruturarem e se mobilizarem, combase nas suas potencialidades e na sua matrizcultural, para definir e explorar as oportunida-des, buscando a competitividade num contextode rápidas e profundas mudanças. (BUARQUE,1999, p.17)
Vivemos um momento histórico em que opêndulo da descentralização passa a prevalecersobre o da centralização, predominante nas úl-timas décadas. Isto porém não significa que nesteperíodo não tenha havido tentativas dedescentralização. A diferença é que, na situa-ção presente, busca-se uma descentralizaçãodemocrática e participativa, como por exemploas estratégias de municipalização da educação,o que não ocorreu anteriormente.
Assim, na prática, a relação entre a educa-ção e o processo de desenvolvimento econômi-co local e municipal supõe: 1) desenvolvimentolocal sustentável; 2) políticas públicas demunicipalização da educação.
I. DESENVOLVIMENTO LOCAL SUS-TENTÁVEL
O desenvolvimento local sustentável é umprocesso interno de uma determinada localida-de capaz de proporcionar a melhoria das condi-ções de vida da sociedade, respeitando os limi-tes e as possibilidades dos seus recursos natu-rais. É caracterizado como “um processoendógeno registrado em pequenas unidadesterritoriais e agrupamentos humanos, capaz depromover o dinamismo econômico e a melhoria
379Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 377-382, jul./dez. 2002
Lanara Guimarães de Souza
da qualidade de vida da população”, na expres-são de Buarque (1999, p.34).
A proximidade dos problemas, necessidades,recursos e atores sociais locais permite formu-lar políticas mais realistas e, sobretudo, basea-das no consenso com tais atores, capazes de “in-troduzir modalidades de ação nas quais os ato-res tenham maiores margens de autonomia nasdecisões” (CEPAL, 1990, p.917). Igualmente,se abre a possibilidade de promover a criaçãonegociada de instituições de fomento produtivoempresarial em nível local, de gerar um climade confiança e cooperação entre entidades pú-blicas e setor privado empresarial, e de estimu-lar assim uma cultura local de desenvolvimen-to. Deste modo, a identidade própria de cadaterritório se converte em sustentação de seu de-senvolvimento social e educacional.
Portanto, nesse nível, o desenvolvimento é oresultado do compromisso de uma parte signifi-cativa da sociedade local e de mudanças bási-cas em suas atitudes e comportamentos, o quepermite substituir a concepção tradicional de“espaço” (como simples cenário físico) pela deum contexto social de cooperação ativa (um “ter-ritório”).
Seguindo essa linha de reflexão, deve-se des-tacar que, para promover o desenvolvimento deum território determinado (seja uma região, pro-víncia, distrito ou grupo de distritos), é neces-sário pesquisar sobre o grau de aproveitamentode seus recursos e potencialidades endógenas.
Assim, o desenvolvimento local sustentávelpode ser entendido como aquele processoreativador da economia e dinamizador da soci-edade local que, mediante o aproveitamento efi-ciente dos recursos endógenos disponíveis emuma zona determinada, é capaz de estimular seucrescimento econômico, criar emprego e melho-rar a qualidade de vida duma comunidade lo-cal.
A realização do potencial endógeno é, porconseguinte, um dos fatores que define o desen-volvimento local. Da mesma forma, um projetodesse tipo deve ser assegurado mediante amobilização da população local e sua partici-pação na formulação e na implementação dasiniciativas de desenvolvimento.
As crescentes exigências no tocante à pro-dutividade e competitividade que devem aten-der às empresas, assim como os maiores níveisde exposição externa que enfrentam as econo-mias, como resultado do processo deglobalização, são desafios dos quais a educa-ção é a chave principal. Em face desse estadode coisas, é preciso negociar entre o setor pri-vado, a administração pública e o restante dosatores sociais regionais e locais, a criação deum “ambiente inovador”, sócio-institucional,que assegure a qualificação da educação glo-bal.
Da mesma maneira, na medida em que a edu-cação e, portanto, a qualidade dos recursos hu-manos, passa a ser o fator estratégico funda-mental para a criação de vantagens competiti-vas (o qual está vinculado, por sua vez, à quali-dade das políticas de saúde, higiene, educaçãoe capacitação, assim como do equipamento bá-sico de infra-estrutura), a criação negociadadesse ambiente institucional e social inovadorse torna decisiva para o desenvolvimento regio-nal e local.
Isso também significa que as políticas soci-ais (dentre elas as educacionais) não podem sercontempladas unicamente como políticas“assistenciais” ou “redistributivas” cujo objeti-vo é corrigir os desequilíbrios que o funciona-mento das economias de mercado gera, já quesão consubstanciais com a formação de recur-sos humanos e, por conseguinte, um fator noqual se fundamenta a inovação tecnológica eorganizativa baseada no conhecimento.
Hoje o capital estratégico é o “conhecimen-to” construído pelo fator educacional incorpo-rado às atividade econômicas, o qual dependeda “arquitetura” social e territorial que combi-nem e construam os atores sociais públicos eprivados. A descentralização política se converteassim em uma ferramenta determinante para odesenvolvimento local, ao facilitar a criação deespaços de negociação estratégica com os seto-res públicos e privados e com os demais atoressociais territoriais.
Deste modo, surge também uma lógica dedesenvolvimento endógeno, mais horizontal eterritorial que a tradicional lógica vertical e
380 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 377-382, jul./dez. 2002
Desenvolvimento local sustentável em políticas públicas educacionais de municipalização
setorial da organização clássica do aparelho doEstado, cada vez mais disfuncional com rela-ção às exigências da nova revolução tecnológicae dos desafios que devem enfrentar as organiza-ções sociais.
Como fonte determinante desse ajuste, estãoa globalização e o desenvolvimento local, doispólos de um mesmo processo complexo e con-traditório, exercendo forças de integração e de-sagregação, dentro do intenso jogo competitivomundial. Ao mesmo tempo em que a economiase globaliza, integrando a economia mundial,surgem novas e crescentes iniciativas no nívellocal, com ou sem integração na dinâmica in-ternacional, que viabiliza processos diferencia-dos de desenvolvimento no espaço.
A globalização tem um efeito dialético so-bre a organização do espaço social. De um lado,demanda e provoca um movimento de unifor-mização e padronização dos mercados e produ-tos como forma de integrar os mercados; poroutro lado, também provoca a diversificação ea flexibilização das economias e dos mercadoslocais, cria e produz diversidades, integrandoos valores globais com os padrões locais, arti-culando o local ao global. O global se alimentado local.
Pensando globalmente e agindo localmenteé que a municipalização assegura uma formamais eficaz de descentralização administrativadas políticas e dos mecanismos de intervençãopública para o plano municipal, com transfe-rência efetiva da capacidade decisória para omunicípio.
II. POLÍTICAS PÚBLICAS DEMUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
A municipalização da educação não é umtema novo, mas tem sido alvo de interesse dosgovernos municipais e está presente em diver-sos debates educacionais, trazendo à tona a ques-tão da descentralização política, administrativae financeira e sua possível vinculação com amelhoria na qualidade de ensino, auniversalização da educação fundamental e ademocratização da gestão escolar.
Assim como qualquer política pública, a
municipalização não é uma questão isolada, masestá intimamente ligada ao papel da sociedade,e ao tipo de organização política e social do es-tado brasileiro. Toda essa discussão tem recru-descido como reflexo de um estado agigantado,de difícil governabilidade e ineficaz, especial-mente nas áreas econômicas e sociais. Isso im-plica dizer que, sem uma reestruturação do es-tado brasileiro capaz de proporcionar maiorparticipação social, a municipalização não pas-sará de uma forma de centralização camuflada.
Essa participação, pelo menos no discurso,tornou-se hegemônica na cultura política brasi-leira recente, ou seja, deixou de ser exclusivados movimentos sociais e dos partidos de es-querda e passou a ser incluída nas propostas dediversos governos, independente de sua orienta-ção ideológica. Com o retorno da democraciarepresentativa, a partir das eleições diretas paraprefeitos das capitais, e o fim do regime militar,o ideal da gestão participativa toma fôlego. Aprópria Constituição de 1988 incorpora o prin-cípio da participação popular na administraçãopública.
Desde então, o exercício democrático dopoder – numa perspectiva de autogestão no epelo município – pode se viabilizar na medidaem que forem levados em conta a realidade e osrecursos de cada município, dentro das suas li-mitações, e que seja ampliada a cidadania polí-tica, estabelecendo mecanismos de reforço ainiciativas populares. Mesmo que o processo demunicipalização parta de iniciativa e liderançamunicipal, sua concretização reclama apoio eparticipação dos organismos educacionais dasociedade, já que o Estado aprecia a participa-ção apenas enquanto fonte de justificação ideo-lógica, ou seja, enquanto não atrapalha os seusinteresses.
Os princípios que regem a municipalizaçãoe uma efetiva participação popular são temasamplamente discutidos no momento histórico,político e social que vivemos: reforma adminis-trativa e articulação entre as esferas de gover-no; reforma tributária ampla e urgente;descentralização do ponto de vista político ad-ministrativo e financeiro; gestão democrática e
381Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 377-382, jul./dez. 2002
Lanara Guimarães de Souza
participativa; daí a importância de alimentar,cada vez mais, o debate sobre esse assunto den-tro e fora dos meios acadêmicos.
Municipalizar a educação não é transferirde uma rede de ensino estadual para uma redede ensino municipal as escolas de ensino funda-mental, repassando a responsabilidade adminis-trativa, pedagógica e financeira desse setor paraa equipe da Secretaria de Educação do Municí-pio. Em outras palavras, não é trocar a centra-lização da rede estadual pela centralização darede municipal; isso seria o que Mello (1988,p.66) chama de “prefeiturização da gerência doensino”
Municipalização sem participação popular éfarsa. Proporcionar aos sujeitos educacionais (alu-nos, educadores, pais, etc.) condições efetivas depropor, decidir e avaliar as políticas educacionaismais adequadas a sua realidade é, acima de tudo,aprimorar o exercício da cidadania e da democra-tização dos espaços políticos locais.
A democracia é a forma de governo que, den-tre todas as conhecidas pelo homem, possibilitamaiores condições de flexibilização e sustentaçãode uma gestão participativa, e a municipalizaçãodo ensino é, certamente, uma estratégia da demo-cracia para garantir a universalização do bem es-tar social ao educando, diretamente, e à toda soci-edade, indiretamente.
Sendo a descentralização do poder prerro-gativa básica para um governo democrático,constitui-se, por conseguinte, como critério pararepartição de competências e atribuições entreas esferas de governo e a sociedade para com aeducação. Uma administração descentralizadasó existe de fato quando os órgãos locais nãodependem, hierarquicamente, da administraçãocentral do estado, mas é autônoma administra-tiva e financeiramente. Dessa forma, passandoaos municípios a responsabilidade pela educa-ção fundamental básica, está-se contribuindoconcretamente para a própria democratizaçãoda sociedade.
Um dos cuidados necessários ao municípioem seu esforço de autogestão, certamente passapela precaução com a descentralização que vemdo centro. Diz Mello (1988, p.6) que “(...) o
autoritarismo e a centralização do estado brasi-leiro não se manifestam apenas pela concentra-ção do poder do âmbito do Executivo Federal,mas em termos de educação, o autoritarismo semanifesta também quando se encontra no Exe-cutivo, sobretudo, da União, o poder de decidiro que e como descentralizar.”
A dicotomia centralização-descentralizaçãosempre acompanhou o Brasil ao longo de suahistória em que a primeira vem marcando pre-sença bem maior que a segunda. Essa vocaçãopolítico-administrativa centralizada é herançacolonial que sobreviveu no Império e continuano Regime Republicano.
Alcançar a descentralização não é um obje-tivo fácil visto às resistências que a ela se opõem.A descentralização administrativa, de certa for-ma, gera uma perda de poder, podendo vir mui-tas vezes mascarada, não passando, na prática,de mera desconcentração do poder. Enquanto adescentralização se constitui em forma amplade distribuição de competências acompanhadada devida autonomia para exercê-las adminis-trativamente, a desconcentração é uma formalimitada de distribuição de poderes tanto quan-to a sua autonomia, quanto a seu conteúdo, poisdesconcentram-se os poderes predominantemen-te executivos e mantém-se o controle hierárqui-co sobre os órgãos desconcentrados.
É importante também diferenciar a concen-tração e a desconcentração de competências. Aadministração está concentrada quando o supe-rior da hierarquia é o único competente paratomar decisões, limitando-se os agentes dos es-calões subalternos a informar e executar. A ad-ministração está desconcentrada quando, emtodos ou em alguns graus inferiores dos servi-ços, há chefes com competência para decidirimediatamente, embora sujeitos à direção e àsuperintendência dos superiores.
Conclui-se, no entanto, que a descon-centração não atinge, em principio, a estruturados serviços na medida em que se refere apenasà competência dos respectivos chefes. Assim,há uma clara distinção entre centralização,desconcentração e descentralização. Na centra-lização total, o Estado, por meio de seus servi-
382 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 377-382, jul./dez. 2002
Desenvolvimento local sustentável em políticas públicas educacionais de municipalização
ços centrais, assegura todas as missões admi-nistrativas. Todas as decisões revestidas decerta importância são tomadas pelos serviçoscentrais. Os serviços locais do estado têmcomo única tarefa executar as ordens ou ins-truções vindas da capital.
Na desconcentração, as missões de servi-ços públicos são confiadas a células adminis-trativas que dependem, hierarquicamente, dasautoridades governamentais. Há uma certadiluição quanto ao poder de decisão. O go-verno central não reserva a si todas as toma-das de decisão.
Na descentralização, há autonomia de ges-tão, que consiste no poder de praticar atosadministrativos independentes de aprovaçãosuperior. Esses atos não são dependentes docontrole hierárquico e só são revogáveis porrecursos aos tribunais administrativos.
Em síntese, as políticas públicas para a educa-
ção devem ser concebidas como parte das políti-cas de desenvolvimento social e econômico-tecnológico, tendo como condições fundamentaispara a sua estruturação o adequado nível de quali-ficação da força de trabalho local; a diversifica-ção do tecido produtivo do território; a dotação deinfra-estrutura básica; e a mobilização, coesão ecultura inovadora da sociedade local.
Há que se considerar que a descentralizaçãopor si só nada resolverá. Não há soluções mági-cas para os desvios históricos. Outras reformasdevem ser encaminhadas para torná-la possí-vel. Delas destacam-se a consolidação do ajus-te econômico, com uma distribuição de rendamais justa e equânime, e as reformas no serviçopúblico, com um melhor sistema de controle emenos burocracia. Espera-se que, no bojo des-te, se faça também o ajuste das políticas sociaisque possam reduzir os índices de pobreza e ex-clusão social no país.
REFERÊNCIAS
ACSELRAD, Henry. A construção da sustentabilidade: uma perspectiva democrática sobre o debate euro-peu. Cadernos de Debate Brasil Sustentável e Democrático, Rio de Janeiro, n. 4, p.46-53, 1999.
BIANCHETTI, Roberto G. Financiamento e Descentralização. In: _____. Modelo neoliberal e políticaseducacionais. 2. ed., São Paulo: Cortez , 1999. p.104-113.
BUARQUE, Sérgio C. Metodologia do planejamento do desenvolvimento local e municipal sustentável.2.ed. Recife: IICA, 1999.
CEPAL. Transformação produtiva com equidade. A tarefa prioritária do desenvolvimento da AméricaLatina e do Caribe nos anos 1990. Santiago, [s. n.], 1990.
MANTEGA, Guido. A economia política brasileira. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 1987.
MELLO, Guiomar Namo de. Sobre a municipalização do ensino de 1º Grau. ANDE, São Paulo, v. 7, n.13, p.14-21, 1988.
SOARES, José A. e CACCIA-BAVA, Silvio. Os desafios da gestão municipal democrática. São Paulo:Cortez, 1998.
Recebido em 24.10.02Aprovado em 28.02.03
383Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 383-389, jul./dez. 2002
Alfredo Eurico Rodriguez Matta
TRANSURBANIDADES E AMBIENTESCOLABORATIVOS EM REDE DE COMPUTADORES
Alfredo Eurico Rodríguez Matta ∗
RESUMO
O artigo trabalha a questão das comunidades em rede. São comunidades depráxis, de aprendizagem, de convivência e outras, que têm criado alternativasde interação concorrentes, interatuantes e influentes sobre a clássica urbanida-de física e geográfica, criando organizações e espaços de convivência paralelose em rede, que facilitam entendimentos, experiências e participações em proble-máticas muitas vezes distantes do processo urbano local, o que estaria possibi-litando a construção da transurbanidade e de intercomunidades.
Palavras-chave: Tecnologias Intelectuais – Urbanidades – Sociedade em Rede
ABSTRACT
TRANS-URBANITIES AND COLLABORATIVE ENVIRONMENTSIN COMPUTER NETWORKS
The article tackles the question of the network communities. They are praxiscommunities, of learning, coexistence and others, which have created concur-ring integration alternatives, interacting with and influencing the classic physi-cal and geographical urbanity, creating organizations and spaces of coexist-ence, parallel and in a network, which facilitate understandings, experiencesand participations in debates that are often distant from the local urban process.That would make the construction of trans-urbanities and inter-communitiespossible.
Key words: Intellectual Technologies – Urbanities – Network Society
∗ Doutor em Educação; professor/pesquisador da Universidade Católica do Salvador - UCSAL; FundaçãoVisconde de Cairu - FVC; e Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Endereço para correspondência:Rua João Fróes n. 200, ap. 421, Ondina – 40170.040 Salvador/Bahia. E-mail: [email protected]
Introdução
Desde as primeiras manifestações do que seconvencionou chamar de civilização, a humani-dade teve nas cidades e na relação de urbanida-de o principal centro social de convívio e de
interação política de sua vida e do seu cotidia-no.
O nascimento da cidade permitiu a forma-ção de grupos de cooperação que, embora cria-dos a partir da divisão de trabalho e de funçõessociais próprias da urbe, estavam reunidos pe-
384 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 383-389, jul./dez. 2002
Transurbanidades e ambientes colaborativos em rede de computadores
los objetivos comuns da vida comunitária einterdependente, ainda que, muitas vezes, sobtensão e conflito, já que as coincidências do ter-ritório da residência e centro geográfico de con-vívio, poucas vezes estão acompanhadas do in-teresse pelo conviver ou compartilhar projetos eafetividades. A cidade se consolidou, então, comocentro de convivência e manifestação do inte-resse e das inter-relações de caráter coletivo,assim como em palco privilegiado para cons-truções sociais, disputas, conflitos e testemunhoda história comunitária.
Assim sendo, as cidades nasceram para apolítica, e sempre tiveram na função adminis-trativa uma de suas vocações mais evidentes.As primeiras cidades sempre foram capitais,centros de decisão e poder, e hoje não é diferen-te: a concentração populacional, da produção edos serviços, cria condição para que nela estejao poder e o governo constituído. São, portanto,as cidades que têm o papel de capitais dos impé-rios, dos países, dos estados, das províncias edos departamentos, ou, ao menos, de sede admi-nistrativa dos municípios. A cidade se notabili-zou como o centro das decisões e da administra-ção dos grupamentos humanos mais diversos.
Essa posição de centro de convivência e de-cisões jamais foi questionada, ou pensada comopossível em outro meio que não o urbano. Des-de a emergência das primeiras cidades, elas sem-pre foram o centro de tudo. No final do séculoXX, porém, o surgimento de uma sociedadeinformatizada, assim como dos ambientes deconvívio em rede, produziram uma série de co-munidades, reunidas em centros virtuais e am-bientes eletrônicos, mas capazes de construir umconvívio real, de decisões com influências con-cretas, que acabaram por extrapolar o clássicodesenho de convivência e política urbana crian-do, pela primeira vez, na história possíveis co-munidades transurbanas.
Este artigo trata, ainda que de forma preli-minar, da análise da formação desses centrostransurbanos, comunidades de interesse e con-vivência, cuja motivação para a formação são ointeresse, o desejo e a determinação de conviverde seus membros, e não a coincidência geográ-
fica de território e região física de residência, edivisão de recursos produtivos.
Propõe-se assim um exame das alteridades epossibilidades desses novos centros de convivên-cia, poder e administração humana, as comuni-dades em rede.
Convivência, participação e ur-banidade
São muitos os estudos sobre a urbanidade eseu papel na sociedade humana. Podemos ad-mitir, a princípio, que a cidade tem sido o cen-tro das relações sociais humanas desde que sur-giu entre 5.000 a 10.000 anos atrás.
Como bem explica Milton Santos (1994), acidade é uma organização voltada para a pro-dução coletiva. Mesmo que aparentementedesordenada, confusa, a cidade é sempre umconjunto bem articulado de equipamentos e so-luções urbano-produtivas.
É nesse sentido que estão sobrepostos inte-resses e temporalidades. Bairros e estruturasmais antigas vão convivendo com asobreposição de novas urbanidades e funçõesprodutivas. De qualquer maneira, não é muitodifícil perceber a contradição existente nas ci-dades: por um lado, trata-se de uma construçãohistórica coletiva, um conjunto organizado depaisagens e equipamentos que caminham paraa realização da convivência comunitária; poroutro lado, a concorrência de grupos e das mes-mas paisagens pela conquista de espaços noconjunto da urbe (SOUZA, 2000;ZAJDSZNAJDER, apud BINSZTOK eBENATHAR, 1979; PEDRÃO, 1993).
Foi nessa contradição entre a cooperação ea concorrência que as urbanidades, desde seusprimórdios, construíram seu papel fundamentalde debate político e direcionamento administra-tivo e produtivo.
A urbanidade se tornou o espaço para fórunsprivilegiados de todos os debates e construçõessociais. Não é difícil demonstrar que os princi-pais debates das ciências, da educação, da higi-ene e saúde, da legalidade e das leis e de qual-
385Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 383-389, jul./dez. 2002
Alfredo Eurico Rodriguez Matta
quer outro aspecto social, sempre se deram viafóruns de debates e práticas sociais urbanas.Refiro-me aqui não somente aos fóruns oficiaise espaços de governo formal. É necessário quetenhamos a visão de Gramsci sobre as institui-ções urbanas e seu papel na construção social(GRAMSCI, 1978). Assim, um hospital, umaescola, um terminal rodoviário, são todos cen-tros de convivência e de debate político, não sóaqueles de caráter explícito, mas também, e prin-cipalmente, outros, fruto da convivência e douso cotidiano dos equipamentos e paisagensurbanas. Cada atitude, cada movimento pesso-al ou em grupo, cada opção são elementos dedebate e construção social-urbana.
A cidade permaneceu quase absoluta comopalco privilegiado desses debates e construçõesda História até recentemente. A emergência dasnovas tecnologias da informação, dos novosmeios e técnicas de comunicação, e, principal-mente, dos ambientes tecnológicos de convivên-cia em rede, desde o final do século XX, tempossibilitado o surgimento de formas alternati-vas de construção e de debate social, que quasese aproximam de uma conspiração capaz deoferecer às comunidades de diferentes localida-des, ambientes de construção social supra-ur-bana, e supralocais, embora influentes em cadalocalidade.
O debate urbano, com raras e fracas exce-ções, sempre foi situado no contexto da urbani-dade mesma. Acontece que a interação e a con-vivência capaz de legitimar as construções so-ciais sempre se dão na comunidade de contatoimediato de cada sujeito. Os raros contatos porcorrespondência, telefone ou telégrafo, em via-gens, ou mesmo recentemente a partir da televi-são, não são freqüentes, não têm continuidade,nem atualidade, e nem a possibilidade depluriparticipação cotidiana e contínua, neces-sárias ao envolvimento nos debates e constru-ções sociais, propriedades que só eram obtidasno contexto do cotidiano urbano. A sociedadeem rede consegue produzir estas característicasessenciais da construção social em rede, tornan-do possível uma certa transurbanidade, forma-
da por comunidades compostas por identidadesnão territoriais ou citadinas, que permitem odebate e as construções sociais em outros ní-veis que não o urbano, e capazes de dar vidaaos muitos exemplos atuais de política e gover-no eletrônico.
A sociedade em rede: novo fórumde debates, construções políticase ações de governo
Nos últimos 50 ou talvez 60 anos, a humani-dade testemunhou o crescimento avassalador dastecnologias da informática e das comunicações.Esse crescimento, além de resultar na inserçãodessas tecnologias em quase todos os camposde atuação e relação humanas, deu condição paraque um ambiente de convivência em rede eletrô-nica provocasse algumas novidades quanto àspossibilidades de convivência e organização co-munitária dos seres humanos (MATTA, 2001)
Pierre Levy (1993), muito propriamente,identifica o funcionamento da sociedade em rede,chamando-a de sociedade do conhecimento, fun-cionando a partir da base material possibilitadapelo ambiente em rede.
Muitos estudiosos chegam a afirmar que vi-vemos a emergência de um período pós-moder-no. Não compactuamos exatamente com estaidéia, por pensarmos que a modernidade é ca-racterizada pela hegemonia da sociedade capi-talista, de seu modo específico de produção, edo conjunto de idéias que sustentam tal socie-dade; no entanto, é inegável que algumas trans-formações provocadas pelo novo ambiente rom-peram com os clássicos padrões de relaciona-mento e interação vividos principalmente noambiente comunitário urbano, para galgar no-vas formas e dimensões, criando possibilidadepara novas construções sociais e até mesmo paranovas relações produtivas.
A rede Internet, mundializada graças à baseinstalada de computadores, possibilitou que fos-sem construídas grandes séries de comunidadesque se encontram e trabalham virtualmente. AInternet foi criada, desde o início, com uma vo-
386 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 383-389, jul./dez. 2002
Transurbanidades e ambientes colaborativos em rede de computadores
cação comunitária. Embora a primeira comuni-dade criada tenha sido composta para fins mi-litares, a rede rapidamente evoluiu para abrigarcomunidades científicas, comerciais, educacio-nais, de entretenimento e outras(NEGROPONTE, 1996; CANTON, 2001). Defato, em pouquíssimos anos, se formaram mi-lhões de sociedades e comunidades que nada têmde virtual, mas que se encontram no ambientevirtual.
É importante perceber que, apesar de teremum encontro virtual, assíncrono e independenteda posição geográfica, as comunidades são re-ais e não virtuais, e seus efeitos e influência sãoconcretos. Cria-se assim um conjunto de orga-nizações comunitárias supra-urbanas e mesmosupranacionais. É evidente que cada comunida-de de aprendizagem, ou cada comunidade di-versa de práxis, ou qualquer outra comunidadeque se realize nas redes de computadores, sãocapazes de agregar participantes que estejamdistanciados até por continentes ou oceanos, masque, mesmo assim, conseguem interagir, trocaridéias, de forma instantânea, em tempo real ouassincronamente em tempos divergentes, ou dis-cutir e tomar decisões, construir algo em co-mum, como se estivessem no mesmo local.
Este poder excedeu a capacidade clássica deinteração e debates antes quase exclusivos dasurbanidades, provocando que os temas e as dis-cussões possam agora acontecer no âmbito dascomunidades regionais ou mundiais. As discus-sões, por sua vez, tendem a retornar, sob influ-ência da interação mais ampla em rede, para ocontexto local, traduzido ali pelo cidadão daurbanidade, que vivencia seus problemas locais,mas que agora consegue participar de até mui-tas comunidades transurbanas colhendo assimvisões e realidades plurais e diversas daquelasem que vive, para finalmente poder influenciarno local a partir dessas novas experiências.
Creio ser mais importante agora dar algunsexemplos dessas comunidades e de seu funcio-namento para que se perceba a profundidade doque está em andamento como processo social:
1. Mesmo que Salvador tenha melhorado mui-
to em sua capacidade de atender às necessi-dades materiais de seus habitantes, não édifícil que um pesquisador ou estudante fi-que distante e até à margem do principaldesenvolvimento científico sobre qualquertema, já que as livrarias locais e as políti-cas editoriais brasileiras são, muitas vezes,limitadas quanto à atualidade Em Salvadortemos alguma dificuldade, no contexto denossa comunidade urbana, de participar docontexto editorial mais avançado. Desde quelivrarias digitais, como a Barnes and Nobles(http://www.barnesandnoble.com/) e aAMAZON (http://www.amazon.fr), passa-ram a administrar comunidades internacio-nais de clientes e fornecedores, foi possívelparticipar e acompanhar, com conforto eeficiência, qualquer desenvolvimento edito-rial sobre qualquer tema. Foram então cri-adas comunidades de práxis, voltadas parao mercado editorial mundial as quais atua-lizam qualquer interessado a qualquer mo-mento. Os clientes poderão contatar mun-dialmente outros clientes e interessados emtemas correlatos àqueles ligados às suascompras. É evidente que a participação demuitos cidadãos locais nesse tipo de comu-nidade provoca influências no local. Damesma forma que a loja virtual de livros,outras lojas virtuais, mercados em rede,estão cada vez mais comuns e criando condi-ção para a expansão desta transurbanidade.
2. Os clubes e as comunidades que reúnempessoas de interesse comum não são novose sempre reuniram pessoas de origens di-versas. Associações profissionais, fãs clu-bes, grupos de amigos, amantes de algum es-porte, membros de partidos ou grupamentospolíticos, e outros grupos, sempre tiveram umaatuação interurbana e até internacional, masnunca, como hoje, em tempo real e em sessãoininterrupta. Multiplicou-se pela rede servi-ços, hoje gigantescos, de associação de pes-soas de todos os tipos, etnias, credos e inte-resses, as quais interagem, debatem e cons-troem realidades intercomunitárias e
387Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 383-389, jul./dez. 2002
Alfredo Eurico Rodriguez Matta
transurbanas de forma praticamenteincontrolável e incontável. A página WEBbrasileira Grupos (http://www.grupos.com.br/),por exemplo, contabiliza mais de 35.000 gru-pos que discutem temas diversos tais comoeducação, meio ambiente, notícias, publica-ções, religião, música, artes plásticas, espor-tes, leis e governos, negócios, regiões, países,saúde, medicina, comportamento, sexualida-de e muito mais.
3. Os movimentos políticos e as organizaçõesde pessoas comuns, ou ONGs, também sãoum bom exemplo dessa transurbanidade.São muitos os exemplos de organizações quefuncionam e trabalham mesmo em rede.Esse ponto é importantíssimo e até mesmoassume dimensões não muito conscientesnos não especialistas, já que grupos terro-ristas, a famosa Al Qaeda, quadrilhas emáfias podem também circular e atuar poresta nova via. Vale destacar que, na comu-nidade urbana, isso também acontece. Noprocesso de competição por soluções encon-trado nas cidades, poderemos encontrar osgrupos políticos mais diversos, inclusive osmarginais e os contestadores, muitas vezesviolentos. Mas, além dos grupos contradi-tórios, encontramos aí também diversosexemplos do ativismo mais aceito, maisparticipativo, mas sempre supra-urbano, e,continuamente se transformando, os deba-tes locais a partir do contínuo debate maisamplo. Dois bons exemplos são a interna-cional ONG GreenPeace e o MST (http://www.greenpeace.com.br/ e http://www.mst.org.br/).
4. As comunidades de aprendizagem tambémse multiplicaram. Muitas são as soluçõesde educação à distância – EAD, comunshoje em dia. Mas a verdade é que as verda-deiras comunidades de aprendizagem nãosão tão comuns assim. Muitas propostasEAD são simples transposições da escolaclássica para a rede, na qual um centro passaa ditar como deve ser, enquanto os recepto-res diversos apenas recebem o pacote pron-
to do que se costuma chamar conhecimen-to. Essas iniciativas estão na rede, mas nadaacrescentam ao ambiente em rede. São ser-viços não comunitários, pois não admitema participação. Este fato chega a ser absur-do já que justamente a educação é a ciênciaque estuda, com maior profundidade, ainteratividade, as interações, a possibilida-de de colaboração e suas conseqüências paraa formação da cidadania e dos seres huma-nos. Por outro lado, a existência de comuni-dades de aprendizagem favorecem a dissemi-nação da sociedade comunitária transurbana,já que acaba por habilitar as pessoas à convi-vência para além da comunidade local e suasquestões. Alguns exemplos de ambientes pro-pícios à formação de verdadeiras comunida-des de aprendizagem merecem ser citados.Temos os excelentes casos do VirtualUniversity (http://virtual-u.cs.sfu.ca/vuweb.new/new.html), do Knowledge Forum(http://www.learn.motion.com/lim/kf/KF0.html) e do aulafácil (http://www.aulafacil.com.br/), todos sistemas pre-parados para a articulação de comunidadesque têm como fim a construção do conheci-mento, e a aprendizagem em rede.
5. O governo eletrônico tem sido cada vez maisefetivo. A princípio se tratava apenas dequestões estratégicas e militares, depois uminstrumento de efetivação das políticas go-vernamentais mais importantes: divulgaçãode projetos e relatórios, divisão de recur-sos, políticas dos ministérios e outras. Se-guiu-se então a difusão, atuação de gover-nos estaduais e provinciais e mesmo muni-cipais. E finalmente cada serviço mais sim-ples passou a poder ser feito em rede. Éassim que hoje desde eleições, combate aoterrorismo ou policiamento, declaração epagamento de impostos, até orientações ouserviços de saúde são conduzidos com efi-ciência pelo governo em rede. Um exemploclaro do poder dos governos em rede estáno caso da educação e da pesquisa científi-ca. Em nível federal, o MEC (http://www.mec.gov.br/), a CAPES (http://
388 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 383-389, jul./dez. 2002
Transurbanidades e ambientes colaborativos em rede de computadores
www.capes.gov.br/) e o CNPQ (http://www.cnpq.br/), através de suas páginasWEB, do sistema LATTES, dos sistemasde coleta e avaliação das pós-graduações,dos sistemas de submissão de novos cur-sos, dos sistemas diversos de avaliação deescolas, dos sistemas de organização de pro-postas para captação de recursos, e outros,criaram a possibilidade de ordenação deuma verdadeira rede de educação e pesqui-sa no país. Através da rede, estes institutose departamentos de governo têm, eficiente-mente, em tempo real e contínuo, e de for-ma transurbana, ordenado a política nacio-nal de pesquisa, atingindo inclusive o exte-rior e construindo bases de debates queextrapolam qualquer base local, de formadefinitiva e inter-comunitária. O nível esta-dual vem procurando acompanhar estes re-sultados federais, já tendo obtido algunssucessos, tais como a página WEB daFAPESB (http://www.cadct.ba.gov.br/) e apágina da Secretaria de Educação do Esta-do (http://www.sec.ba.gov.br), faltando ain-da o município de Salvador (http://www.salvador.ba.gov.br) se ocupar de cri-ar sua versão de Secretaria Municipal deEducação em rede. Em que pesem as mui-tas possíveis críticas advindas principalmen-te do processo de criação inicial e experi-mental dessas redes de governo eletrônico,é inegável que, em muitos de seus serviços,as páginas governamentais já estão cum-prindo seu papel fundamental de adminis-tração transurbana e organização oficial dasociedade em rede.
A emergência das comunidades em rede aquiexemplificada ainda não se encontra suficiente-mente estudada. Por isso mesmo, não se tratade um levantamento exaustivo e nem de um es-tudo de caráter conclusivo. Ao invés, temos aquium estudo preliminar cuja conseqüência maisimportante é a divulgação de uma situação ain-da preliminar e até embrionária, além de cha-mar a atenção dos leitores para que se participedesta construção em pleno processo.
CONCLUSÃO
O desenvolvimento de tecnologias talvez sejao comportamento que mais diferencie o ser hu-mano das outras espécies de vida que habitamnosso planeta. A cidade, por sua vez, tem sido opalco privilegiado de desenvolvimento dastecnologias: centro de convivência, produção,comércio e decisões; desde sua origem, os nú-cleos urbanos se destacaram como centros dedesenvolvimento das mais diversas tecnologias,sempre voltadas para facilitar, cada vez mais, arealidade cotidiana e a interação dos cidadãosem torno da construção de suas vidas e realida-des sociais.
A chamadas novas tecnologias dainformática e da comunicação são também re-sultado do desenvolvimento urbano das urbani-dades. O fato incomum é que essas tecnologiastêm sido usadas para que a interação urbanaseja extrapolada, e resulte em ambientes propí-cios para a interação interurbana ou mesmotransurbana como tentamos mostrar neste arti-go.
A transurbanidade sugerida se deve àconstatação de que as novas tecnologias vãoalém de possibilitar contatos e construções in-terurbanas a partir do transporte ou comunica-ção entre núcleos urbanos, criando verdadeirasredes organizadas e contínuas de interação, dis-cussão e construções de interatividades diver-sas que extrapolam constantemente o âmbitolocal, criam ambiente de discussão e debate deabrangência bem maior, para retornarem a par-tir de seus membros, na forma de influência àslocalidades onde habitam.
Talvez possamos no futuro divisar melhor oequivalente a avenidas, ruas, viadutos ou pra-ças, presentes nessas comunidades virtuais quehabitam os meios eletrônicos; isso deverá acon-tecer na medida em que as pesquisas na áreapossam avançar e possamos interpretar commais clareza as infovias, que substituem em meiovirtual, as clássicas vias de fluxo e locais deinteração e convívio das vias urbanas.
De certo que, atualmente, já podemos divi-sar, com alguma clareza, que os seres huma-
389Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 383-389, jul./dez. 2002
Alfredo Eurico Rodriguez Matta
nos, habitantes das urbanidades, convivem einteragem em outros substratos de comunida-des transurbanas em meio eletrônico, que aca-bam por compor um conjunto complexo de in-fluências, re-influências e conseqüências de suasparticipações em todos os substratos por eleshabitados, o que cria condição para um movi-mento de renovação e construção plural em todos
os níveis, inclusive no meio urbano.Vias transurbanas, ambiente complexo de
interações inter-comunitárias, meio eletrônico, emuitos outros conceitos, são apenas uma partedaquilo que teremos que decifrar e compreendermelhor para que possamos construir um conheci-mento útil e capaz de melhor orientar o ser huma-no nesses novos ambientes de convivência
REFERÊNCIAS
CANTON, James. Tecnofutures. São Paulo: Nova Cultural, 2001.
GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da História. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva. Lisboa: Instituto Piaget, 1998
LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. São Paulo: 34, 1993.
MATTA, Alfredo. Procedimentos de autoria hipermídia em rede de computadores, um ambiente para oensino aprendizagem de História. Salvador, 2001. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federalda Bahia.
NEGROPONTE, Nicholas. Vida digital. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
PEDRÃO, Fernando. Os novos modos de metropolização. Análise e Dados: questão urbana. Secretariade Planejamento. Centro de Estatística e Informações, Salvador, v.3, n.1, p.18-21, 1993.
SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1994.
SOUZA, Ângela. Limites do Habitar. Salvador: Edufba, 2000.
ZAJDSZNAJDER, Luciano. A grande cidade: esfacelamento e reconversão de valores. In: BINSZTOK,Jacob e BENATHAR, Levy. Regionalização e urbanização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.
Recebido em 21.08.02Aprovado em 28.02.03
391Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
Gregório Benfica
Gregório Benfica ∗
RESUMO
Esse artigo analisa, separadamente, a evolução do museu e do turismo, de-monstrando como ambos se integraram na atualidade e como essa integraçãopode ser positiva no sentido de possibilitar a sustentabilidade. Analisa tambéma crise atual dos museus brasileiros e os impactos ambientais e sócio-culturaisque o turismo sem planejamento pode provocar. O artigo conclui com exem-plos concretos de regiões onde a participação da comunidade foi possibilitadapela ação educativa de museus, criando assim condições para o desenvolvi-mento sustentável do turismo nessas mesmas comunidades.
Palavras-chave: Museu – Turismo – Sustentabilidade e Educação
ABSTRACT
THE MUSEUM AND TOURISM: the educative action towards the sus-tainable development
This article analyzes, separately, the evolution of the museum and tourism,demonstrating the way both have integrated in modernity and the way this inte-gration can be positive in the sense of making the sustainability possible. It alsoanalyzes the current crisis of the Brazilian museums and the environmental andsocio-cultural impacts that the unplanned tourism could cause. The article con-cludes with concrete examples of regions where the participation of the com-munity was made possible by the educative actions of museums, creating there-fore conditions for the sustainable development of tourism in these very com-munities.
Key words: Museum – Tourism – Sustainability and Education
∗ Professor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB; mestrando em Desenvolvimento Sustentável pelaUniversidade de Brasília, e em Educação e Contemporaneidade pela UNEB; didata e facilitador em Biodança;consultor nas áreas de educação, relações humanas e desenvolvimento organizacional. Endereço para cor-respondência: Rua Clóvis Bevilacqua, qd. 40, lt. 07, cs 04, Praias do Flamengo – 41.600-280 Salvador-BA.E-mail: [email protected]
O MUSEU E O TURISMO: a ação educativapara o desenvolvimento sustentável
INTRODUÇÃO
No cenário político-econômico atual, o dis-curso dos governantes brasileiros tem privilegi-
ado o turismo como a grande fonte de empregoe divisas para o país e, conseqüentemente, ob-servamos fortes investimentos governamentaise estrangeiros nesta área. Convém ressaltar que
392 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
O museu e o turismo: a ação educativa para o desenvolvimento sustentável
tais investimentos não são precedidos pelas de-vidas pesquisas e planejamentos para a adoçãode um modelo que minimize os impactos nega-tivos, tanto em termos ambientais quanto soci-ais e culturais e que, paralelamente, promova asustentabilidade das comunidades receptoras.
Ao mesmo tempo, acompanhamos diaria-mente pela imprensa a calamitosa situação denossas instituições educacionais e culturais,entre elas os nossos museus, premidas peloscortes de verbas, como se a cultura fosse umacessório secundário no desenvolvimento de umanação. Portanto, temos de um lado, os interes-ses econômicos banhando-se em abundante eimprudente vazão de recursos e, de outro, a cul-tura de mãos estendidas para um conta-gotas.
Esquecem, ou não sabem os nossosgovernantes, que na segunda metade do séculoXX, com a organização e a expansão das ativi-dades turísticas em todo o mundo, nos moldescapitalistas, os museus se associaram definiti-vamente ao turismo e tornaram-se peças essen-ciais nesse negócio, atraindo viajantes, gerandorenda e emprego.
O objetivo deste artigo é analisar essa traje-tória, explicitando a evolução tanto do museucomo do turismo. Neste processo, tentarei de-monstrar o potencial da ação educativa do mu-seu para a solução de entraves asustentabilidade, principalmente, em regiõespobres, mas que possuam algum atrativo turís-tico. Em outras palavras, pretendo, com os“fios” da ação educativa, “costurar” museus eturismo, tecendo um cenário de desenvolvimen-to sustentável.
I – O MUSEU
1. A evolução dos museus
a - Da aristocracia às massas
Segundo Santos (1993), o termo museiondesignava, na antiquidade, o templo das musasem Atenas, onde eram depositados objetos pre-ciosos em agradecimento a essas divindades.Posteriormente, o termo museion foi utilizadopra designar um complexo construído no Palá-
cio de Alexandria por Ptolomeu Filadelfo, cons-tituído da famosa biblioteca, observatório as-tronômico, zoológico, jardim botânico, anfitea-tro, etc.
Porém é na Renascença, segundo Barreto(2001) e Santos (1993), que vamos encontraros antecessores dos museus modernos: os gabi-netes de curiosidades e as primeiras galerias dearte. Eles eram depósitos de preciosidades e ra-ridades que funcionavam em velhos castelos oupequenos palácios reservados para esse fim esó possuíam objetos de seu dono colecionador.Nesses locais, a aristocracia apenas entulhavaobjetos sem classificações ou indicações.
Um exemplo emblemático é a Galeria Ufizzi,que, além de pioneira, é hoje um dos maisrenomados museus da Itália. Na Idade Moder-na, a rica e poderosa família Médici governavaFlorença e, como o mecenato1 possibilitavaauferir ainda mais poder e prestígio, os Médiciconstruíram um prédio (galeria) onde funciona-vam, no térreo, os escritórios (ufizzi) adminis-trativos da cidade e, no andar de cima, um mu-seu com as obras de arte da família. A GaleriaUfizzi, em Florença, foi a primeira construçãoespecial para o funcionamento de um museu(BARRETO, 2001). A arte, colocada em umplano superior e espiritual, no qual prevaleci-am os ideais do belo e da harmonia, simbolica-mente legitimava as mesquinharias econômicase políticas que ocorriam no andar inferior, notérreo. Portanto, na Idade Moderna, os museussão propriedades particulares de aristocratas e/ou clérigos e/ou ricos burgueses, visitados ape-nas por seus pares e possuindo um acervo queespelhava os valores dessas respectivas classes.
Com a Revolução Francesa, ocorre uma sig-nificativa mudança, pois, ao expropriar a aris-tocracia e a igreja de suas obras de arte, for-mou-se o museu do Louvre, com um acervo cadavez mais enriquecido pelos saques das guerrasnapoleônicas, o qual abriu suas portas ao pú-
1 Proteção financeira e política que os burgueses, reis epapas davam aos artistas no período do RenascimentoCultural; investimento em artes.
393Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
Gregório Benfica
blico com entrada franca. Esse museu foi, des-de o início, considerado um “museu do povo” etinha como objetivo explícito educá-lo nos ide-ais da revolução burguesa (BARRETO, 2001).
b – Das salas fechadas ao ar livre
Em 1891, o professor sueco Arthur Hazeliuspercebeu que os costumes tradicionais de seupaís estavam se perdendo em função damodernidade industrial. Como viajava muitopelo interior do país, passou a comprar objetosde artes e artesanato tradicional e a organizar aexposição deles em Estocolmo, dando origemao primeiro museu ao ar livre, denominado deSkansen. (BARRETO, 2001)
Dos museus construídos ao ar livre, como oSkansen, evoluiu-se para os museus ao ar livrenão-construídos, os site museums. Estes, inici-almente, foram concebidos como “museus desítio”, vinculados à atividade arqueológica; po-rém, atualmente, são entendidos como “museuno local”, isto é, podem ser classificados nestacategoria museus etnográficos, históricos, ar-queológicos, e ecomuseus (BARRETO, 2001).
Um outro tipo de museu que surge é o mu-seu jardim, que é construído na periferia paraafastar o museu do barulho e da poluição urba-na e oferecer aos visitantes o descanso e o con-forto dos seus jardins. Nestes, pode-se encon-trar uma série de equipamentos e atividadescomo o golfe, piqueniques, zoológico e outros.(BARRETO, 2001).
2. A nova museologia
Como vimos, o museu foi se abrindo em to-dos os sentidos: abertura em relação ao públi-co, em relação ao espaço físico e, como vere-mos agora, abertura em relação ao seu acervo epapel social.
Como o museu era ligado exclusivamente àsclasses dominantes, num primeiro momento aris-tocrático, depois burguês, ele exercia a funçãode aparelho ideológico ao armazenar e exporaquilo que testemunhava a visão de mundo daselites. Porém, a partir de 1950, os franceses
começaram a questionar o modelo tradicionalde museus que, a partir da Europa, havia se es-palhado pelo mundo. Na década de 60, no con-texto do movimento em prol da democratizaçãoda cultura, tanto na Europa como EUA, osmuseólogos passaram a propor um museu plu-ral que retratasse todos os segmentos sociais emseus problemas cotidianos. Também incorpora-ram as bandeiras pela preservação do meioambiente e, para isso, reviram e ampliaram oconceito de patrimônio, englobando o meioambiente, o saber e o artefato. A conseqüênciafoi o surgimento de novas categorias de museuscomo os sites museums e os ecomuseus, compressupostos museológicos até então desconhe-cidos. Surgiam as raízes da Nova Museologia(SANTOS, 1993).
Nesse contexto, tivemos a experiência ino-vadora do Museu Nacional do Níger, construídoem 1958, em uma área de 24 hectares, na qualse retratava o país em todos os seus aspectos. Asua função era complementar e ampliar o ensi-no básico ao mesmo tempo em que fazia os ha-bitantes resgatarem o seu passado histórico ecultural. A partir dos anos 70, esse museu pas-sou a ter função de centro social, na medida emque dava emprego e educação a uma multidãode mendigos e portadores de dificuldades físi-cas, integrando-os plenamente nas atividadesmuseológicas (BARRETO, 2001).
Foi também na década de 70 que o primeiroecomuseu foi constituído com esse nome: o deLe Creusot, na França. O Le Creusot era meta-de urbana e metade rural, com 150 mil habitan-tes e duas comunidades em uma área de 500km². Tudo que existia e todos que morassemnessa área era considerado como patrimônio.Os técnicos disponibilizados pelo Estado mora-vam e interagiam com as comunidades, que nãosó opinavam, mas também participavam da ad-ministração do ecomuseu. Este, ao focar o ho-mem em seu ambiente (natural e urbano), tinhacomo objetivo espelhar, para a comunidade epara os visitantes, a identidade desse homem ede seu ambiente, retratando sua evolução, suasinter-relações e interdependências. Infelizmen-
394 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
O museu e o turismo: a ação educativa para o desenvolvimento sustentável
te, a experiência só conseguiu se manter até ofinal da década de 80 (BARRETO, 2001).
Outras experiências inovadoras e que tive-ram continuidade foram as do museu deAnacóstia, Washington, e a do Museu Antropo-lógico do México. No primeiro, tivemos a rup-tura com os conteúdos tradicionais ao se preo-cupar em conscientizar a população sobre seusproblemas cotidianos, realizando sua primeiraexposição com o tema ratos, e a segunda com otema criminalidade. No México, a inovação foino sentido de representar a história e a maneirade ser das várias etnias e classes da nação, deforma a atingir um público formado em grandeparte por analfabetos, utilizando para isso re-cursos cênicos e plásticos (BARRETO, 2001).
Como vimos, na perspectiva da NovaMuseologia, os museus deixam de ser colecio-nadores, para se tornarem participantes nastransformações da sociedade, encarando de fren-te problemas como o racismo, a pobreza, a de-terioração das cidades, e outros problemas con-temporâneos, além de serem depositários dosícones da identidade cultural da comunidadeonde estão instalados. Dessa forma, o cidadãocomum tem recursos para encontrar suas raízeshistóricas e as utilizar como referencial paracompreender e transformar o seu presente (SAN-TOS, 1993).
3. O museu no Brasil
Aqui, devemos estar atentos ao fato de que opouco avanço que tem entre nós a NovaMuseologia e, conseqüentemente, uma açãomuseológica mais crítica, reflexiva eparticipativa, não se dá no vazio e nem se poderesponsabilizar os museólogos por essa situa-ção. O museu, enquanto espaço educacional einstitucional está atrelado a um contexto his-tórico e evolui com ele.
Na era colonial, em um contexto de domínioeconômico aristocrático e hegemonia cultural daigreja, não é de se estranhar que a concepção depatrimônio histórico-cultural e, conseqüente-mente, a seleção do que deveria ser preservado,
fosse influenciada por esse ambiente; assim,valorizaram-se e preservaram-se os bens cultu-rais vinculados à igreja e à aristocracia rural.(SANTOS, 1993).
Somente em 1808, quando aqui chegou acorte portuguesa, fugindo das tropasnapoleônicas e tendo à frente o príncipe Regen-te D. João, é que a atividade museológica siste-mática tem início no Brasil. Entre as várias ins-tituições culturais criadas nos moldes europeus,criou-se o Museu Real (SANTOS, 1993).
No final do século XIX, surgem novos mu-seus, como o do Exército, o da Marinha, oEmílio Goeldi em Belém, os museus Paranaensee Paulista e os museus dos Institutos Geográfi-cos e Históricos da Bahia e de Pernambuco.Nesses museus, as características são: coleçõesformadas por plantas e animais, que represen-tam o exótico, e objetos históricos e de arteentulhados como em depósitos os quais apenassão visitados por poucos letrados e pesquisado-res. Os museus no Brasil atravessam o séculoXIX e XX como sendo elitistas e depositáriosde objetos e valores arcaicos, muitas vezes,alienígenas. (SANTOS, 1993).
Com o advento do Regime Militar em 1964,os valores patrióticos são ressaltados, e o ufa-nismo incentivado; afinal, diziam os militares:“Brasil, ame-o ou deixe-o”. Nesse contexto, de1964 a 1980, ocorre o modismo do “Memorial”e do culto ao herói, típicos de regimes militares,o que irá contribuir para um “boom” de abertu-ra de museus, que, além do caráter ideológico,utilizam técnicas conservadoras de exposiçãoprivilegiando abordagens puramente factuais, oculto às “personalidades”, exposições semcontextualização, utilização excessiva de termostécnicos nas etiquetas e nos textos. Em outraspalavras, os nossos museus continuaram con-servadores, em todos os sentidos (SANTOS,1993).
4. O museu como atrativo turístico
O turista, seja ele um viajante solitário ouparticipante de grupos e/ou “pacotes”, quandoviaja aos grandes centros do Primeiro Mundo,
395Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
Gregório Benfica
sempre agenda uma visita aos museus. Os mu-seus do Primeiro Mundo não somente estão in-tegrados à atividade turística como eles mes-mos são atrativos que, além de garantirem suasustentabilidade, compartilham os benefíciosfinanceiros com toda a cadeia de atividades tu-rísticas. Isso se dá, segundo Gomes (2002, p.27),devido “(...) à existência de acervos consagra-dos, de um trabalho dinâmico de musealizaçãoe, finalmente, estratégias de marketingdirecionadas ao turismo”. Nesse esforço paraatrair o turista, os museus realizam exposiçõestemporárias, estabelecem preços promocionaise contam como pessoal treinado para atender adiferentes segmentos de visitantes, e publicaçõesem vários idiomas.
Considerando que o Brasil possui umpatrimônio rico e original, é de se perguntar:por que não pensamos em estratégias que pro-movam o turismo, em especial o turismo sus-tentável, através de ações museológicas em re-giões que não se encaixam no “cartão postal”tradicional do país? Quanto a isso, Gomes(2002) chama a atenção para o caso mexicano,posto que pode nos servir de inspiração, pois setrata de um país latino-americano que obtém umsucesso que pode ser medido pelos milhões dedólares que arrecada com seus museus. Para aautora, a chave do sucesso transcende o acervoarqueológico mexicano e se encontra no intensotrabalho de educação e treinamento que possi-bilitam a valorização, a conservação e a restau-ração do patrimônio e a renovação das lingua-gens e dos métodos de exposição.
No entanto, o que nos interessa aqui não éum turismo a qualquer preço. Sabemos que,no próprio México, hoje um centro de refe-rência de pesquisa em turismo, os erros dopassado demonstraram que o turismo sem pla-nejamento e sem uma perspectiva desustentabilidade é uma indústria suja. A de-gradação que provoca não é só material, mastambém social e cultural.
Para uma melhor idéia das possibilidadeseconômicas e sociais do turismo e uma per-cepção das questões de sustentabilidade aí en-volvidas, passo a fazer um breve histórico do
turismo e forneço alguns números sobre estaárea no Brasil.
II - O TURISMO
1. A evolução histórica do turismo
a – Os primórdios
As palavras inglesas tourism e tourist,segundo Oliveira (2001), já aparecem em 1760,derivadas de turn, que possui o equivalente emfrancês tour. Em ambos os casos, o significadoé “volta”, “giro”, “movimento circular”. Porém,antes mesmo dessa data, no século XVI, um tipode viagem que se aproxima muito do queconhecemos hoje como turismo cultural já existiae era denominada de Petit Tour e, a partir doséculo XVII, Grand Tour. As duas designaçõesse referiam a dois tipos de roteiro de viagemcultural da aristocracia: o Petit consistia emviajar pelo Vale do Loire até Paris, e o Grand seestendia até a Itália, ambas com a função decompletar a formação do jovem aristocrata(OLIVEIRA, 2001). De fato, o Grand Tourproporcionava aos jovens aristocratas ingleses,entre vinte e vinte e cinco anos, um conhecimentovivencial dos lugares da Itália que se vinculavamà história do Império Romano e à literaturalatina; enfim, conheciam pessoalmente aquiloque já conheciam pelos livros, respirando os arese pisando as pedras da antiguidade clássica, emuma viagem que levava de seis meses a três anos(CAMARGO, 2001).
No século XVIII, especificamente 1784, duasinovações contribuíram para a expansão dasviagens: John Palmer introduziu a diligência paratransporte de correspondência e passageiros, eDavid Low inaugurou o primeiro hotel familiarda Inglaterra, em Covent Garden (OLIVEIRA,2001). Até então, o viajante, se fosse aristocrata,se hospedava gratuitamente em casas departiculares, aos quais eram especialmenterecomendados ou alugavam residênciasmobiliadas, com criadagem, denominadas emfrancês de hôtels. Se fosse plebeu, ficava em
396 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
O museu e o turismo: a ação educativa para o desenvolvimento sustentável
estalagens imundas, onde a bebida e eventuaisprostitutas não proporcionavam um ambientefamiliar (CAMARGO, 2001).
A primeira agência de viagem foi a AgênciaAbreu em Portugal, inaugurada em 1840 nacidade do Porto, em frente à estação ferroviária.Bernardo de Abreu, rico comerciante da cidade,e ele mesmo um ex-imigrante no Brasil, montoua agência para atender ao grande volume depessoas que vinha do norte de Portugal e do norteda Espanha e que chegava à cidade do Portopara emigrar para o Brasil e a Venezuela. AAgência cuidava dos passaportes, vistos deemigração e venda das passagens, tanto a de trempara Lisboa quanto a de navio de Lisboa para aAmérica do Sul. No Brasil, a Agência se instalouem 1950 como Abreutur (OLIVEIRA, 2001).
b - Thomas Cook e a invenção do turismomoderno
O turismo, como o conhecemos hoje, teve seuinício com Thomas Cook, em 1841. Cook nasceuem 1808, em Derbyshire, Inglaterra. De famíliapobre, ficou órfão aos quatro anos e teve queabandonar a escola aos dez anos, para ajudar amãe no sustento do lar. Após vários empregossubalternos, aos vinte anos se estabelece nacidadezinha de Loughborough, como missionáriobatista. Como os fiéis da igreja tinham problemascom a bebida, e Cook fazia parte de um movimentodenominado Temperança, que realizava umacruzada contra o álcool, ele resolveu levar seusfiéis a uma pequena cidade próxima onde haveriaum encontro dos membros da Liga da Temperança.Para isso, fretou um trem e levou 578 pessoas aLeicester. Os participantes gostaram tanto daviagem em si que Cook resolveu explorar esse tipode atividade comercialmente e abandonou apregação para se tornar o primeiro empresário deturismo do mundo, fundando com o filho, em 1845,a Thomas Cook & Son (CAMARGO, 2001;OLIVEIRA, 2001).
O senso empresarial e aventureiro de Cook olevaram a criar a estrutura que hoje chamamos deturismo: em 1845, escreve e publica o primeiroguia de viagem impresso,2 o “Handbook of theTrip”; em 1846, realiza a primeira excursão
acompanhada de guia; em 1851, leva 165 milpessoas à Exposição Universal de Londres; em1855, sem saber uma palavra em francês,organizou a primeira excursão internacional deturismo levando ingleses para a ExposiçãoUniversal em Paris; em 1862, criou o primeiropacote turístico, o Individual Inclusive Tour,vendendo passagens, traslados, hospedagens erefeições, para o roteiro de interesse do cliente; em1865, levou o primeiro grupo de turistas europeusaos EUA; em 1867, criou o voucher, cupons dehospedagem pré-pagos; em 1871, organizou aprimeira excursão de volta ao mundo, a qual durou222 dias e teve 9 participantes; em 1874, criou oantecessor do traveller check. No ano de sua morte,1892, sua empresa possuía 85 agências no exteriore empregava 1.700 funcionários. Sucessivasgerações cuidaram dos negócios da Thomas Cook& Son até que ela foi vendida em 1928 para aInternational Sleeping Car Co., mantendo, porém,o nome tradicional. Por tudo que vimos, Cook éconsiderado o pai do turismo (OLIVEIRA, 2001).
c – As condições históricas para o nascimentoe a expansão do turismo
O sucesso de Cook e a expansão do turismose devem a um conjunto de fatores:1. A revolução industrial. É o elemento
central, sobre o qual comentaremos maisadiante, pois a generalização da revoluçãoindustrial reconfigura a noção de tempo,criando o tempo livre, que passa a serdespendido no lazer e no turismo.
2. A revolução nos transportes. Os trensproporcionavam viagens rápidas, seguras,confortáveis e baratas, e as ferrovias seespalhavam por toda a Europa. Além disso,nos finais de semana, os trens ficam comuma parte de sua capacidade ociosa, o quefacilitou a associação das empresasferroviárias com Cook, barateando maisainda os preços das passagens.
2 Anteriormente havia os manuscritos de circulaçãorestrita como o Guia do Peregrino de 1130, destinado aosque peregrinavam a Santiago de Compostela, e, em 1743,Thomas Nugent edita um guia para o Grand Tour.
397Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
Gregório Benfica
3. A degradação do ambiente urbano. O“inchamento” das cidades industriais e afeiúra produzida pelas chaminés das fábricasgeravam uma oposição estética entre ocampo e a cidade e/ou cidades industriais ecidades históricas, criando assim anecessidade, nas populações das cidadesindustriais, de viajarem;
4. O ambiente cultural. O século XIX, envoltoem movimentos nacionalistas, estimula asciências históricas e faz surgir novas áreasde pesquisa, como a arqueologia. Assim,nasce a noção de patrimônio histórico-cultural o qual deve ser preservado pelosmuseus e visitado pelos turistas, ou seja, apesquisa e a divulgação do patrimônio,típicas ações educativas, estimulam aexpansão dos museus e do turismo. Alémdisso, o movimento do Romantismoapregoava uma nova postura decontemplação e vivência em relação ànatureza e a outras culturas.
5. O ambiente religioso. Na segunda metadedo século XIX, o Puritanismo na Inglaterraapregoava os benefícios de um “bom” usodo tempo livre com atividades edificantes,entre elas as atividades no campo, ao ar livre,para a saúde do corpo e do espírito(CAMARGO, 2001; OLIVEIRA, 2001).
Para concluir estas considerações, devemosressaltar que o grande divisor entre a meraviagem e o turismo é a Revolução Industrial,pois o turismo, como o conhecemos hoje, é umfenômeno das sociedades industriais. Essaafirmação se fundamenta no fato de que aRevolução Industrial, ao radicalizar a distinçãoentre trabalho versus tempo livre, entre produçãoversus lazer, criou as condições para aobjetificação e a mercantilização desse tempolivre, que se expressou, posteriormente, naIndustria cultural e no turismo como negócio.
d – O turismo: da Temperança ao maiornegócio do mundo
O lazer, que antes da Revolução Industrialera a atividade de repouso e divertimento, ambosnecessários para a saúde psicofísica do homem,
após o seu trabalho diário pela sobrevivência,era também o exercício da liberdade criativa edo crescimento pessoal. Porém, na sociedadeindustrial, o lazer se torna mercadoria emecanismo de controle. Para “distrair” otrabalhador, várias atividades e locais especiaissão progressivamente criados, dentre os quaisos parques temáticos, como a Disney, sãoexemplos eloqüentes.
O capitalismo não se contenta em impor oque os trabalhadores irão consumir no “seu”tempo livre, ele também impõe o como consumir.Aqui me refiro à padronização do turismo demassa e à “tirania do relógio”, expresso noadágio “tempo é dinheiro”, que o capitalismoindustrial instalou nas fábricas e agora tambéminstala no “tempo livre”. Para compreender essalógica do controle do tempo livre, devemosconsiderar a relação que Marx Weber (1967)fez entre a moral ascética do protestantismo e oespírito de controle rígido das finanças, tãofundamental para a acumulação capitalista. Paracompreender a extrapolação dessa lógica para oturismo, basta lembrarmos que Cook era umpregador batista e que, em suas origens, oturismo estava mais vinculado a uma prática“útil e instrutiva” do que ao mero hedonismo.E, se o turismo se transforma em negócio, nadamais natural do que o tempo, mesmo o livre, setransformar em dinheiro. Sobre estas questões,Camargo afirma: “talvez isso seja útil paracompreender a tirania do tempo das viagens, dapontualidade exigida pelos guias, dos horáriosimplacáveis (...)” (2001, p.67).
Como vimos, as condições necessáriasestavam dadas, e o pioneiro havia surgido; assim,restava ao turismo se expandir intensivamenteno século XIX, período da Segunda RevoluçãoIndustrial; porém, essa expansão, principalmentea internacional, foi interrompida no início doséculo XX em função da Primeira GuerraMundial (1914-18), da Crise de 29 (1929-32) eda Segunda Guerra Mundial (1939-45). Aretomada da expansão do turismo ocorre nadécada de 50 do século XX e não será apenasuma retomada e, sim, um salto qualitativo emfunção de vários elementos, dentre os quais: o
398 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
O museu e o turismo: a ação educativa para o desenvolvimento sustentável
aumento dos salários e da segurança que oEstado de Bem-Estar Social oferecia aostrabalhadores, a diminuição da jornada detrabalho e o desenvolvimento dos transportes emeios de comunicação.
Nesse contexto, a indústria do lazer e doturismo aperfeiçoa a apropriação do tempo livredos trabalhadores, fazendo surgir, nos EUA,entre outras novidades, os “museus dinâmicos”,que ao oferecerem várias atividades e produtosgarantem, via consumo, o entretenimento àsmassas. Os museus passam a se integrar noturismo de massa tanto quanto os paraísosartificiais dos parques temáticos em um momentoem que a indústria do turismo se torna complexa,envolvendo marketing, financiamento,agenciamento, transportes, hospedagem,alimentação, produção de eventos e recreação,sistemas de preservação cultural e natural,shopping, serviços, etc. (PAIVA, 2001).
A envergadura dessa expansão, acimacomentada, tornou o turismo a maior “indústria”do mundo (OMT, 1999), representando, emalguns países desenvolvidos, de 5 a 10 % doPIB nacional e em países pequenos, em especialos insulares do Caribe, Mediterrâneo, Pacíficoe Índico, de 20 a 25% do PIB (OMT, 1999).
2. O turismo no Brasil
Não entrarei nas raízes históricas do turis-mo no Brasil. O fenômeno é recente entre nós,apesar da constante presença estrangeira. Parase ter uma idéia, foi apenas em 1883, segundoCamargo (2001), que se inaugurou no Brasil,em São Paulo, o primeiro hotel com estruturasimilar aos dos grandes centros internacionaisda época. Mais precisamente, só em meados dadécada de 30 do século XX, é que entre nóssurgem as condições estruturais que permitiram,no século anterior, a emergência do turismo naInglaterra: industrialização e legislação traba-lhista que garantia férias remuneradas.
Criada a infraestrutura para o turismo inter-no, em especial o vinculado aos balneários, tem-se as condições para a expansão da recepçãoaos estrangeiros. O boom do pós-guerra, que
comentei anteriormente, se reflete no Brasil e,nas últimas décadas, o turismo se tornou umsetor dos mais atrativos. Os números que mos-trarei abaixo comprovam isso.
Segundo a Embratur3, o turismo no Brasilvem crescendo a uma taxa média de 3.5 % nosúltimos anos e, em 2000, representou uma con-tribuição de 7.0 % no PIB, empregando 7,4 %do total dos que se encontravam no mercado detrabalho. Isso foi possível devido aos investi-mentos estrangeiros diretos na atividade turísti-ca, os quais têm alcançado uma média anual deUS$ 6,04 bilhões e crescem a uma taxa médiade 5 % ao ano, segundo dados da mesma fonte.De acordo com a Organização Mundial de Tu-rismo (OMT), para cada dólar investido em tu-rismo o país recebe seis como retorno.Sabemos que o Brasil necessita gerar, anu-almente, divisas de aproximadamente US$40,0 bilhões para equilibrar sua balança depagamentos, e também gerar, anualmente,pelo menos 1,0 milhão de novos empregospara absorver o crescimento da populaçãoeconomicamente ativa, sem falar da neces-sidade de cobrir o déficit atual de 10 mi-lhões de empregos. Ora, se considerarmosque, no ano de 2000, segundo dados daEmbratur (2002), as receitas obtidas atra-vés dos gastos diretos dos turistas estran-geiros no Brasil equivalem, aproximadamen-te, a 10 % do valor das exportações brasi-leiras no mesmo ano, e que foram gerados5,3 milhões de empregos em função da ati-vidade turística, concluímos que, de fato, oturismo se tornou estratégico para o país.No Brasil, segundo o IBGE, citado pelaEMBRATUR (2002), o turismo repercuteem 52 segmentos diferentes da economia,empregando desde mão-de-obra mais qua-lificada à de menor qualificação, tanto noemprego formal quanto no informal.
3 Estudos da World Travel & Tourism Council divulga-dos pela Embratur no site: http://www.embratur.gov.br/economia, acessado em 12 de out. de 2002.
399Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
Gregório Benfica
Apesar dos números positivos, a nossa fatiaainda é pequena em termos mundiais, pois ospaíses desenvolvidos recebem atualmente 56%do fluxo internacional (OMT, 1999), e o “bolo”,segundo a OMT, citada pela EMBRATUR(2002), representado pelas receitas obtidas emtodo o mundo, no ano de 2000, com os gastosdiretos dos turistas nas localidades visitadas, foide US$ 476 bilhões.
Portanto, as possibilidades de crescimen-to no setor, para os próximos anos, são enor-mes, pois existem enormes fatias a seremabocanhadas, e o apelo do marketing turísti-co vem se voltando, cada vez mais, para ocontato com a natureza e com o patrimôniohistórico-cultural. E nesses aspectos, o Bra-sil é privilegiado, pois é um dos poucos paí-ses considerados como possuidores demegadiversidade biológica, além do que aonda de atentados terroristas e o clima deguerra no Oriente Médio estão desviando ofluxo turístico para a América do Sul.
III - O TURISMO E O MUSEU NO CON-TEXTO DA SUSTENTABILIDADE
1. Triste turismo, oh quãodessemelhante!
Na seção anterior, o rápido panorama daevolução do turismo e seus números nos indi-caram as possibilidades promissoras dessaatividade; porém, devemos agora pontuar queas promessas podem se transformar em frus-tração se não houver clareza sobre o sentidoda sustentabilidade.
a – Os políticos e os “ovos de ouro”
Se estivemos atentos aos discursos da últi-ma campanha eleitoral de 2002 no Brasil, paraPresidente da República e Governadores de es-tado, lembraremos que, da Direita à Esquerda,todos afirmavam que iriam estimular três coi-sas como solução para o desemprego: agricul-tura familiar, construção civil e turismo. Por esteúltimo dado, percebo que os políticos sabem dos
números que acima comentei e os grupos eco-nômicos que os apóiam também.
Porém o que me preocupa é a euforiaimediatista. Como afirmei anteriormente, nãointeressa ao país um turismo a qualquer preço.Não podemos nos deixar hipnotizar pelo tama-nho do mercado ou por nosso potencial paraesse mercado e assim, imprudentemente, pular-mos etapas fundamentais como as da pesquisa,do planejamento e do monitoramento das expe-riências já realizadas. O encantamento como os“ovos de ouro” pode levar ao descuido com aprópria galinha.
Essa preocupação se mostra legítima se aten-tarmos para a nossa história, recheada degovernantes que, de boa ou má fé, parecem teruma percepção parcial da realidade. Se hojefalam da promoção do turismo, indicam quepercebem que já estamos em uma sociedade pós-industrial e que nela o setor de serviços é o quemais se expande. Ao mesmo tempo, parece quenão percebem que essa mesma sociedade pós-industrial também é a sociedade da informaçãoe do conhecimento e que nela nenhuma ativida-de se desvincula do saber, em especial o turis-mo em que os recursos humanos estão na basedos serviços. A conseqüência é que aquilo quedeveria ser solução, acaba aprofundando os pro-blemas. No caso do turismo, a falta de pesqui-sa, planejamento e monitoramento, provoca trêstipos de impactos: sobre a natureza, sobre aspopulações receptoras e sobre o patrimônio his-tórico-arquitetônico.
b – O retorno à natureza
Outra questão diz respeito ao modelo deturismo que convém implantar. Sabemos que,na medida em que o turismo se expande, elese diversifica, criando o chamado turismo desegmento , o que implica em serviços eprodutos cada vez mais diversificados eespecializados, como passou a acontecer nasúltimas décadas. Ou seja, o turismo de massacresce até um limite de esgotamento, a partirdo qual tende a se pulverizar em múltiplossegmentos; e, entre estes, o destaque é para o
400 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
O museu e o turismo: a ação educativa para o desenvolvimento sustentável
turismo vinculado à natureza (SERRANO,1997).
Hoje, os roteiros considerados ecológicos sãoos que apresentam maior taxa de crescimento.Segundo Serrano (1997), o atual interesse dopúblico em geral pelo turismo ecológico se en-contra inserido em um amplo contexto culturaldo Ocidente, que pode ser interpretado como umdesejo contemporâneo de “retorno à natureza”.Esse desejo se manifesta tanto por açõesorganizativas e políticas como as das ONGsambientalistas ou dos partidos políticos já bemarticulados, como o Partido Verde, como tam-bém por ações isoladas e individuais de apoio àcausa ambiental. Manifesta-se também, pelovolume de publicações e ações cultural-educativas nos meios de comunicação de mas-sas, e até mesmo pelo consumo de produtos deuma “linha verde” ou “orgânicos”. Nesse emer-gente e florescente “mercado verde”, oecoturismo é mais um produto na prateleira.
Já se constatou que a natureza, muito maisdo que um dado físico, é uma construção cultu-ral, ou se preferirmos, uma representação soci-al (THOMAS, 1996). E, nessa linha, AlainRoger (1991) e Michel Conan (1991), citadospor Serrano (1997), chamam à atenção para ofato de que a representação que fazemos da na-tureza no Ocidente, desde o séc. XVII, vem sen-do predominantemente a da paisagem pitores-ca. Nada de tempestades, cataclismos, espinhosou feras que se devoram mutuamente. Apenas oque é gracioso e fascinante, digno de uma pin-tura ou, modernamente, uma foto digital. Ora,esta é a natureza que o turismo apresenta parao consumo: bela, pura, revigorante e distante,porém alcançável, graças aos pacotes e promo-ções especiais. Essa natureza, anunciada pelomarketing, encontra eco em nossa psique ao ní-vel do arquétipo do “paraíso perdido” e faztilintar as máquinas registradoras dos caixas dasagências de turismo. A natureza nunca foi tãorentável como no negócio do turismo contem-porâneo.
Como vimos, não basta ter o rótulo de eco-lógico. Sob esta embalagem, temos vários pro-dutos de resultados diferentes. Na verdade, nãose trata de escolher este ou aquele produto, e,
sim, mudar o paradigma no trato do turismo, ado-tando a perspectiva da complexidade; afinal,estamos numa zona complexa onde se cruzam mitoe lucro. Aqui, nesta encruzilhada, o modelo que semostra mais indicado para pensar o turismo é o dasustentabilidade, pois pensa simultaneamente onatural e o cultural, o visitante e a populaçãoreceptora, o lucro e a preservação.
Talvez o leitor mais afeito ao tema esteja seperguntando se tenho conhecimento dos atuaisprojetos governamentais na área do turismo sus-tentável. De fato, a emergência do conceito desustentabilidade e as experiências desastrosasdo passado fizeram os governos adotarem umaretórica ambientalmente correta. No Brasil e naBahia, o conceito de desenvolvimento sustentávelpassou a circular facilmente entre os responsáveispela política pública de turismo. A pergunta é: oque eles entendem por desenvolvimento sustentá-vel? Qual a distância entre o discurso e a ação?
A concepção de desenvolvimento sustentá-vel para o turismo, elaborada pela OrganizaçãoMundial de Turismo (OMT) define:
(...) o desenvolvimento sustentável atende àsnecessidades dos turistas atuais, às necessida-des das regiões receptoras e, ao mesmo tempo,protege e fomenta as oportunidades para o fu-turo. É concebido como uma via para a gestãode todos os recursos, de forma que possam sa-tisfazer as necessidades econômicas, sociais eestéticas, respeitando ao mesmo tempo a inte-gridade cultural, os processos ecológicos essen-ciais, a diversidade biológica e os sistemas quesustentam a vida.” (OMT, 1999, p. 22, tradu-ção minha)
De maneira simples, podemos definir desen-volvimento sustentável como processos ecolo-gicamente viáveis e socialmente justos em rela-ção a esta e às próximas gerações. Para termosuma noção do sentido de “ecologicamente viá-vel” e “socialmente justo”, analisarei abaixoalguns casos concretos.
c - As lições do México
Como afirmei anteriormente, o encantamen-to com os “ovos de ouro” pode levar a uma
401Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
Gregório Benfica
exploração que mata a própria galinha, ou seja,a uma exploração ecologicamente inviável.Exemplos não faltam, basta lembrar Acapulcono México, modelo latino-americano de mega-empreendimento que atraía estrelas deHollywood e toda a sorte de endinheirados. Hojeos afugenta com sua poluição, violência e deca-dência generalizada (RIBEIRO e BARROS,1997)
Após a decadência de Acapulco, o governomexicano elegeu, na década de 70, as praias queficam na extremidade sul do Golfo do México,na ponta da península de Yucatán, como umnovo pólo turístico a ser implantado sob a suaótica de sustentabilidade e do ecoturismo:Cancún. O resultado foi a transformação de umavila de pescadores, que, na década de 70, tinha426 residentes e ficava em uma praia pratica-mente selvagem e sem nenhuma relevância paraa economia mexicana, no maior centro receptordo turismo global depois de Orlando-Disneyworld. De aldeia de pescadores, se trans-formou, na década de 90, em uma cidade de 300mil habitantes e com quase 40 grandes hotéisque ofereciam 16.805 unidades. (RIBEIRO eBARROS, 1997)
Momentaneamente, Cancún é um sucesso, eo turista ainda pode se gabar de estar fazendo oque o mercado cunhou como um emblema dis-tintivo de requinte: o turismo ecoarqueológico.Porém, entre o discurso de sustentabilidade e aação concreta, os nativos foram esquecidos. E,segundo a Organização Mundial de Turismo(OMT, 1999), se a comunidade local não parti-cipa e não se beneficia, o empreendimento nãopode ser sustentável.
Para Ribeiro e Barros (1997), o empreendi-mento mexicano, além de excluir os índios, osexplora. Os mexicanos se apropriam do passa-do Asteca, ou seja, indígena, subtraindo-lhe oselementos gloriosos, e, com esses elementos,constroem sua identidade nacional e seumarketing turístico. Ao mesmo tempo, abando-nam os indígenas à mais extrema miséria, poisos estados de Quintana Rôo e Yucatán, que fi-cam na esfera imediata de Cancún, estão entreos mais pobres do México. O antigo nativo-
camponês vai se tornando assalariado de baixarenda. Seus hábitos alimentares, familiares, so-ciais vão se modificando sob a pressão do fluxoturístico, e, o que é mais grave, sua cultura, quedá sentido a sua existência, vai se embotando,se desreferencializando, tornando esse nativo“desenraizado”. Enquanto o turista se diverteno conforto dos resorts de um Méxicoparadisíaco, os descendentes dos maias, que vi-vem em um México real, só têm como opção aguerrilha zapatista como forma de darem algu-ma visibilidade as suas reivindicações.
d – Cancún tupiniquim
Na Bahia, o governo do estado investiu mi-lhões de dólares em infraestrutura, para criar aCancún tupiniquim: o complexo chamado “Cos-ta do Sauípe”. Essa região paradisíaca fica naCosta dos Coqueiros, uma das sete micro-regi-ões que o estado definiu como vocacionadas parao turismo, às quais se reservaram recursos daordem de US$ 2,1 bilhões em infra-estrutura,sendo US$ 737 milhões até o final de 2002. ÀCosta dos Coqueiros estão reservados US$ 164milhões (DÓRIA, 2002).
Em primeiro lugar, construiu-se a “linhaverde”, que liga Salvador a Sergipe pelo litoral,em substituição a antiga rota pelo interior. An-tes, grupos privilegiados, como sempre aconte-ce, adquirem as terras que, após a construçãoda estrada, se valorizam automaticamente.Construída a bela e eficiente rodovia próximaao mar, garantiu-se o acesso confortável a umaregião que guardava praias virgens e vilas rús-ticas de pescadores. Criada a infraestrutura,aportam os capitais estrangeiros que fazem bro-tar um complexo hoteleiro que, por enquanto,tem 4 mil leitos em hotéis cinco estrelas, comcapacidade para receber cerca de 146 mil hós-pedes por ano. Quanto às comunidades, fica-ram à beira do caminho e a ver navios.
Nos planos e discursos dos gestores, circulalivremente a idéia de turismo sustentável. Noentanto, as ações e as conseqüentes repercus-sões nos indicam, mais uma vez, a apropriaçãoindevida de um conceito, apenas para dar um
402 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
O museu e o turismo: a ação educativa para o desenvolvimento sustentável
tom de modernidade ao imprudente imediatismode nossas elites. O projeto envolve dois municí-pios, Mata de São João e Entre Rios, em cujasfaixas litorâneas havia pacatas vilas de pesca-dores, com uma economia de subsistência, va-lores e comportamentos típicos de comunida-des tradicionais.
Segundo Carlos Alberto Dória (2002), quetambém esteve no local em contato com a po-pulação, na Vila do Sauípe, com a construçãodo complexo, a população dobrou rapidamentede 1.500 pessoas para 3.000, e as casas, que háalguns anos atrás dormiam com as portas aber-tas, hoje ostentam grades nas janelas. Essas gra-des são o aspecto visível de um processo de de-sagregação de uma comunidade que perde suasraízes: dos mais velhos, poucos pescam, inclu-sive por causa dos impactos ambientais que fi-zeram desaparecer os peixes. Os mais jovensnão pescam e, por não terem recebidocapacitação para trabalhar nos hotéis ou ematividades artesanais, ficam desocupados. Nãoé difícil imaginar como drogas, violência e pros-tituição são facilmente semeáveis nesses terre-nos baldios.
Segundo Dória (2002, p.6), “para o supri-mento de bens e serviços aos turistas, o com-plexo Costa do Sauípe gerou cerca de 2.000empregos diretos, sendo apenas um terço recru-tado na região. Os demais são provenientes deSalvador.” Segundo depoimentos colhidos peloautor, os hotéis, em função das viagens diáriasde ônibus para transportar os funcionários quemoram em Salvador, chegam a ter encargos so-bre a mão-de-obra em torno de 150%. Tambémos produtos consumidos pelos hotéis vêm deSalvador e saem de 40% a 50% mais caros de-vido ao transporte. Os hotéis ficariamsatisfeitíssimos se pudessem reduzir esses cus-tos, ou seja, empregar e comprar na região.Não o fazem porque alguém se esqueceu de quea sustentabilidade implica na participação ebenefício da comunidade. Porque quem discur-sa sobre sustentabilidade, não capacitou a co-munidade para se beneficiar da nova realidadeque o turismo trouxe, e, assim, o “progresso”que chegou para poucos, trouxe na mala, para
muitos, o fim de um passado de subsistência, enenhuma esperança para o futuro.
2. O museu sustentável
Após termos visto, na primeira parte desteartigo, a interessante evolução que teve o mu-seu em outras partes do mundo, tentaremos ago-ra entender porque o museu entre nós não re-presenta uma peça-chave para o turismo, emespecial o sustentável, e quais as alternativaspara isso.
a – A manutenção dos museus no exterior e acrise dos museus brasileiros
De maneira esquemática, podemos dizer que,até o século XIX, os museus eram sustentadospor instituições ou famílias ricas. No século XX,com a ampliação das funções dos museus e assucessivas crises econômicas pelas quais o mun-do passou, os curadores e diretores de museus,após muita resistência, perceberam que se con-tinuassem à margem da economia de mercadoteriam que fechar suas portas. Assim, encon-tram uma fonte de manutenção no turismo, for-mando fundações e se sustentando com a vendade ingressos, aluguel de espaço para exposição,ministrando cursos, confeccionando e venden-do souvenirs e reproduções e outras formas dearrecadação. (BARRETO, 2001).
No caso do Brasil, ainda estamosengatinhando no turismo cultural. Precisamoscriar as bases de um turismo cultural internopara, em seguida, atrairmos os estrangeiros, ouseja, precisamos, entre outras coisas, fazer comque os nossos museus sejam atrativos para osnossos próprios jovens e adultos.
A crise de visitação de nossos museus sedeve, em parte, à falta de marketing e lingua-gens mais dinâmicas, bem como o que Barreto(2001) indicou, até bem pouco tempo atrás, osmuseus brasileiros trabalhavam com a idéia deque o seu público era apenas de experts. Semdesconsiderar esses aspectos, Pires (2001), aodenunciar o desencantamento de nossos jovensem relação aos museus, aponta o que, em sua
403Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
Gregório Benfica
opinião, é o fator determinante: a tendência quedominou o ensino de história no ensino funda-mental e médio e que ele denomina de a históriasem símbolos. Essa abordagem seria uma rea-ção dos professores a uma história positivista,meramente factual e calcada nos “grandes he-róis”, “grandes feitos” e “datas marcantes”. Ouseja, contra esse ensino de história se levantouuma tendência estruturalista que, optando pelafilosofia da história, focava apenas nas grandessínteses interpretativas, chegando, muitas vezes,à pura doutrinação ideológica. Neste ensino, ainterpretação sobrepujava o fato (PIRES, 2001).
Ao deixar de lado fatos, nomes e datas, e ahistória regional e local, a nova historiografiapós-regime militar colocou em segundo planoelementos simbólicos vinculados à cultura ma-terial, à identidade local e mesmo à nacional(PIRES, 2001). Os professores, como a pontareprodutora desse processo, passaram a nãomais valorizar as visitas aos museus e mesmo afunção destes. Criou-se uma cultura anti-mu-seu.
b – O museu brasileiro e o grande público
Como já comentei anteriormente, os museussurgiram na maior parte da América Latina noséculo XIX, com a intenção de inculcar, naspopulações locais, os padrões científicos e cul-turais dos colonizadores. Os museus brasilei-ros, tanto os históricos, como os de arte, de ar-queologia, de ciências e outros, também segui-ram essa lógica e se inserem, em sua grandemaioria, numa perspectiva museológica maispróxima do tradicional, que se caracteriza pelodistanciamento entre a cultura museológica e ogrande público.
Para que o homem comum se interesse emvisitar o museu, segundo Santos (1993), é ne-cessário que este defina sua filosofia, possibili-tando, assim, comunicar ao público a sua im-portância e o porquê da existência da institui-ção. É preciso também uma interação com acomunidade para que através da participaçãodesta, surja o interesse em relação ao que seráexposto. Também é necessário adaptar os mu-seus para o público pobre, colocando em lin-
guagem popular o significado de cada peça.Ora, o princípio da participação da comuni-
dade que, como já vimos na primeira parte des-se artigo, deu certo em outros lugares no senti-do de garantir a sustentabilidade dos museus, éo mesmo princípio básico do turismo sustentá-vel, e mais, a participação é o exercício da ci-dadania, e cidadania se ensina e se aprende.Logo, a participação que sustentará museus eturismo deveria ser estimulada por uma açãomuseológica de caráter educativo.
c – O museu enquanto instrumento de cida-dania
Segundo Santos (1993), nenhuma etapa dotrabalho museológico é neutra. Entre o obje-to e o museólogo que seleciona, coleta e do-cumenta, estão concepções que determinam oque, como e para quem documentar e expor.Se a orientação do profissional for, de acordocom a Nova Museologia, voltada para a cons-trução da cidadania e a transformação da so-ciedade, ele envolverá a comunidade em to-das as fases de seu trabalho. Essa ação em sié pedagógica e libertadora no sentido de quenão somente é reconhecido à comunidade odireito de obter o retorno da pesquisa do es-pecialista, como também lhe é reconhecida acapacidade de opinar, ao lado do especialis-ta, sobre o que preservar e qual o sentido doobjeto. Esta participação conduz à apropria-ção do bem cultural pelo cidadão e evita aimposição de uma interpretação alienante dossignificados dos objetos. Além disso, para oprofissional do museu, a participação da co-munidade é fundamental para o registro dacultura imaterial.
Porém, no Brasil, tal não ocorre, e Santos(1993), partindo do pressuposto de que todaação museológica é política, articula cidada-nia com preservação, concebendo para issoque:1. A cidadania começa pelo entendimento da
realidade. Esse entendimento se funda-menta no conhecimento da memória his-tórica, a qual permite a apreensão dastransformações sociais e equaciona a
404 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
O museu e o turismo: a ação educativa para o desenvolvimento sustentável
dialética da inovação e da manutenção daidentidade cultural. Ou seja, a memóriafacilita as mudanças conscientes e con-cretas, pois cria e reafirma as raízes quesustentam as mudanças.
2. Conseqüentemente, a preservação deveser um instrumento político para a ampli-ação da cidadania.
Se considerarmos a cidadania como umprocesso que evolve a participação efetiva docidadão nas tomadas de decisão para aefetivação das ações sociais, podemos afir-mar que o cidadão tem sido fortemente exclu-ído do processo de apropriação e preserva-ção do seu patrimônio, logo, não é de se es-pantar que muitos monumentos históricos serevelam absolutamente estranhos para a co-munidade, a qual não reconhece nele a suahistória, sua memória, enfim, sua identidade.(SANTOS, 1993).
Em Salvador, apesar dos costumes e valoresdas classes menos favorecidas permaneceremexcluídos do conceito de bem cultural, algumasações isoladas vêm se desenvolvendo em rela-ção aos rituais populares. O tombamento de ter-reiros de candomblé e o projeto de mapeamentosdos monumentos negros da Bahia – MAMNBA– podem ser citados como exemplo da inclusãode manifestações populares como bem cultural(SANTOS, 1993).
Concluo esta seção reafirmando que a pre-servação da memória social deve constar dosprojetos educativos que visam a formação decidadãos, pois o passado entendido critica-mente, deixa de ser uma idealização para serinspiração para a construção participativa dofuturo.
CONCLUSÃO: A AÇÃO EDUCATIVADOS MUSEUS PARA O TURISMO SUS-TENTÁVEL
Até aqui, este artigo tentou demonstrar queos museus tradicionais, além de serem onerosospara o Estado, só interessam às elites. Tambémtentei demonstrar que o turismo de massa tra-
dicional, além de trazer impactos ambientais esócio-culturais, só beneficia pequenos grupos,muitas vezes estrangeiros. A alternativa que aquidefendo é que, se os nossos governantes que-rem um turismo que não cause impactos negati-vos e que beneficie as comunidades receptoras,devem estimular uma ação museológica junto àcomunidade a qual seja, ao mesmo tempo, umlevantamento e preservação do patrimônio na-tural e cultural, e um processo de capacitaçãopara a economia do turismo. Com isso, os mu-seus se tornam socialmente relevantes e auto-sustentados e, ao mesmo tempo, educam osmembros da comunidade para participarem doplanejamento e da administração do turismolocal. Os exemplos dados na primeira parte desseartigo seriam suficientes para demonstrar essapossibilidade, porém, para reforçar a idéia depossibilidade, encerrarei este texto com maisdois exemplos de regiões pobres que estão con-seguindo a sustentabilidade no turismo atravésda ação museológica.
Um exemplo de sucesso é o santuário dosbabuínos em Belize relatado por Hawkins eKahn (2001). Belize é uma das menores naçõesda América Central continental, com área de22.965 km² e uma economia simples baseadaprincipalmente no cultivo de banana, cana-de-açúcar e frutas cítricas. Sua população, em1999, era de apenas 200 mil habitantes e a ci-dade principal, Belize City, possuía 53.915 ha-bitantes.
Segundo os autores, em uma aldeia rural a52 quilômetros a noroeste de Belize City, em1985 se iniciou um projeto para salvar os ma-cacos guaribas-pretos ameaçados de extinção.Para tal, dezenas de camponeses proprietáriosde terras às margens do rio Belize, que faz fron-teira entre várias propriedades, foram estimu-lados a não desmatar e/ou cultivar as margensdo rio e, dessa forma, garantir um espaço vitalpara os macacos, ao mesmo tempo em que evi-tavam a erosão das margens do rio. Com a par-ticipação da WWF, o santuário se expandiu en-volvendo mais de cem propriedades, e a popu-lação de guaribas-pretos subiu para mais de milindivíduos. O que seria apenas uma ação
405Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
Gregório Benfica
preservacionista logo se transformou em umabem sucedida experiência entre museu e turis-mo com vistas à sustentabilidade: o turismopassou a ser estimulado na região para com-pensar financeiramente os agricultores que dei-xaram de cultivar parte de suas terras e, aomesmo tempo, museus foram criados para ofe-recerem formação escolar para as crianças,capacitação para os adultos e exporem os re-curso naturais da região. O resultado, além dosganhos ambientais, foi que a visitação ao localsaltou de 30 pessoas no ano de 1985 para 6 milem 1990. Se considerarmos que os benefíciosforam canalizados para a comunidade e que estaé de apenas 100 pequenos proprietários, vere-mos que os resultados são altamente positivos.Ganhou-se em preservação, educação e renda.
Um exemplo mais próximo de nós é a Fun-dação Museu do Homem Americano, em SãoRaimundo Nonato, Piauí, que tem como objeti-vo colocar à disposição do público o conheci-mento sobre mais de 400 sítios arqueológicosdo Parque Nacional da Serra da Capivara,
considerado patrimônio da humanidade pelaUnesco. Também é seu objetivo promover odesenvolvimento sustentável em uma regiãopobre em oportunidades de trabalho. Para isso,associa a pesquisa arqueológica com museu desítio, museu ao ar livre e produção de artesana-to com reproduções dos motivos rupestres ca-racterísticos da região. Tudo isso dentro de umaestrutura de turismo cultural (GOMES, 2000).Este tipo de turismo, ao mesmo tempo em que éeducação para os visitantes, é também econo-mia para a comunidade receptora. Esta econo-mia, por sua vez, em um círculo virtuoso, dásustentabilidade ao projeto educacional do mu-seu e mantém a infra-estrutura de serviços quetransformaram a comunidade em receptora deturistas. Em um dos estados mais pobres dopaís, em uma região árida, quente e isolada, queem nada lembra o cartão postal de praiasparadisíacas, vemos que a ação museológica,quando colocada a serviço do turismo sustentá-vel, pode também gerar ganhos em preserva-ção, educação e renda.
REFERÊNCIAS
CAMARGO, Haroldo L. Fundamentos multidisciplinares do turismo: história. In: TRIGO, Luiz, G. G.Turismo: como aprender, como ensinar. São Paulo: SENAC, 2001.
BARRETO, Margarita. Turismo e Legado Cultural. 2. ed. Campinas: Papirus, 2001.DÓRIA, Carlos Alberto. Miami no Haití. In: Revista trópico. Disponível em <http://www.uol.com.br/tropico/>, acessado em 01 nov. 02.
EMBRATUR. Disponível em <http://www.embratur.gov.br/economia>, acessado em 12 dez. 02.
GOMES, Denise M. C. Turismo e Museus: um Potencial a Explorar. In: FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY,Jaime (Orgs.). Turismo e patrimônio Cultural. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2002.
HAWKINS, Donald E. e KAHN, Maryam M. Oportunidades para o turismo ecológico nos países emdesenvolvimento. In: THEOBALD, William F. (Org.). Turismo global. São Paulo: Senac, 2001.
OLIVEIRA, Antônio Pereira. Turismo e desenvolvimento: planejamento e organização. 3.ed. São Paulo:Atlas, 2001.
OMT - Organização Mundial de Turismo. Guia para administraciones locales: desarrollo turístico sostenible.Madri: OMT, 1999.
PAIVA, Maria das Graças de M. V. Sociologia do turismo. 6. ed. Campinas: Papirus, 2001.
PIRES, Mario Jorge. Lazer e Turismo Cultural. São Paulo: Manole, 2001.
406 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 391-406, jul./dez. 2002
O museu e o turismo: a ação educativa para o desenvolvimento sustentável
RIBEIRO, Gustavo L. e BARROS, Flávia Lessa de. A corrida por paisagens autênticas: turismo, meioambiente e subjetividade no mundo contemporâneo. In: SERRANO, Célia M. Toledo & BRUHNS, HeloisaT. (Orgs.). Viagem à natureza: turismo cultura e ambiente. Campinas: Papirus, 1997.
SANTOS, Maria Célia T. Moura. Repensando a ação cultural e educativa dos museus. 2. ed. Salvador:UFBa, 1993.
SERRANO, C. M. de T. Uma introdução à discussão sobre turismo, cultura e ambiente. In: SERRANO,Célia M. Toledo & BRUHNS, Heloisa T. (Orgs.) Viagem à natureza: turismo cultura e ambiente. Campi-nas: Papirus, 1997.
THOMAS, K. O homem e o mundo natural. São Paulo: Companhia das letras, 1996.
WEBER, Marx A ética do protestantismo e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1967.
Recebido em 03.12.02Aprovado em 12.03.03
409Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 409-416, jul./dez. 2002
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios*
RESUMO
Este artigo, baseado no trabalho escolar com a linguagem verbal, apresentareflexões pedagógicas sobre as formas sutis de poder que circulam na sala deaula, e que contribuem efetivamente para a consolidação de práticas de exclu-são/inclusão social marcadas pelas ações, reações e in-terações dos sujeitos delinguagem.
Palavras-chaves: Linguagem – Interação – Poder – Exclusão – Reprodução eresistência
ABSTRACT
THE VERBAL LANGUAGE AND ITS RELATIONS OF POWER: thelinguistic interaction as resistance construct
This article, based on school work with the verbal language, presents peda-gogical reflections on the subtle forms of power that circulate in the class-room,and effectively contribute to the consolidation of practices of social inclusion/exclusion marked by the actions, reactions and interactions of the languagesubjects.
Key words: Language – Interaction – Power – Exclusion – Reproduction andresistance.
Cotidianamente, a escola é marcada por uma complexa trama de relações sociais entre os sujeitos en-volvidos, que incluem alianças e conflitos, imposição de normas e estratégias individuais ou coletivas,de transgressão e de acordos. Um processo de apropriação constante dos espaços, das normas, daspráticas e dos saberes que dão forma à vida escolar. (EZPELETA & ROCKWELL, 1986)
*Professora da Universidade do Estado da Bahia - UNEB/Campus IV; mestre em Educação pela Universitèdu Quebèc à Chicoutimi/UNEB. Endereço para correspondência: Rua da Saudade, 02, Sol Nascente –44.710.000 Serrolândia/Bahia. E-mail: [email protected] ou [email protected]
A LINGUAGEM VERBAL E SUAS RELAÇÕES DE PODER:a interação lingüística como construto de resistência
Os estudos sobre a linguagem, mais especi-ficamente, o papel da escola, seus limites e possi-bilidades nesse contexto, vêm despertando inte-resse nos últimos tempos, firmando-se como li-
nha de pesquisa não mais somente limitada àárea dos estudos da Lingüística e da Literatura,mas incorporando contribuições da Sociologia,Filosofia, Antropologia, entre outras. A noção
410 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 409-416, jul./dez. 2002
A linguagem verbal e suas relações de poder: a interação lingüística como construto de resistência
de linguagem apresenta-se, pois, múltipla,polissêmica.
Tomaremos como embasamento para estareflexão a concepção de linguagem baktiniana,a que vê a linguagem como uma atividadeconstitutiva, cujo locus de realização é ainteração ver-bal, um processo que ocorre entrepelo menos dois indivíduos que interagem atra-vés do signo ideológico – a palavra (BAKHTIN,1929). As discussões e reflexões serão respal-dadas também pelas contribuições filosóficas deFoucault, uma vez que serão discutidas as rela-ções de poder que emanam do trabalho com alinguagem verbal.
As relações que se estabelecem entre a esco-la e a sociedade, entre a linguagem e a escola –e irão provocar a transformação da sociedade –estão baseadas no processo de interação entreos indivíduos. Este processo é conflituoso, poispassa pela construção individual e social, pelojogo de interesses e propósitos diferentes de pes-soas e grupos, pela grande rede de poder que secon-figura nos espaços sociais.
O ato de ensinar é uma ação significativa, sim-bólica e repleta de valores e ideologias. Um atoque envolve uma relação ativa entre dois sujeitosque se inter-relacionam, complementando-se e/ourejeitando-se uns aos outros. A interação profes-sor-aluno é um processo que se dá atra-vés da lin-guagem que, por sua vez, é constitutiva dos sujei-tos sociais e de suas consciências, uma vez que aspalavras, enquanto exercentes das funções de sig-nos ideológicos, somente adquirem sentidos se fo-rem levadas em conta as determinações sócio-his-tóricas dos interlocutores e do contexto do aconte-cimento enunciativo.
Assim, pelo fato de que a relação professor-aluno é mediada pela palavra, a linguagem ga-nha um estatuto de importância significativa noprocesso de individuação, ou de tornar-se sujei-to. É através da relação dialógica que há o res-gate do outro, complementando a categoria doeu. A relação dialógica eu-outro passa a ser fun-damental no processo ensino-aprendizagem, pelofato de que é através das palavras, ou dos dis-cursos, em sua forma oral ou escrita, que se cons-troem a consciência, o conhecimento, os valo-
res, os conceitos, as crenças, enfim, os sujeitossociais.
Neste contexto, situo o meu olhar reflexivosobre a linguagem, levando em consideração omeu contato pessoal, estreito, do dia-a-dia, comalunos da Educação Básica, em uma experiên-cia de uma década de prática efetiva de sala deaula como professora de Língua Portuguesa,onde observei de perto a maneira como os alu-nos da escola pública faziam uso da linguagemver-bal, observando principalmente como a es-cola lidava com esse uso – com as questões prag-máticas da língua. Com alunos vindos de dife-rentes lugares, zona rural e zona urbana, seencontran-do nas suas culturas e falas diversas– a sala de aula passou a ser um grande labora-tório socio-lingüístico. Falas, variedades, diver-sidades... a heterogeneidade se corporificandonos discursos de cada discente; a partir daí pas-sei a indagar sobre as formas que as relações depoder tomam no trabalho com a linguagem ver-bal, propondo-me a discutir a linguagem comoconstruto do poder, enquanto produtora ereprodutora de ideologias.
Para responder a esta questão, recorri às prá-ticas e aos depoimentos de alunos e professoresdas turmas de Aceleração Escolar, numa escolapública no município de Serrolândia, interior daBahia, pessoas que convivem diariamente comessa realidade. E assim descobri que o poder e,conseqüentemente, o saber se consubstanciam apartir de várias ações, reações e interações en-tre sujeitos envolvidos no espaço escolar, situ-ando assim esta reflexão a partir de três eixosdicotô-micos: a linguagem – ser do poder, a lin-guagem – querer do poder, e a linguagem – pro-dução de contra-poder.
Inicio esta reflexão a partir do depoimentode A1, lavradora, doméstica, que estava afasta-da da escola há seis anos e possui uma relaçãoconflituosa com a linguagem:
A professora de português tem um poder. Ela táali com o livro na mão, tem o conhecimento, éformada. Ela sabe usar corretamente a língua,dizer o que é o certo e o que é o errado (...) E oaluno fala e escreve muito errado. (A1)
411Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 409-416, jul./dez. 2002
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
O depoimento de A1 retrata a concepção queo aluno possui do poder, a idéia mítica/tradicio-nal sobre o papel do professor – aquele que sabee, conseqüentemente, aquele que pode. Ele refu-ta a idéia de que o conhecimento, principalmen-te o conhecimento lingüístico, se constrói nasrelações e interações. Nesta fala, ainda que im-plicitamente, está sugerida uma atitude confor-mista, reprodutivista e passiva sobre a lingua-gem. O implícito no depoimento fica por contada ausência de desejo do aluno em ultrapassaros limites lingüísticos instituídos pelo professor,negando assim a possibilidade que a linguagemoferece em agir, reagir e interagir diante dos di-versos usos lingüísticos.
Ao relacionar o saber lingüístico do profes-sor com sua formação acadêmica veiculada àconvivência com materiais didáticos, o alunoinstitui a idéia do saber formal sobre a língua;aquele saber metalingüístico encontrado, prin-cipalmente, nas gramáticas, partindo sempre deum mode-lo a ser reproduzido.
Este depoimento corrobora a idéia veiculadasobre o trabalho com a linguagem escolar, queestá sempre situada diante de dois blocos con-trários e, portanto, impermeáveis entre si. Deum lado, o português escolar, o “bom portugu-ês”. Do outro, a linguagem dos alunos das ca-madas populares. Oposição total, conforme amaioria dos depoimentos analisados, a línguaescolar e suas normas nada têm a ver com alíngua realmente falada pelos alunos. Entre es-tas duas classes lingüísticas, a única relação exis-tente é a de contradição: a fala do aluno difereradicalmente, tanto pela estrutura como pelo sig-nificado, do discurso escolar. Daí nasce a idéiade que existe uma única forma de utilização dalíngua, e o que foge ao padrão é desconsiderada.
Neste espaço a linguagem configura-se naessência (ser) do poder, enquanto elemento quecategoriza os indivíduos, como forma pronta deum modelo específico de sociedade.
Num outro foco de análise, podemos obser-var a linguagem como uma grande representa-ção do querer poder dentro do trabalho escolar;o desejo de poder se corporifica no anseio em
adquirir o saber lingüístico considerado ideal.
O trabalho com a linguagem é muito importan-te na escola, porque ela consegue modificar re-almente o aluno. O trabalho sendo bem feito, oaluno se interessando, a linguagem melhoramuito a sua vida, o aluno passa a querer usá-lade forma correta. (P)
Nas palavras acima, do professor (P), per-cebemos como a linguagem é um elementocentra-lizador da ideologia, do querer poder naescola. A linguagem, nesse momento deixa deser um elemento neutro, passando a ser um ele-mento ideológico e social, configurando-se atra-vés da diversidade, da materialidade discursivadas lutas de classes, da disputa do poder e dadefesa de ideais de correntes ideológicas distin-tas demarcando os sujeitos como pertencentesao grupo dos defensores de tal ideologia ou não.
Disso decorre a estimulação do aluno emdesejar esse poder, uma vez que representa miti-camente a idéia de participação futura no mer-cado de trabalho e de obtenção de um bom em-prego, implicando em melhoria econômica, alémda elevação cultural e social. Uma vez que oindivíduo é efeito do poder e, ao mesmo tempo,seu transmissor, os alunos também buscam exer-cer seus poderes quando exigem este saber quelhes abrirá o espaço para saírem do status quoencontrado.
É papel da escola, do professor passar o portu-guês correto, ensinar como deve ser feito. Por-que eu estou aqui para me dar bem num empre-go, quero deixar de ser costureira, fazer umacoisa melhor. Mudar mesmo de vida. Para istoeu tenho que aprender a escrever, a falar diantedas pessoas de alta soci-edade, dos patrões; en-tão é obrigação da professora mudar minhamaneira de falar. (A2)
No relato de A2, está implícita a ideologiaveiculada pela escola e reforça-se o valor do usoda língua através do padrão que um determina-do grupo social impõe. O falar e o escrever re-presentam para o aluno assumir todos os valo-
412 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 409-416, jul./dez. 2002
A linguagem verbal e suas relações de poder: a interação lingüística como construto de resistência
res e crenças que a escola embute sobre a ma-neira de viver em sociedade.
Gnerre (1988) afirma que, no trabalho coma variedade padrão, são introduzidos conteúdosideológicos fortíssimos, uma vez que as formasàs quais estão associados ficam imobilizadas fa-vorecendo, assim, quase que uma comunicaçãoentre grupos de iniciadores que sabem qual é oreferente conceitual de determinadas palavras,e assegurando que as grande massas, apesar defamiliarizadas com as formas das palavras, fi-quem, na realidade, privadas do conteúdo asso-ciado.
Assim, é uma concepção um tanto ingênuade A2 e do professor (P) acreditar que ter ouoferecer a possibilidade de posse da linguagemda escola – a norma culta – significa garantiade espaço no mercado de trabalho, de tornar-segrupo de domínio e/ou de ser passaporte parauma mudança de vida. Fatores sociais, políti-cos, econômicos e, conseqüentemente, ideológi-cos contribuem para que esse saber não tenhaessa dimensão, transformando-se apenas em umamuleta de sustentação para o silenciamento dasdiversidades na escola.
Este mesmo cotidiano da sala de aula refleteuma experiência de convivência com a diferen-ça. Independente dos conteúdos ministrados, dapostura metodológica dos professores, é um es-paço potencial de idéias, confrontos de valorese visões de mundo, que interferem no processode formação e educação dos alunos. Ao mesmotempo, é um momento de aprendizagem grupal,em que as pessoas estão lidando constantemen-te com as normas, os limites e a transgressão.Nesse espaço, a linguagem, enquanto elementoque orienta a ação e constitui os indivíduos emsujeitos sociais, tem um papel essencial na for-mação de contra-poderes, transformando asações e reações dos alunos em elementos de re-sistência.
Em um outro momento da análise, pautadana concepção baktiniana sobre a linguagem, ena concepção de saber e poder apresentada porFoucault (1979), observo que os alunos passama conceber a linguagem de forma diferente doprofessor, uma vez que eles conseguem perce-
ber/vivenciar a diversidade como algo queextrapola os limites lingüísticos, sendo produzi-da por pessoas que vivem, pensam e agem dife-rentemente. Assim, o conhecimento e todo o pro-cesso pedagógico ganham uma outra conotação,precisando ser apresentados, construídos ereconstruídos de diversas maneiras para torna-rem-se significativos; podemos observar mais deperto através do depoimento de A3:
Eu acho também que a gente pode ter nosso es-paço de acordo com nossa maneira de ser, defalar. A gente não pode achar que não somosninguém. Tem uma história de vida, tem desejoem melhorar a forma de viver, no nosso própriomeio. Eu mesma não tenho a menor intenção desair de onde eu estou, eu quero com a escola,com a escrita, com o português e com as outrasdisciplinas, poder discutir minhas idéia, ampli-ar. (A3)
Na fala de A3, percebo a construção da iden-tidade social, lingüística e ideológica de um sujei-to de linguagem – identidade construída a partirdos aparatos discursivos e instrucionais que odefinem como tal –, consciente do seu papel en-quanto indivíduo dentro do seu espaço social.
Além disso, percebo a aquisição de um sa-ber adquirido num determinado grupo social quevê o conhecimento escolar como uma possibili-dade de análise crítica da realidade, inclusive deanálise crítica do próprio espaço social que é aescola. Assim, na linguagem, a diversidade nãoé apenas a expressão de particularidades domodo de vida, mas aparece como manifestaçãode oposições ou aceitações que implicam umconstante reposicionamento dos grupos sociaisna dinâmica das relações de classe. Dessa for-ma, a hetero-geneidade passa a ter umaconotação político-ideológica.
Com base nessa observação, permito-me de-duzir que o aluno também tem desejo e vontadede poder (FOUCAULT, 1979), vontade de ver-dade, razão pela qual ele não pode ser visto ape-nas enquanto desempenhador de um mero papelpassivo na vivência cotidiana do interior da salade aula. Cada um dos sujeitos é singular, possuisuas histórias de vida, uma dada classe social,
413Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 409-416, jul./dez. 2002
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
interesses particulares, e o signo, que se materi-aliza através do som ou da grafia, produzindopalavras, irá refletir e alterar as pressões tantosociais quanto econômicas, bem como as rela-ções de poder presentes em todo o processointeracional no espaço da sala de aula.
Inspirado em Bakhtin (1929), entendo que osujeito de linguagem se constitui à medida queinterage com os outros; sua consciência e seuconhecimento do mundo resultam como “pro-duto sempre inacabado” desse mesmo processono qual o sujeito internaliza a linguagem e seconstitui como ser social, pois a linguagem éum trabalho social e histórico. Isto implica quenão há um sujeito de linguagem dado, pronto,mas um sujeito se completando e se construindonas suas falas e nas falas dos outros.
A linguagem é um campo de produção de sig-nificados no qual os diferentes grupos sociais,situados em posições diferenciais de poder, lu-tam pela imposição de seus significados à soci-edade mais ampla. O que está centralmente en-volvido nesse jogo é a definição da identidadecul-tural e social dos diferentes grupos, o poderque cada um desempenha sobre o outro e sobresuas próprias construções lingüísticas.
Acredito que o português ensinado na escolapossa me mudar, mas não de forma ruim, poiseu retiro da minha forma de falar e uso a minhaforma de escrever naquilo que me for possível.A gente não pode negar que é necessário mudaralgumas coisa quando começamos a estudar, oque eu não aceito é que se mude a consciênciadas pessoas e que se negue a origem depois doque se aprende na escola. (A3)
Nos vários depoimentos do aluno A3, perce-bi que, pelo seu grande envolvimento nas ques-tões coletivas referentes ao trabalhador rural, eleprima pela participação ativa nas discussões ebriga pela manutenção da identidade de grupo,em todos os seus aspectos. O seu depoimentoacima traz uma concepção amadurecida do queé realmente o processo de interação social vei-culada pela linguagem, no qual a interação lin-güística é vista como um acontecimento que re-úne dois ou mais sujeitos; e tal relação é sempre
mediada pelo signo ideológico construído numprocesso dialógico.
Nota-se que a língua não está sendo vistacomo pronta de antemão, conforme diz Geraldi(1984, p.5) “(...) mas que o próprio processointerlocutivo, na atividade de linguagem a cadavez a (re)constrói (...)”, fazendo com que a lin-guagem seja entendida como atividade dos su-jeitos sociais. E ambos, sujeitos e língua, sãomodificados através do trabalho lingüístico, pois,ao tempo em que os sujeitos se constituem nalinguagem, esta, por sua vez, é constituída pe-los sujeitos na interação verbal. A linguagem aquié entendida como um lugar de interação huma-na, onde o processo interlocutivo só se instituinas interações que a língua favorece. Isto signi-fica dizer que a língua também é um fenômenosocial que sobrevive graças às convenções soci-ais e à produção do discurso, e ela acontece emcontextos sócio-históricos determinados.
Dentro desta perspectiva, a interação é vistacomo um processo social e verbal, no qual osin-terlocutores se constituem enquanto sujeitostanto no plano social quanto no lingüístico, aorealizarem as escolhas verbais possíveis numdeterminado contexto social, político, econômi-co e ideológico. Isso implica dizer que as condi-ções de produção dos sentidos estarão direta-mente vinculadas a tais fatores objetivos que de-limitam as bases concretas do acontecimentodiscursivo.
O que motiva a interação verbal é a busca doconhecimento por parte do aluno, uma vez que éna escola, enquanto sociedade de discurso, que,supostamente, está o conhecimento socialmentereconhecido.
Ao mesmo tempo, porém, existe um outronível, o das interações dos indivíduos na vidaso-cial cotidiana, com suas próprias estruturas,com suas características próprias. É o nível dogrupo social, em que os indivíduos se identifi-cam pelas formas próprias de vivenciar e in-terpretar as relações e contradições, entre si ecom a sociedade, o que produz uma cultura pró-pria. É nele que os indivíduos percebem as rela-ções em que estão imersos, se apropriam dossignificados que se oferecem e os reelaboram,
414 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 409-416, jul./dez. 2002
A linguagem verbal e suas relações de poder: a interação lingüística como construto de resistência
sob a limitação das condições dadas, formando,assim, sua consciência individual e coletiva.
Admite-se, assim, que é no espaço da sala deaula que o poder institucional perpassa os indi-víduos, utilizando as mais variadas mediações,principalmente a linguagem. Mas a sala de aulatambém pode ser percebida como um espaço detransgressão e de criação, ultrapassando, dessaforma, a visão de controle ou de reproduçãosocial. A busca do saber, que é a razão centralda relação professor-aluno, pode ser entendidatambém como um acontecimento em busca dali-berdade.
Dessa forma, esses alunos que chegam à es-cola são o resultado de um processo educativoamplo, que ocorre no cotidiano das relações so-ciais, quando os sujeitos fazem-se uns aos ou-tros, com os elementos culturais a que têm aces-so, num diálogo constante com os elementos ecom as estruturas sociais onde inserem suas con-tradições. Os alunos podem personificar dife-rentes grupos sociais, ou seja, pertencer a gru-pos de indivíduos que compartilham de uma mes-ma definição de realidade, e interpretar de for-ma peculiar os diferentes equipamentos simbó-licos da sociedade.
Assim, a escola é o resultado de um con-fronto de interesses: de um lado, uma organiza-ção oficial do sistema escolar que define con-teúdos da tarefa central, atribui funções, orga-niza, separa e hierarquiza o espaço, a fim dediferenciar trabalhos, definindo idealmente, as-sim, as relações sociais, a criação e transforma-ção; de outro, os sujeitos – alunos, professores,funcionários que criam uma trama própria deinter-relações, fazendo da escola um processopermanente de construção social. Em cada es-cola, interagem diversos processos sociais: areprodução das relações sociais, a criação e atransformação de conhecimentos, a conservaçãoou destruição da memória coletiva, o controle ea apropriação da instituição, a resistência e aluta contra o poder estabelecido. Apreender aescola como construção social implica, assim,compreendê-la no seu fazer cotidiano, no qualos sujeitos não são apenas agentes passivos di-ante da estrutura. Ao contrário, trata-se de uma
relação em contínua construção, de conflitos enegociações em função de circunstâncias deter-minadas.
O trabalho com a linguagem pressupõe queo professor tenha um posicionamento frente àsua diversidade de concepções/funções. A lin-guagem, dentre tantas funções, nem sempre seapresenta de forma agradável, como diz Cagliari(1989); ela também tem um poder, de que falaBourdieu (1975), um poder simbólico. E, porfim, a linguagem está repleta de significações i-maginárias, conforme diz Castoriadis (1982).Isto significa dizer que a língua também é umfato social que sobrevive graças as convençõessociais que são admitidas para ela, além de seruma forma de interação simbólica entre sujeitose a produção do discurso; e ela acontece em con-textos sócio-históricos determinados. Dentre dassignificações imaginárias sociais que constitu-em a linguagem, Castoriadis (1982, p.398) su-blinha que:
(...) uma língua só é língua na medida em quenovas significações ou novos aspectos de umasignificação podem sempre nela emergir... elasó é língua na medida em que oferece aos locu-tores a possibilidade de se realizar em e por aqui-lo que dizem por aí moverem-se, de se apoiarno mesmo para criar o outro, de utilizar o códi-go das designações para aparecerem outras sig-nificações ou outros aspectos das significaçõesaparentemente já dadas.
O conceito de interação é constitutivo dossujeitos e da própria linguagem. A palavra é ideo-lógica, ou seja, a enunciação é ideológica. É nofluxo da interação verbal que a palavra se con-cretiza como signo ideológico, que se transfor-ma e ganha diferentes significados, de acordocom o contexto em que ela surge. Cada época ecada grupo social têm seu repertório de formasde discurso que funciona como um espelho quereflete e retrata o cotidiano. A palavra é a reve-lação de um espaço no qual os valores funda-mentais de uma dada sociedade se explicitam ese confrontam.
Conceber a linguagem nesta perspectiva étambém situá-la como espaço de constituição de
415Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 409-416, jul./dez. 2002
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
relações sociais na quais os falantes se tornamsujeitos e, através dela, esse sujeito que fala pra-tica ações que não conseguiria praticar a nãoser falando. Ela implicará numa postura educa-cional diferenciada, uma vez que situa a lingua-gem como o lugar de constituição de relaçõessociais, onde os falantes se tornam sujeitos. As-sim, a língua e o sujeito se constituem nos pro-cessos interativos. Não se pode desconhecer, nafluidez deste processo, espaços de estabilização,reconhecíveis somente porque correlacionadosàs instabilidades da linguagem e do sujeito. Nesseprocesso, o sujeito constitui-se pelainternalização dos signos que circulam nasinterações, não só verbais, de que participa.
Mais do que ver a linguagem como uma ca-pacidade humana de construir sistemas simbó-licas, concebe-se a linguagem como uma ativi-dade constitutiva, cujo locus de realização é ainte-ração verbal. Por isso, a aquisição da lin-guagem, como salienta Bakhtin (1929), dando-se pela internalização da palavra alheia, é tam-bém a inserção de uma compreensão de mundo.As pala-vras alheias vão perdendo suas origens,tornando-se palavras próprias que utilizamospara cons-truir a compreensão de cada nova pa-lavra, e assim ininterruptamente. É nesse senti-do que a lin-guagem é uma atividade constitutiva:é pelo processo de internalização do que nos eraexterior que nos constituímos como os sujeitosque somos, e, com as palavras de que dispomos,trabalhamos na construção de novas palavras.Por isso, a língua não é um sistema fechado,pronto, acabado, de que poderíamos nos apro-priar. No próprio ato de falarmos, de nos comu-nicarmos com os outros, pela forma como o fa-zemos, estamos participando, queiramos ou não,do proces-so de constituição da língua.
Para Bakhtin (1929), é no fluxo da interaçãoverbal que a palavra se transforma e ganha dife-rentes significados, de acordo com o contextoem que surge; sua realização como signo ideoló-gico está no próprio caráter dinâmico da reali-dade dialógica das interações sociais. O diálogorevela-se uma forma de ligação entre a lingua-gem e a vida, permitindo que a palavra seja opró-prio espaço no qual se confrontam os valo-
res sociais contraditórios. Esses conflitos dina-mizam o processo de transformação social, oqual irá refletir-se irremediavelmente na evolu-ção semântica da língua, buscando um elodinamizador das transformações sociais, quepassa, necessaria-mente, por situar a linguagem,na sua acepção dialógica, como catalisadoradessa mediação. Buscando situar o diálogo noamplo conjunto de textos que constitui a estru-tura simbólica-ideológica de uma cultura,Bakhtin (1929, p.41) ressalta sua preocupaçãocom o contexto ideológico e a forma como esteexerce uma influência constante sobre a consci-ência individual e vice-versa.
(...) as palavras são tecidas a partir de uma mul-tidão de fios ideológicos e servem de trama atodas as relações de caráter social em todos osdomínios. É portanto claro que a palavra serásempre o indicador mais sensível de todas astransformações sociais, mesmo daquelas queapenas despontam, que a-inda não tomaram for-ma, que ainda não abriram caminho para siste-mas ideológicos estruturados e bem formados.A palavra constitui o meio no qual se produzemlentas acumulações quantitativas de mudançasque ainda não tiveram tempo de adquirir umaqualidade ideológica nova e acabada. A palavraé capaz de registrar as fases transitórias, maisíntimas, mais efêmeras das mudanças sociais.
Admitindo que a linguagem é uma atividadeconstitutiva (FRANCHI, 1977), é o trabalholingüístico que nos interessará: o trabalho não énem um eterno recomeçar nem um eterno repe-tir. Por ele a linguagem se constitui marcada pelahistória desse fazer contínuo que a está sem-preconstituindo. O lugar privilegiado desse traba-lho é a interação verbal, que não se dá fora dasinterações sociais, de que é apenas um tipo es-sencial.
Todos os elementos analisados nesta refle-xão levaram-me a ampliar minha visão sobreo processo educacional, uma vez que passei aobservar que o trabalho com a linguagem,assim como todo o trabalho pedagógico estáalém do discurso reprodutivista; que existe naspráticas lingüísticas de cada indivíduo uma
416 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 409-416, jul./dez. 2002
A linguagem verbal e suas relações de poder: a interação lingüística como construto de resistência
vontade própria, uma condução individualmarcada por valo-res, pela cultura advindade um determinado meio social, pela históriaconstruída pelo próprio indivíduo. E que, pormais que a escola negue as diversidades dossaberes, neste caso específico, o saberlingüístico, o aluno o produz, pois ele é umsujeito que age e reage, reproduz, mas pro-duz ideologias, deixando em vários momen-tos o campo de dominado e passando a serelemento de resistência – elemento do própriopoder – dentro do espaço que vai sendo cons-
REFERÊNCIAS
BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do mé-todo sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1929.
BATISTA, A.A.G. Aula de Português: discursos e saberes escolares. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização & Lingüística. São Paulo: Scipione, 1989.
CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1982.
FOUCAULT. Michel. Microfísica do Poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
_____. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 1973.
FRANCHI, Carlos. Linguagem: atividade constitutiva. In: Almanaque 5. São Paulo: Brasiliense, 1977.
GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: exercício de militância e divulgação. São Paulo: Merca-do das Letras, 1996.
_____. Concepções de linguagem e ensino de Português. In: _____. O texto em sala de aula. 2. ed. Cas-cavel: Assoeste, 1984. p.22-24.
GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1996.
Recebido em 30.04.02Aprovado em 15.07.02
truido no seu processo de individualização.Acredito, pois, que a escola pode e deve
ser um espaço de formação ampla do aluno,que a-profunde o seu processo dehumanização, aprimorando as dimensões ehabilidades que fazem de cada um de nós sereshumanos. O acesso ao conhecimentolingüístico, às relações sociais, às experiên-cias culturais diversas deve contribuir assimcomo suporte no desenvolvimento singular doaluno como sujeito sócio-cultural, e no apri-moramento de sua vida social.
417Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 417-424, jul./dez. 2002
Delcele Mascarenhas Queiroz
RAÇA, GÊNERO E EDUCAÇÃO SUPERIOR
Delcele Mascarenhas Queiroz
RESUMO
O texto apresentado constitui-se uma síntese da tese de doutorado intitulada“Raça, gênero e educação superior”, produzida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da FACED/UFB, sob a orientada do Prof. Dr. Antô-nio Sérgio A. Guimarães e do Prof. Dr. Robert Verhine, defendida em 21/12/01.A tese trata das desigualdades entre os segmentos raciais e de gênero no sistemaeducacional, analisando o ensino superior e elegendo como espaço empírico aUniversidade Federal da Bahia. O trabalho examina a participação de estudan-tes na UFBA, no período 1993 a 1997, seu desempenho no vestibular e nocurso, e o nível de prestígio do curso freqüentado, a partir da cor e do gênero.
Palavras-chave: Raça – Gênero – Educação – Desigualdade – Ensino Superior
ABSTRACT
RACE, GENDER AND SUPERIOR EDUCATION
The text presented is constituted of a synthesis of the doctorate’s thesis entitled“Race, gender and superior education”, produced according to the Program ofGraduation in Education of FACED/UFB, under the guidance of professor Dr.Antônio Sérgio A. Guimarães and professor Dr. Robert Verhine, defended on21/12/01. The thesis tackles the inequalities between the racial and gendersegments in the educational system, analyzing the superior education and electingthe Universidade Federal da Bahia as an empirical space. The work examinesthe participation of students at UFBA, from 1993 to 1997, their performance inthe entrance exams and in the course, and the level of prestige of the courseattended, departing from color and gender.
Key words: Race – Gender – Education – Inequalities – Superior Education
Neste texto, apresento as principais conclu-sões da tese de doutorado defendida no âmbitodo Programa de Pós-Graduação em Educaçãoda Universidade Federal da Bahia, em dezem-bro de 2001. A tese trata do tema das desigual-dades entre os segmentos raciais e de gênero nosistema educacional, analisando o ensino supe-rior e elegendo como espaço empírico a Univer-
sidade Federal da Bahia. Examino a participa-ção de estudantes na Universidade, no período1993 a 1997, seu desempenho no vestibular eno curso, e o nível de prestígio do curso fre-qüentado, a partir da cor e do gênero. A escolhada UFBA decorre da sua condição de universi-dade pública e gratuita, a mais antiga e conside-rada de maior prestígio social no Estado, com
418 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 417-424, jul./dez. 2002
Raça, gênero e educação superior
maior diversificação de cursos e que oferece,anualmente, o maior número de vagas. A pretensão da tese é aportar alguma contri-buição à compreensão das desigualdades raci-ais e de gênero no sistema de ensino, demons-trando que brancos e não-brancos, homens emulheres participam desigualmente do ensinosuperior. Pretende, ainda, contribuir para a cons-tituição de uma base de informações que sirvade subsídio à formulação, nos diversos níveisdo sistema de ensino, de medidas de intervençãopara correção das profundas desigualdades ra-ciais e de gênero, presentes na educação brasi-leira. As informações aqui analisadas foram, emparte, fornecidas pelo Centro de Processamentode Dados da UFBA e pela Secretaria Geral deCursos da Instituição e, em parte, coletadas di-retamente. A tese se compõe de sete capítulos,sendo uma introdução, cinco capítulos de análi-se e uma conclusão e, ao final do texto, encon-tra-se um anexo metodológico no qual são ex-plicados os procedimentos e apresentados os ins-trumentos adotados na sua construção. No capítulo de Introdução, justifico a relevân-cia de abordar o tema das desigualdades raciaise de gênero no ensino superior, por ser este umponto privilegiado para examinar a atuação dosistema de ensino na reprodução das desigual-dades sociais, assinalando que os estudos, nocampo da educação, têm se voltando,freqüentemente, para as desigualdades de cará-ter econômico negligenciando a importância deoutros marcadores sociais, como a raça e o gêne-ro, que concorrem, fortemente, para a equação queexclui significativas parcelas da sociedade dasoportunidades de acesso ao sistema educacional,sobretudo no seu patamar mais elevado. Argumento que a invisibilidade da raça, comoum mecanismo de geração de desigualdades, estáfundada na visão do Brasil como uma democra-cia racial, segundo a qual os brasileiros desfru-tariam de uma situação harmoniosa e equilibra-da em termos de tratamento e de acesso aos benssociais. Refiro-me aos estudos que, a partir dosanos 60, do século passado, passam a evidenci-ar as desigualdades raciais presentes na socie-dade brasileira e que, nos anos 70 e 80, vão to-
mar as estatísticas oficiais para revelar as pro-fundas desvantagens que penalizam o segmentonegro, mesmo decorrido quase um século daextinção do trabalho escravo. Esses estudosapontam como elementos responsáveis pela per-petuação da estrutura desigual de oportunida-des entre brancos e negros no Brasil, o padrãode segregação geográfica, condicionado pelaescravidão e reforçado pela política migratóriapor um lado, e, por outro, as práticas racistas,exercida contra os negros os quais impedem suamobilidade social ascendente, na medida em queos obriga a regular suas aspirações “de acordocom o que é culturalmente imposto e definidocomo o ‘lugar apropriado’ para as pessoas decor” (HASENBALG, 1979, p.181). O sistema educacional se apresenta como umdos espaços da reprodução dessa estrutura desi-gual, determinando que a condição racial do es-tudante defina o seu destino escolar. Para os es-tudantes negros, que vêm em geral de escolaspúblicas, com precárias condições, chegar àsportas da universidade significa entrar num con-fronto extremamente desigual, enfrentando com-petidores com uma história escolar bastante dis-tinta. Os que conseguem “driblar” o obstáculorepresentado pelo vestibular seguem, quase sem-pre, prisioneiros desse destino, ao ter reservadopara si um lugar de menor importância dentrodas opções oferecidas pelo ensino superior. Des-sa perspectiva, opera-se, no sistema de ensino,um processo perverso de inclusão cuja finalida-de é excluir. Esse processo, que atinge, sobretu-do, os negros, atua de forma “branda”, “contí-nua”, “desapercebida” e, por isso mesmo, efici-ente; um processo de violência simbólica. Assim, ao longo do trabalho, demonstro que,apesar da inexistência de barreiras formais dediscriminação racial no acesso ao sistema supe-rior de ensino, os estudantes negros estão sujei-tos a um forte processo de exclusão. As condi-ções de desvantagem a que estão submetidosesses segmentos raciais resultam por constituir-se em poderosos obstáculos ao seu acesso à uni-versidade, determinando que na UFBA eles apre-sentem um desempenho mais modesto no ves-tibular, estejam sub-representados, com relação
419Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 417-424, jul./dez. 2002
Delcele Mascarenhas Queiroz
ao peso do seu contingente na população baiana,e alijados daquelas áreas e cursos mais valori-zados, que representarão, futuramente, maioresganhos no mercado de trabalho. Argumento que assim como a raça, também ogênero tem sido um elemento acionado paramarcar distinções no mundo social. Historica-mente, as diferenças puramente biológicas entreos seres humanos foram convertidas em dife-renças sociais, em desigualdades, determinandoum lugar diferenciado para homens e mulheresna sociedade. Isso determinou que as mulheresfossem, social e politicamente, segregadas aolongo de história e tivessem sua presençainvisibilizada, na medida em que limitada à es-fera do privado, ao mundo doméstico. Hoje, de-corrido mais de um século de luta organizadadas mulheres, e contando com as significativasconquistas do grupo feminino, no que se refereà ocupação de espaços no mercado de trabalhoe na educação, as distâncias entre homens emulheres são ainda consideráveis. Apesar daexpressiva presença das mulheres no sistema deensino, os espaços mais valorizados do ensinosuperior revelam a permanência da “tradicionaldivisão de trabalho entre os sexos”(BOURDIEU; PASSERON, 1973, p.31). Deste modo, busquei demonstrar que, mesmoante os consideráveis avanços na situação soci-al da mulher, sobretudo nas últimas décadas, eapesar da reduzida distância na participação dehomens e mulheres na população investigada,as imagens de gênero e as expectativas em tornodo papel social da mulher seguem, ainda, deter-minando o desempenho e direcionando as esco-lhas femininas. No primeiro capítulo, tomando a idéia de raçacomo uma construção social, que se refere aosignificado conferido pelas pessoas aos atribu-tos físicos e que atua no mundo social para de-marcar o lugar dos indivíduos e grupos, exami-no estudos que mostram como essa noção foi-seconstituindo historicamente, desde a visão daraça apenas como linhagem, sem nenhumaconotação biológica, até assumir, no século XIX,com o chamado racismo científico, o caráter deherança física, pressupondo a existência de uma
relação entre características biológicas e atri-butos morais e culturais e de uma conseqüentehierarquia entre os grupos humanos. Recorro aos estudos que evidenciam como asteorias raciais, concebidas no mundo europeucomo uma visão hierarquizada das raças e ne-gativa da mistura entre elas, sofrem uma adap-tação ao chegar ao Brasil. Para dar conta doavançado processo de mestiçagem presente nasociedade brasileira e articulando-se ao projetode cunho nacionalista, a idéia pessimista da mis-tura entre as raças metamorfoseou-se num elo-gio à miscigenação e numa crença no processode branqueamento do povo brasileiro. Dessearranjo, emerge um sistema peculiar dehierarquização em que a raça se associa a ou-tros indicadores de status, atuando como umcritério de classificação social. Para compreender esse singular arranjo, abor-do o debate em torno dos sistemas de classifica-ção racial, praticados no Brasil, no centro doqual está a crítica às categorias de classificaçãoracial utilizadas pelas pesquisas oficiais. Paraos críticos, as categorias do Censo anulariam ariqueza e a ambigüidade da terminologia racialusada pela população. Os defensores do siste-ma de classificação oficial argumentam, no en-tanto, que, mesmo que as categorias censitáriaslimitem a riqueza da terminologia usada no co-tidiano e reduzam sua ambigüidade, ela estariaconseguindo expressar o modo como a maioriada população é percebida e se percebe racial-mente, sendo, portanto, adequada a sua adoção. Partindo das hipóteses propostas por esse de-bate, examinei as informações, comparando osdistintos modos de classificação, na busca deverificar aproximações e divergências entre eles,e o efeito de variáveis relacionadas ao statussocioeconômico sobre o modo como as pessoasse classificam e são classificadas, na realidadebrasileira. A análise da classificação racial dos estudan-tes da UFBA, utilizando distintos procedimen-tos e esquemas classificatórios, confirmou aexistência de um modo singular de classifica-ção, caracterizado pelo uso de uma variada ter-minologia racial. Contudo, evidenciou também
420 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 417-424, jul./dez. 2002
Raça, gênero e educação superior
que, apesar dos vinte e três termos apresentadosespontaneamente pela população investigada,para identificar sua cor ou raça, mais de 90%das respostas concentravam-se em apenas seiscategorias (branco, pardo, moreno, negro, mo-reno claro e preto), três delas pertencentes aoesquema censitário (branco, pardo, preto). Maisde sete em dez estudantes se classificaram es-pontaneamente utilizando-se de categorias de usodo IBGE (branco, pardo, preto, amarelo e indí-gena), contrariando, portanto, a hipótese doscríticos desse esquema classificatório. O cruzamento entre os dados obtidos porautoclassificação espontânea com os obtidos porautoclassificação induzida, pelas categorias ofi-ciais, revelou razoável consistência entre essasduas formas de classificação. Aqueles que sehaviam classificado espontaneamente com ascategorias censitárias, voltaram a fazê-lo, emproporções bastante elevadas, na mesma cate-goria. A comparação entre a autoclassificação es-pontânea e a classificação atribuída pelo pes-quisador mostrou também uma considerável pro-ximidade entre esses dois esquemas, indicandoque uma proporção bastante expressiva de in-formantes se havia classificado espontaneamentecom categorias desse esquema classificatório,isto é, como brancos, morenos, mulatos e ne-gro. A comparação entre os três modos de classi-ficação mostrou aproximação entre eles, de modoque, ao contrário do que afirmam alguns analis-tas, se poderia falar de um relativo consenso emtorno do modo como as pessoas se classificam esão classificadas na sociedade brasileira, evi-denciando que esse sistema não é tão anárquicocomo se poderia supor. Uma outra conclusão que emerge da análiseé que, se, por um lado, as evidências sugerem apersistência da idéia de branqueamento, na me-dida em que o recurso a uma grande variedadede termos sugere uma preocupação em distanci-ar-se do pólo mais escuro da escala de cor, poroutro, a tendência dos mestiços a reclassificarem-se com categorias do pólo escuro, aponta para oreconhecimento de uma identidade não-branca.
A articulação entre cor e outras variáveisindicadoras de status confirmou que a classifi-cação racial é afetada por essas variáveis, fa-zendo com que à gradação na situaçãosocioeconômica corresponda uma gradação nacor, de modo que a cor mais clara está associa-da ao status socioeconômico mais elevado. Aanálise mostrou que as pessoas que desfrutamde um status mais elevado se vêem e são vistascomo mais claras, enquanto que as pessoas quedesfrutam de um status menos elevado vêem asi próprias e são também vistas como mais es-curas. No segundo capítulo, examino a participa-ção dos segmentos raciais na UFBA, compa-rando com a sua presença no conjunto da popu-lação do estado, e analiso o perfil da sua distri-buição pelas áreas e cursos da Universidade. Recorrendo à literatura que trata da articu-lação entre raça e educação, assinalo que, a partirdos anos 80, estudos empíricos passaram a evi-denciar, mais enfaticamente, as desigualdadesraciais no acesso às oportunidades educacionais.Esses estudos, no entanto, têm frequentementeenfocado o ensino básico que é o ponto em quefica retida a maioria dos estudantes negros. Sãoainda bastante escassas as pesquisas sobre a pre-sença de negros nos níveis mais avançados dosistema educacional. Inicio a análise dos dados constatando que,sendo uma universidade de funcionamento pre-dominantemente diurno, a UFBA já exclui doseu âmbito uma parcela considerável daquelesestudantes que não poderão abrir mão do traba-lho durante a realização do curso. Assinalo que, apesar da ausência de meca-nismos formais de discriminação racial, a UFBArevelou-se um território de predomínio de bran-cos e morenos. Embora representando aproxi-madamente quatro quintos da população baiana,os mulatos e pretos são apenas um quarto dosestudantes aí presentes. Ao agregar brancos emorenos, percebe-se que mais de sete em cadadez estudantes pertencem a esse conjunto, en-quanto os mulatos e pretos não chegam a trêsem dez. Examinando isoladamente o contingen-te preto, percebe-se que sua participação não
421Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 417-424, jul./dez. 2002
Delcele Mascarenhas Queiroz
chega a um em dez estudantes. Mostro que à UFBA tem acesso uma popula-ção predominantemente jovem e solteira, resi-dente na Capital, proveniente de escolas priva-das e de cursos de caráter propedêutico, comreduzida experiência em curso pré-vestibular, emconcurso vestibular e no mercado de trabalho, oque indica trajetórias escolares realizadas emcondições bastante favoráveis, caracterizadaspela literatura como “circuitos virtuosos”, su-gerindo que a realização de estudos mais avan-çados demarcou, desde muito cedo, o horizontede formação desses estudantes (NOGUEIRA,2002, p.128). Sua parcela mais expressiva vemde famílias com renda superior a dez saláriosmínimos, com escolaridade de nível superior ecujos pais, numa proporção elevada, são profis-sionais liberais, proprietários de pequenas em-presas, administradores e profissionais de nívelsuperior. A história escolar e o status familiardesses estudantes mostram, portanto, que àUFBA tem acesso um contingente, em geral,bastante privilegiado. O perfil do estudante mulato e preto aí pre-sente mostra-se, no entanto, diferenciado dessepadrão. Está entre eles o contingente que ingressana universidade mais tardiamente, vindo de es-colas públicas, e de cursos profissionalizantes,que associou trabalho e estudos na sua trajetó-ria na escola básica, que freqüentou curso pré-vestibular e conta com maior número de tentati-vas de ingressar na Universidade, aspectos querevelam a fragilidade do passado escolar dessesestudantes. A proporção mais elevada, entre eles,de estudantes oriundos de cursosprofissionalizantes indica a urgência por um es-paço no mercado de trabalho. É freqüente, entremulatos e pretos, a presença de famílias comrenda inferior a dez salários mínimos, pais combaixa escolaridade e ocupações não qualifica-das. As distinções entre os segmentos raciais pre-sentes na UFBA não se esgotam ai. A umaseletividade que se opera no ingresso,corresponde outra que se dá ao nível do curso aque têm acesso. O prestígio social do curso evi-dencia, com maior nitidez, a distância entre es-
ses segmentos. Aí, a distribuição obedece a umagradação de prestígio e cor em que a cor maisclara corresponde a cursos de mais elevado pres-tígio social, enquanto que a cor mais escura estáassociada a cursos de menor prestígio. Entre osdez primeiros cursos em que os brancos e more-nos estão melhor situados, oito são de Alto pres-tígio social; são eles: Direito, Psicologia, Odon-tologia, Medicina, Administração, Arquitetura,Engenharia Civil e Ciência da Computação. Osmulatos e pretos, além de minoritários na UFBA,estão melhor representados nos cursos dos ní-veis inferiores da escala de prestígio. À medidaque se reduz o prestígio do curso, aumenta apresença de mulatos e pretos. Dentre os dez cur-sos em que estes segmentos raciais estão melhorsituados, nenhum ultrapassa o nível Médio deprestígio; pela ordem: Estatística,Biblioteconomia, Química, Matemática, Letras,Desenho e Plástica, Física, Instrumento, Geo-grafia e Licenciatura em Ciências do 1o Grau.Entre os vinte cursos em que eles comparecemnuma proporção superior a um terço, apenasquatro ultrapassam o nível de prestígio Médio enenhum deles se situa no nível de Alto prestígio. Confirmando conclusões de outros estudiosos,os dados revelaram uma associação entre a es-colaridade do pai e o nível de prestígio do cursoem que se encontra o filho, de modo que aquelesque estão em cursos de elevado prestígio socialsão, predominantemente, filhos de pais com ele-vada escolaridade, o que penaliza os mulatos epretos, que estão mais representados no grupode pais com baixa escolaridade. A análise evidenciou, deste modo, que a UFBAé um espaço privilegiado de inserção de bran-cos e morenos, indicando que a contrapartidado aumento da participação de mulatos e pre-tos, que parece estar se verificando mais recen-temente, é a sua presença em cursos de baixavalorização, cuja conseqüência é o ingresso nomercado de trabalho em espaços ocupacionaisde menor importância, com salários pouco atra-entes, renovando-se assim o ciclo da reprodu-ção das desigualdades. No terceiro capítulo, examino a participaçãode homens e mulheres dos distintos segmentos
422 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 417-424, jul./dez. 2002
Raça, gênero e educação superior
raciais, buscando compreender de que modovariáveis relacionadas à escolarização anteriore a outros aspectos da trajetória do estudanteassociados à cor e ao gênero, determinam suasescolhas. Parto do conceito de gênero como uma cons-trução social elaborada a partir do sexo, enquan-to uma característica biológica, para dar contada situação diferenciada de homens e mulheresno ensino superior. Examino a literatura sobre otema e destaco a atuação, no sistema de ensino,de mecanismos de reprodução de imagens degênero e de manutenção dos tradicionais papéissexuais. Evidencio que a desigualdade na UFBA seexpressa, também, de modo significativo, entrehomens e mulheres, mas que as maiores desvan-tagens atingem às mulheres mulatas e pretas. Constato que, apesar dos significativos avan-ços na situação social da mulher e da sua ex-pressiva presença na UFBA, as expectativas dasociedade em geral e do grupo familiar, em par-ticular, agindo sobre a mulher, desde muito cedo,direcionam suas escolhas para o que é esperadocomo o papel feminino. Assim, não é difícil com-preender porque, num mundo em que a partici-pação da mulher é cada vez mais ampla e numespaço onde elas estão representadas quase quenas mesmas proporções que as dos homens, si-gam se distanciando das atividades tradicional-mente desempenhadas por eles e busquem, ain-da hoje, carreiras identificadas com as ativida-des do mundo privado, aquelas reconhecidascomo “tipicamente femininas”. Mostro que embora representado a maioria noconjunto da população do Estado e da PEA, sen-do a maioria dos que concluem a educação bá-sica e que freqüentaram escolas privadas no se-gundo grau, as mulheres estão presentes naUFBA numa proporção inferior à dos homens. Argumento que a busca, pelas famílias, poruma escola privada está relacionada às repre-sentações sobre os gêneros, à idéia de maior fra-gilidade feminina mostrando que, embora oshomens provenham em maior proporção de fa-mílias com mais elevado patamar de renda, sãoas mulheres a maioria daqueles que vêm de es-
colas que representam maiores gastos para asfamílias, sugerindo, deste modo, que as famíli-as optam por manter suas filhas afastadas daescola pública. Esse fenômeno é observado, so-bretudo, nos níveis mais baixos de renda, inclu-sive entre mulheres pretas, aquelas mais expos-tas a desvantagens. Nas faixas mais elevadas derenda, acima de dez salários mínimos, são oshomens a maioria dos que vêm de escolas priva-das. Assim, apesar da vantagem feminina repre-sentada pela realização dos estudos de segundograu numa escola privada, os homens seguemsendo a maioria dos que ingressam na UFBA.Isso mostra que estereótipos e expectativas so-bre os gêneros atuam diferentemente sobre ho-mens e mulheres, favorecendo a eles. A distribuição por gênero nas áreas de con-centração do ensino superior confirma os resul-tados de outros estudos que já haviam apontadopara a participação do contingente feminino nasáreas de caráter humanístico, nas quais se con-centra uma proporção maior de carreiras de bai-xa valorização. Assim, as mulheres estão me-lhor situadas na área de Filosofia e Ciências Hu-manas, onde está um maior número de carreirasditas “femininas”, como Psicologia, Pedagogiae muitas outras voltadas para o magistério, quesão, tradicionalmente, espaços cativos das mu-lheres. Nessa área, as mulheres pretas têm suamais elevada participação. A presença femininaé também expressiva na área de Ciências Bioló-gicas e Profissões de Saúde, nas quais se locali-zam algumas carreiras tradicionalmente femi-ninas como Enfermagem e Nutrição. As mulhe-res pretas têm, também aí, uma participação sig-nificativa. Nas áreas de Letras e Artes, a parti-cipação feminina é também mais elevada que amasculina. Na área de Letras, as mulheres pre-tas estão melhor representadas que as demais.Em Artes, enquanto os homens têm participa-ção mais expressiva em Desenho Industrial eComposição e Regência, as mulheres estão me-lhor situadas em Artes Plásticas e Decoração,tidas, do ponto de vista do mundo produtivo,como de menor importância e, até mesmo, en-voltas numa certa puerilidade, característica atri-
423Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 417-424, jul./dez. 2002
Delcele Mascarenhas Queiroz
buída, freqüentemente, às mulheres. As mulhe-res pretas têm nessa área uma participação re-lativa que corresponde a pouco mais da metadedo conjunto das estudantes. Em algumas carrei-ras, como Desenho Industrial, Instrumento eDireção Teatral, elas estão ausentes. Na área deMatemática, Ciências Físicas e Tecnologia, asmulheres têm presença discreta. Apenas em Ar-quitetura elas têm uma participação levementesuperior à masculina. Embora consideradas “femininas”, chamaatenção a presença masculina nas carreiras vol-tadas para o magistério, tendência que já haviasido apontada por outro estudo, para as últimasduas décadas. No contexto das transformaçõesque vêm ocorrendo no mercado de trabalho con-temporâneo, essa tendência pode ser entendidacomo um avanço dos homens por espaços antesdisponíveis para as mulheres, em decorrência daredução das oportunidades de ocupação em ou-tras áreas. Apesar da presença feminina mais reduzidana área de Matemática, Ciências Físicas eTecnologia, é também possível constatar, comojá fizeram outros estudos, que as mulheres es-tão conseguindo se inserir nesse espaços, tradi-cionalmente masculinos, que são as carreirastécnicas, rompendo de algum modo as barreirasa seu acesso a esse território masculino. Assim, o que se pode perceber é que o privilé-gio da concentração em carreiras de mais eleva-do prestígio social cabe aos homens brancos; aíestá presente mais da metade do seu contingen-te. Em seguida, estão os homens morenos, asmulheres brancas, os homens mulatos, as mu-lheres morenas, os homens pretos e, por fim, asmulheres pretas, mostrando que há, portanto,uma articulação entre gênero e raça que deter-mina que as melhores posições sejam apropria-das pelo contingente masculino e pelas pessoasmais claras. No quarto capítulo, analiso o desempenho dosestudantes segundo a cor, o gênero e o statussocioeconômico, tomando dois momentos do seutrajeto acadêmico: o vestibular e o terceiro se-mestre do curso. Evidencio a articulação entre cor, status e de-
sempenho, mostrando que a UFBA revelou-seum espaço pouco permeável à presença dos es-tudantes dos níveis inferiores de status, entre osquais os mulatos e pretos estão mais representa-dos; são dos brancos e moremos, e daqueles demais elevado status, os melhores resultados aca-dêmicos. Assinalo que, apesar da disputa pelas carrei-ras de mais elevado prestígio favorecer aos bran-cos e de mais elevado status, merece destaque aatuação dos mulatos e pretos no curso de Medi-cina, o de maior concorrência e considerado ode mais elevado prestígio social da UFBA. Édeles o melhor desempenho nos dois momentosanalisados. A associação entre gênero e desempenho re-velou a desvantagem feminina em situação queenvolve competição, como a que caracteriza ovestibular, mostrando a atuação das imagens degênero sobre o desempenho feminino. Contudo,a análise do rendimento dos estudantes no cursodemonstra a superioridade feminina, em todasas áreas, destacando-se o desempenho das estu-dantes do segmento mulato e preto, nos cursosde mais elevado prestígio. É também destacávelo rendimento das mulheres em muitos cursosconsiderados “masculinos”, o que aponta paraa superação do padrão de socialização que con-duz as mulheres para profissões assemelhadasao seu tradicional papel, no mundo privado. No quinto capítulo, através de um modelo deanálise multivariada, examino a trajetória dasvaráveis mais significativas envolvidas no estudo,buscando verificar qual a contribuição das variá-veis independentes, para determinar a variável de-pendente. Assim, pude verificar que a cor, o statussocioeconômico e a renda da família, a escola desegundo grau e a condição de ocupação do estu-dante foram as variáveis que melhor explicaram oseu desempenho no vestibular, o seu rendimentono curso e o prestígio do curso escolhido. Embora as variáveis renda e statussocioeconômico tenham apresentado, dentro domodelo de análise, uma contribuição mais elevadaque a cor para a inserção do estudante em cursosde elevado prestígio, a cor tem uma contribuiçãoindependente que não se confunde com o efeito
424 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 417-424, jul./dez. 2002
Raça, gênero e educação superior
das demais variáveis, indicando que são dos estu-dantes brancos e morenos as maiores chances deacesso a esses cursos. O impacto da variável cormostrou-se significativo, ainda, para explicar o de-sempenho do estudante no vestibular, indicandoque os brancos e morenos apresentam o melhordesempenho. As evidências resultantes desse procedimento,
ao mostrar isoladamente a contribuição de cadaum desses fatores, são significativas porque con-trariam a idéia segundo a qual a desvantagem queatinge aos mulatos e pretos advém, exclusivamen-te, da sua condição socioeconômica. A análise de-monstra, desta forma, que sobre os mulatos e pre-tos recai uma desvantagem específica que está as-sociada, diretamente, à sua condição racial.
REFERÊNCIAS
BOURDIEU P. y PASSERON J. C. Los estudiantes y la cultura. Buenos Aires: Labor, 1973.
HASENBALG, C. Discriminação e desigualdade racial no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Graal,1979.
NOGUEIRA, Maria Alice. A construção da excelência escolar: um estudo de trajetória feito com estudan-tes universitários provenientes das camadas médias intelectualizadas. In: NOGUEIRA, Maria Alice;ROMANELLI, Geraldo e ZAGO, Nadir (orgs). Família e escola: trajetórias de escolarização em camadasmédias e populares. Petrópolis: Vozes, 2000. p.125-154.
Recebido em 25.11.02
Aprovado em 26.02.03
425Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Edméa Oliveira dos Santos
AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM:POR AUTORIAS LIVRES, PLURAIS E GRATUITAS
Edméa Oliveira dos Santos*
RESUMO
Estamos vivenciando um tempo de grandes banalizações, sobretudo do pontode vista de alguns conceitos fundamentais para o exercício de práticascomunicacionais e educacionais em nosso tempo. O conceito de ambientes vir-tuais de aprendizagem – AVA – é um desses conceitos. O artigo procuradesmistifica o conceito, ilustrando sua potencialidade a partir da emergência dociberespaço, mostrando possibilidades concretas de criação e gestão AVA utili-zando recursos gratuitos do próprio ciberespaço. Além disso, procuro chamar aatenção dos educadores e educadoras acerca da qualidade de alguns AVA, fa-zendo uma análise crítica de um curso disponibilizado gratuitamente na Internet,na qual sinalizo problemas e banalizações de conceitos e práticas referentes àinterface educação, comunicação e tecnologias.
Palavras-chaves: Ambientes virtuais de aprendizagem – Ciberespaço – Interfacesgratuitas – E-learning
ABSTRACT
VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS: BY UNRESTRICTED, PLU-RAL AND FREE AUTHORING
We are experiencing times of great triteness, specially from the point of view ofsome fundamental concepts for the exercise of communicational and educationalpractices in our time. The concept of virtual learning environments – AVA – isone of them. The article seeks to dysmistify the concept, illustrating its potentialityfrom the emergence of cyberspace, showing concrete possibilities of creationand AVA management using free of charge resources from the cyberspace itself.Furthermore, I attempt to draw the attention of educators over the quality ofsome AVA, performing a critical analysis of a course made available free ofcharge in Internet, in which I signal problems and triteness of concepts andpractices referring toto the education, communication and technologies interface.
Key words: Virtual learning environments – Cyberspace – Free of chargeinterfaces – E-learning
* Pedagoga, mestre e doutoranda em Educação pela FACED/UFBA – Universidade Federal da Bahia;professora do Curso de Pedagogia da UNEB – Universidade do Estado da Bahia. Endereço para correspon-dência: Condomínio Vilas do Imbuí, Ed. Jaciara, apt 102, Imbuí, Salvador/BA. E-mail: [email protected]
426 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Ambientes virtuais de aprendizagem: por autorias livres, plurais e gratuitas
Desmistificando o conceito deambientes virtuais de aprendiza-gem
Ambientes virtuais de aprendizagem, expres-são muito utilizada contemporaneamente por edu-cadores, comunicadores, técnicos em informáticae tantos outros sujeitos e grupo/sujeitos interessa-dos pela interface educação e comunicação commediação tecnológica, mas especificamente pelasrelações sócio-técnicas entre humanos e redestelemáticas de informação e comunicação. Masafinal o que quer dizer AVA, ambientes virtuais deaprendizagem?
Por ambientes podemos entender tudo aqui-lo que envolve pessoas, natureza ou coisas, ob-jetos técnicos. Já o virtual vem do latim medie-val virtualis, derivado por sua vez de virtus, for-ça, potência. No senso-comum, muitas pessoasutilizam a expressão virtual que designa algu-ma coisa que não existe como, por exemplo:“meu salário este mês está virtual”, “no municí-pio X tem tanta corrupção que 30% dos eleito-res são virtuais”. Enfim virtual, nos exemploscitados, vem representando algo fora da reali-dade, o que se opõem ao real.
Lévy (1996), em seu livro O que é o virtu-al?, nos esclarece que o virtual não se opõe aoreal e,.sim, ao atual. Virtual é o que existe empotência e não em ato. Citando o exemplo daárvore e da semente, Lévy explica que toda se-mente é potencialmente uma árvore, ou seja, nãoexiste em ato, mas existe em potência. Ao con-trário dos exemplos citados no parágrafo ante-rior, o virtual faz parte do real, não se opondo aele. Por isso, nem tudo que é virtual necessaria-mente se atualizará. Ainda no exemplo da se-mente, caso um pássaro a coma ela jamais po-derá vir a ser uma árvore.
Transpondo essa idéia para a realidade edu-cacional, podemos aferir que, quando estamosinteragindo com outros sujeitos e objetos técni-cos construindo uma prática de significação,podemos tanto virtualizar quanto atualizar esteprocesso. Vale destacar que a atualização é umprocesso que parte, quase sempre, de umaproblematização para uma solução; já a
“virtualização passa de uma solução dada a um(outro) problema”. (LEVY, 1996, p.18). Logo,virtualizar é problematizar, questionar é processode criação.
Nesse sentido, podemos afirmar que um am-biente virtual é um espaço fecundo de significa-ção onde seres humanos e objetos técnicosinteragem, potencializando, assim, a construçãode conhecimentos, logo, a aprendizagem. Entãotodo ambiente virtual é um ambiente de apren-dizagem? Se entendermos aprendizagem comoum processo sócio-técnico em que os sujeitosinteragem na e pela cultura, sendo esta um cam-po de luta, poder, diferença e significação, es-paço para construção de saberes e conhecimen-to, então podemos afirmar que sim.
Você, leitor e meu virtual interlocutor, deveestar se perguntando: então AVA pode não sernecessariamente um ambiente que envolva asnovas tecnologias digitais de informação e co-municação? Ouso responder que sim. É possí-vel atualizar e, sobretudo, virtualizar saberes econhecimentos sem necessariamente estarmosutilizando mediações tecnológicas sejapresencialmente, seja a distância. Entretanto,essas tecnologias digitais podem potencializar eestruturar novas sociabilidades e, conseqüente-mente, novas aprendizagens.
As novas tecnologias digitais de informaçãoe comunicação se caracterizam pela sua novaforma de materialização. A informação que vi-nha sendo produzida e circulada ao longo da his-tória da humanidade por suportes atômicos (ma-deira, pedra, papiro, papel, corpo) na atualida-de também vem sendo circulada pelos bits, có-digos digitais universais (0 e 1). As tecnologiasda informática associadas às telecomunicaçõesvêm provocando mudanças radicais na socieda-de por conta do processo de digitalização. Umanova revolução emerge: a revolução digital.
Digitalizada, a informação se reproduz, cir-cula, modifica e se atualiza em diferentesinterfaces. É possível digitalizar sons, imagens,gráficos, textos, enfim uma infinidade de infor-mações. Nesse contexto, “a informação repre-senta o principal ingrediente de nossa organiza-ção social, e os fluxos de mensagens e imagens
427Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Edméa Oliveira dos Santos
entre as redes constituem o encadeamento bási-co de nossa estrutura social” (CASTELLS,1999, p.505). Novos processos criativos podemser potencializados pelos fluxos sócio-técnicosde ambientes virtuais de aprendizagens que uti-lizam o digital como suporte.
O ciberespaço como ambiente vir-tual de aprendizagem
O ciberespaço surge não só por conta dadigitalização, evolução da informática e suasinterfaces, própria dos computadores individu-ais, mas da interconexão mundial entre compu-tadores, popularmente conhecida como RedeInternet. Da máquina de calcular à Internet,muita coisa mudou e vem mudando nociberespaço. Tal mutação se caracteriza, dentreoutros fatores, pelo movimento do faça vocêmesmo e, de preferência, com outros iguais ediferentes de você. A rede é a palavra de ordemdo ciberespaço.
Rede aqui está sendo entendida como todofluxo e feixe de relações entre seres humanos, eas interfaces digitais. Nessa híbrida relação, todoe qualquer signo pode ser produzido e socializa-do no e pelo ciberespaço, compondo assim oprocesso de comunicação em rede próprio doconceito de ambiente virtual de aprendizagem.Nesse contexto, surge uma nova cultura, acibercultura. Conforme Santaella (2002, p.45-46), “(...) quaisquer meios de comunicações oumídias são inseparáveis das suas formas de so-cialização e cultura que são capazes de criar, demodo que o advento de cada novo meio de co-municação traz consigo um ciclo cultural quelhe é próprio”.
O ciberespaço é muito mais que um meio decomunicação ou mídia. Ele reúne, integra eredimensiona uma infinidade de mídias einterfaces. Podemos encontrar desde mídiascomo: jornal, revista, rádio, cinema, TV, bemcomo uma pluralidade de interfaces que permi-tem comunicações síncronas e assíncronas aexemplo dos chats, listas e fórum de discussão,blogs dentre outros. Nesse sentido, ociberespaço, além de se estruturar como um
ambiente virtual de aprendizagem universal queconecta redes sócio-técnicas do mundo inteiro,permite que grupos/sujeitos possam formar co-munidades virtuais fundadas para fins bem es-pecíficos, a exemplo das comunidades de e-learning.
É exatamente dentro do contexto de e-learning que o conceito de AVA precisa serproblematizado, ou melhor, virtualizado. Aaprendizagem mediada por AVA pode permitirque, através dos recursos da digitalização, vári-as fontes de informações e conhecimentos pos-sam ser criadas e socializadas através de con-teúdos apresentados de forma hipertextual,mixada, multimídia, com recursos de simulações.Além do acesso e das possibilidades variadas deleituras, o aprendiz que interage com o conteú-do digital poderá também se comunicar comoutros sujeitos de forma síncrona e assíncronaem modalidades variadas de interatividade: um-um e um-todos comuns das mediaçõesestruturados por suportes como os impressos,vídeo, rádio e TV; e principalmente todos-todos,própria do ciberespaço.
As possibilidades de comunicação todos-to-dos caracterizam e diferem os AVA de outrossuportes de educação e comunicação mediadaspor tecnologias. Através de interfaces, o digitalpermite a hibridização e a permutabilidade en-tre os sujeitos (emissores e receptores) da co-municação. Emissores podem ser também recep-tores e estes poderão ser também emissores.Neste processo, a mensagem poderá ser modifi-cada não só internamente, pela cognição do re-ceptor, mas poderá ser modificada por ele ga-nhando possibilidades plurais de formatos. As-sim, o sujeito além de receber uma informaçãopoderá ser potencialmente um emissor de men-sagens e conhecimentos.
Essas potencialidades citadas são caracte-rísticas do ciberespaço, mas não significa quetodos os AVA disponíveis nele agregam conteú-dos hipertextuais e interativos. Muitas práticasde e-learning ainda se fundamentam na modali-dade da comunicação de massa, em que um póloemissor distribui mensagens, muitas vezes emformatos lineares, com pouca ou quase nenhu-
428 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Ambientes virtuais de aprendizagem: por autorias livres, plurais e gratuitas
ma interatividade. Além do problema na quali-dade do conteúdo veiculado no AVA, este, mui-tas vezes, não pode ser modificado pelos apren-dizes no processo de ensino-aprendizagem. Alémdisso, os processos comunicacionais, muitasvezes, se limitam à prestação de contas de exer-cícios previamente distribuídos em formatos demúltipla-escolha ou em atividades medíocres eidiotas, a exemplo das pirotecnias que poluem apercepção imagética e sonora dos receptores,muitas vezes chamadas de interativas, apenaspor conta da mixagem, mistura em movimento
de sons, imagens, gráficos, enfim linguagensvariadas.
AVA: soluções tecnológicas para aaprendizagem
Muitos são os AVA encontrados nociberespaço. Por permitir e potencializar comu-nicações diversas, a expansão do ciberespaçovem agregando um vasto mercado em e-learning.Nesse sentido, várias organizações vêm produ-zindo e disponibilizando AVA no ciberespaço,
com formatos e custos que variam e se adequamàs necessidades dos clientes. Vejamos o quadroacima.
Os AVA agregam interfaces que permitem aprodução de conteúdos e canais variados de co-municação, permitem também o gerenciamentode banco de dados e controle total das informa-ções circuladas no e pelo ambiente. Essas ca-racterísticas vêm permitindo que um grande nú-mero de sujeitos geograficamente dispersos pelomundo possam interagir em tempos e espaçosvariados. Entretanto, alguns AVA ainda assumemestéticas que tentam simular as clássicas práti-cas presenciais, utilizando signos e símboloscomumente utilizados em experiências tradicio-nais de aprendizagem. É impressionante, porexemplo, o uso de metáforas da escola clássicacomo interface. “Sala de aula” para conversasformais sobre conteúdos do curso, “cantinas oucafés” para conversas livres e informais, “bibli-
oteca” para acessar textos ou outros materiais,“mural” para envio de notícias por parte, quasesempre, do professor ou tutor, “secretaria”, paraassuntos técno-administrativos. O “ranço” docurrículo tradicional ainda impera inclusive nociberespaço. Precisamos desafiar os educado-res, comunicadores e designers a criarem e geri-rem novas formas e conteúdos para que tenha-mos no ciberespaço mais de que depósitos deconteúdo, mas de fato AVA.
Obviamente, não podemos analisar os AVAapenas como ferramentas tecnológicas. Ë neces-sário avaliar a concepção de currículo, de comu-nicação e de aprendizagem utilizada pelos autorese gestores da comunidade de aprendizagem. Ëpossível encontrar no ciberespaço comunidades queutilizam o mesmo AVA com uma variedade incrí-vel de práticas e posturas pedagógicas ecomunicacionais. Tais práticas podem ser tantoinstrucionistas quanto interativas e cooperativas.
AVA ORGANIZAÇÃO AUTORA ENDEREÇO NO CIBERESPAÇO
AulaNet PUC-RJ (Brasil) http://guiaaulanet.eduweb.com.br
Blackboard Blackboard (EUA) http://www.blackboard.com.br
CoSE Starffordshire University http://www.staffs.ac.uk/case
(UK Reino Unido)
Learning Space Lotus Education-Institute http://www.lotus.com
IBM (EUA)
Teleduc Unicamp NIEED (Brasil) http://www.hera.nied.unicamp.br/teleduc/
WebCT WebCT, Univ. British http://webct.com.br
Columbia (Canadá)
429Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Edméa Oliveira dos Santos
As práticas instrucionistas são centradas nadistribuição de conteúdos com cobrança coerci-tiva de tarefas e sem mediação pedagógica; nes-ses ambientes, as práticas de tutoria são limita-das ao gerenciamento burocrático e bancário doprocesso de ensino. O curioso é que, muitas ve-zes, encontramos nos discursos dessas práticas,narrativas críticas e revolucionárias tanto doponto de vista da teoria da educação quanto dateoria da comunicação, usadas apenas como es-tratégia de marketing; só que, na prática, o queprevalece é a distribuição em massa. Já nas prá-ticas interativas e cooperativas, o conteúdo(design e comunicação dialógica) do curso éconstruído pelos sujeitos num processo de auto-ria e co-autoria de sentidos, na qual ainteratividade é característica fundante do pro-cesso.
Mesmo reconhecendo as potencialidades dosAVA comercializados por todo mundo nociberespaço, é extremamente fundamentalproblematizarmos acerca dos seus limites, tan-to tecnológicos em nível de suporte, quanto noque tange à democratização do acesso à infor-mação e, sobretudo, ao conhecimento. Para uti-lizar um AVA de uma organização, é necessárioter recursos para tal. A falta de recursos e polí-ticas de democratização do acesso às tecnologiasconfigura-se num grande problema social paraa democratização do acesso e da formação pro-fissional em diversas áreas do processo produti-vo, inclusive na área educacional, mas especifi-camente na formação de professores e professo-ras dos espaços públicos de aprendizagem, sejana escola básica ou na universidade ou institu-tos superiores de educação. É neste sentido quetemos com desafio criar e intervir nos processosde políticas públicas e na produção e socializa-ção de interfaces livres e gratuitas para que maise melhores interações possam emergir na socie-dade da informação e do conhecimento.
Construindo AVA com interfacesgratuitas do ciberespaço
Já discutimos que o próprio ciberespaço épor si só um AVA devido a sua natureza aberta e
flexível. Sua expansão se dá devido à grandeprodução de informação e de saberes criados porsujeitos e grupos/sujeitos diversos distribuídosgeograficamente pelo mundo inteiro. Os auto-res do ciberespaço criam e socializam seus sa-beres em vários formatos seja na forma desoftwares, interfaces, hipertextos, ou mídias di-versas. Nesse sentido, podemos nos apropriardesses recursos produzindo conhecimentos numprocesso de co-criação e sua autoria. Assim,concebemos o ciberespaço como um AVA que éuma organização viva, em que seres humanos eobjetos técnicos interagem num processo com-plexo que se auto-organiza na dialógica de suasredes de conexões. Para construir sites que se-jam AVA com interfaces disponíveis nociberespaço, é importante destacar algumasquestões:a) criar sites hipertextuais que agreguem
intertextualidade, conexões com outros sitesou documentos; intratextualidade, conexõescom o mesmo documento; multivocalidade,agregação de multiplicidade de pontos de vis-tas; navegabilidade, ambiente simples e defácil acesso e transparência nas informações;mixagem, integração de várias linguagens:sons, texto, imagens dinâmicas e estáticas,gráficos, mapas; multimídia, integração devários suportes midiáticos;
b) potencializar comunicação interativasíncrona, comunicação em tempo real eassíncrona, comunicação a qualquer tempo– emissor e receptor não precisam estar nomesmo tempo comunicativo;
c) criar atividades de pesquisa que estimule aconstrução do conhecimento a partir de situ-ações problemas, nas quais o sujeito possacontextualizar questões locais e globais doseu universo cultural;
d) criar ambiências para avaliação formativa,nas quais os saberes sejam construídos numprocesso comunicativo de negociações emque a tomada de decisões seja uma práticaconstante para a (re) significação processualdas autorias e co-autorias;
e) disponibilizar e incentivar conexões lúdicas,artísticas e navegações fluídas.
430 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Ambientes virtuais de aprendizagem: por autorias livres, plurais e gratuitas
O site ou AVA precisa ser uma obra aberta,no qual a imersão, a navegação, a exploração ea conversação possam fluir na lógica dacompletação. Isso significa que o AVA deve agre-gar a criação no devir; todos os participantespoderão contribuir no seu design e na sua dinâ-mica curricular. Como já sinalizamos anterior-mente, a codificação digital (bits) permite que osujeitos possam modificar os documentos, cri-ando e publicando mensagens em formatos va-riados. Para tanto, podemos lançar mão de arte-fatos gratuitos de fácil manipulação. Até o iní-cio da década de 90, para criar sites nociberespaço era necessário construir competên-cias específicas de programação tendo que sedominar algumas linguagens de programaçãobem específicas, a exemplo de: HTML, Java,Visual Basic, dentre outras. Devido à rápidaexpansão do ciberespaço e do desenvolvimentode aplicações para ele, encontramos, atualmen-te, várias destas aplicações distribuídas gratui-tamente.
Além de encontrarmos aplicações para cri-ar sites, encontramos também servidores parapublicação gratuita; essa abertura vem permi-tindo que, cada vez mais, os espaços convencio-nais de aprendizagem expandam seus territóri-os criativos, potencializando a comunicaçãointerativa a qualquer tempo e espaço.
Não basta apenas criar um site e disponibilizá-lo no ciberespaço. Por mais que o site sejahipertextual, é necessário que seja interativo. Éa interatividade com o conteúdo e com seus au-tores que faz um site ou software se constituircomo um AVA. Para que o processo de troca epartilha de sentidos possa ser efetivo, podere-mos criar interfaces síncronas, a exemplo doschats ou salas de bate-papos, e assíncronas, aexemplo dos fóruns e listas de discussão. Pode-mos contar também com os blogs que, além depermitir comunicação síncrona e assíncrona,agrega em seu formato hipertextual uma infini-dade de linguagens e formas de expressão.
Os chats
Os chats possibilitam que os participantesse comuniquem em tempo real. Nessa modali-dade de comunicação, todos os participantespodem
se comunicar com todos que estiveremconectados pelo ambiente virtual de aprendiza-gem. Além de possibilitar uma comunicação to-dos-todos essa interface também permite umacomunicação on-line mais reservada com qual-quer participante – um-um.
No ciberespaço, os chats são canais de co-municação que possibilitam às pessoas se co-
EDITORES HTML freeware para construção de sites
Netscape Composer http://cannels.netscape.com/ns/browser/download.jsp
FrontPage Express http://microsoft.com/downloads/search.asp/
Nestor Web Cartographer http://www.setarnet.aw/htmlfreeeditors.html
SERVIDORES PARA PUBLICAÇÃO
VILABOL http://www.vila.bol.com.br
HPG http://www.hpg.com.br
GEOCITIES http://www.geocities.com
TRIPOD http://www.tripod.com
431Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Edméa Oliveira dos Santos
municarem em tempo real sem nenhuma refe-rência a priori do outro. A comunicação nociberespaço começa a partir da identificaçãocom o que o outro escreve, com suas idéias,não tendo como referências questões de apa-rência física, gênero, raça, sexualidade, en-fim características que, comumente,condicionam a sociabilidade em ambientespresenciais. A possibilidade de interação comoutros sujeitos, sem o contato físico, face aface, permite que novas sociabilidades pos-sam emergir proporcionando ao sujeito novase diferentes vivências e situações tendo comolimite seu próprio imaginário. As potencialidades da imaginação e as so-ciabilidades podem ser simplificadas devidoà natureza da própria intencionalidade de umcurso formal. Nos chats livres, os sujeitosentram nas discussões se identificando ape-nas por um apelido, nickname; já nos ambi-entes de cursos, as pessoas entram na discus-são se identificando pelo nome, podendo serreconhecidos pelo perfil apresentado na iden-tificação de cada participante do curso. Daí,o espaço basicamente ser usado para reuni-ões e encontros do grupão ou de grupos detrabalho para discutirem questões normalmen-te referentes à temática proposta pelo curso.Obviamente, não é a interface que vai deter-minar o nível de interações e seus conteúdos,e, sim, a dinâmica comunicativa que a comu-nidade desenvolverá. Interfaces como os chats permitem que asdistâncias geográficas, simbólicas e existen-
ENDEREÇOS DE FÓRUNS DISPONÍVEIS GRATUITAMENTEFORUM NOW http://www.forumnow.com.br
FORUM MANIA http://www.forummania.com.br
ENDEREÇOS DE CHATS DISPONÍVEIS GRATUITAMENTE
Sala de bate-papo do Fórum Mundial de Educação http://chat. potoweb.com.br/fmel/
Chat da Biblioteca Virtual do CNPq http://www3.prossiga.br/chat/
I C Q http://go.icq.com/
ciais possam ser (re)significadas, permitindoa troca de saberes, desejos, dúvidas a qual-quer espaço/tempo, não possíveis em práti-cas educacionais mediatizadas pelos supor-tes de comunicação de massa.
Os fóruns
A interface fórum permite o registro e acomunicação de significados por todo o cole-tivo através da tecnologia. Emissão e recep-ção se imbricam e se confundem permitindoque a mensagem circulada seja comentada portodos os sujeitos do processo de comunica-ção. A inteligência coletiva é alimentada pelaconexão da própria comunidade na colabora-ção todos-todos. Essa é uma das característi-cas fundamentais do ciberespaço. Obviamente, devemos considerar que o co-letivo forma uma comunidade virtual. Logo,essa comunidade compõe um mesmo espaço(não lugar) junto com a infraestrutura técni-ca que denominamos de ciberespaço. De acor-do com Lévy (1998, p.96), “Por intermédiode mundos virtuais, podemos não só trocarinformações, mas verdadeiramente pensar jun-tos, pôr em comum nossas memórias e proje-tos para produzir um cérebro cooperativo”. A possibilidade de diálogos a distância entre indivíduos geograficamente dispersosfavorece a criação coletiva fazendo com queo ciberespaço seja muito mais do que ummeio de informação – TV, rádio, etc. A co-municação assíncrona proporciona não só
432 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Ambientes virtuais de aprendizagem: por autorias livres, plurais e gratuitas
a criação de temas de discussões entre es-tudantes e professores, mas, sobretudo, atroca de sentidos construídos por cada sin-gularidade. Cada sujeito na sua diferençapode expressar e produzir saberes, desen-volver suas competências comunicativas,contribuindo e construindo a comunicaçãoe o conhecimento coletivamente.
Listas de discussão
As listas de discussão têm quase as mesmascaracterísticas do fórum, é utilizada para a co-municação assíncrona na qual todos podem secomunicar com todos. A grande diferença é queas mensagens são socializados no formato docorreio eletrônico, não requerendo do usuário oacesso a um ambiente específico no ciberespaçopara o envio e recebimento delas. Muitosinternautas preferem usar as listas de discussãoexatamente pela facilidade de interação via cai-xa de mensagem. A interface do correio eletrô-nico é a mais utilizada pela maioria dosinternautas. É mais provável passar um dia semnavegar na www do que não abrir a caixa demensagens pessoal. Daí é muito mais dinâmicoresponder e enviar mensagens pelas listas do quepelo fórum. Não é o caso aqui de afirmar que alista de discussão é melhor ou pior que o fórum;são apenas diferentes, e é a dinâmica de sentidode cada usuário que definirá qual interface é maisadequada a sua necessidade comunicacional. Cada comunidade virtual criará sua dinâmi-ca e sua ética comunicacional. Gostaria apenasde destacar que muitas comunidades e/ougestores de AVA vêm utilizando mecanismos devigilância e punição próprias das instituições mo-dernas em nome de uma “netqueta”. O
ciberespaço e os AVA não devem ser espaços do“não se pode” da fábrica, da igreja, da escola.Obviamente, é necessário garantir o direito au-toral, o respeito e tolerância, mas nada dissopoderá comprometer a convivência com as sin-gularidades e as diferenças e principalmente aliberdade de expressão. No site da UNICAMPencontramos algumas sugestões para a sociabi-lidade em fórum e listas de discussão no endere-ço: http://www.ifi.unicamp.br/ccjdr/netiqueta/dis.html.
Os blogs
Por conta da facilidade de acesso e apropri-ação de interfaces no ciberespaço, muitas açõesindividuais e sociais vêm se transformando. Odiarismo on-line é um desses movimentos. Mui-tos sujeitos estão contemporaneamentepublicizando suas identidades no ciberespaço;o que antes era apenas restrito ao espaço atômi-co dos diários pessoais, hoje é socializado parao mundo inteiro através de interfaces digitaischamadas blogs. Através dos blogs os sujeitospodem editar e atualizar mensagens no formatohipertextual. Além de disponibilizar textos, ima-gens, sons a qualquer tempo e espaço é possívelinteragir com outros sujeitos, pois o formato blogpermite que outros usuários possam intervir noconteúdo veiculado pelo autor do blog que sepluraliza compondo assim uma comunidade vir-tual, a exemplo do site: Janelas do Mundo – http://www.facom.ufba.br/cibercpesquisa/janelas.
Muitos são os sentidos encontrados nos blogs.Seja por necessidade de expor o espíritonarcísico, nômade ou simplesmentecomunicacional, qualquer sujeito poderá seremissor e produtor de sentidos. O que importa é
ENDEREÇOS PARA CRIAÇÃO DE LISTAS DE DISCUSSÃO DO CIBERESPAÇO
MEU GRUPO http://www.meugrupo.com.br
GRUPOS http://www.grupos.com.br
YAHOO http://www.yahoo.grupos.com.br
GEOCITIES http://www.geocities.com
433Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Edméa Oliveira dos Santos
a possibilidade técnica de virtualizar e atualizarpolifonias. Essa polifonia de sentidos é expres-sada por estilos variados de hipertextos e diálo-gos, como nos seguintes exemplos:www.mundissa.com/zel, www.amnesia.tux.nu,w w w . b o n e c a . b l o g s p o t . c o m ,www.tiagoteixeira.com.br/blog/weblog.php.
Cuidado com os cursos disponíveisno ciberespaço! E-learning ou e-instrucional?
Muitos são os cursos oferecidos gratuita-mente por diversas instituições no ciberespaço.Baseadas em discursos calcados na democrati-zação do acesso ao “conhecimento” e na “res-ponsabilidade social”, várias instituições, inclu-sive universidades, vêm disponibilizando in-formações com direito, inclusive, a certificaçãouniversitária. Portanto, cabe-nos questionar: seráque estamos diante de uma revolução nas for-mas de ensinar e aprender ou o que está sendodisponibilizado, via AVA, são meras repetiçõesinstrucionais? Nos últimos dois anos, venho pesquisandoe analisando AVA no ciberespaço e, a cada dia,a cada nova experiência, tenho me indignadomuito. Venho observando que muitas experiên-cias instrucionistas em e-learning acabam sen-do legitimadas até por associações de pesquisascientíficas, das quais inclusive sou sócia, mui-tas delas responsáveis pela formação de recur-sos sócio-técnicos e autoria de políticas na áreade EAD no Brasil. A seguir, analiso um curso,disponível no site www.anhembi.br/grandescursos, que foi divulgado edisponibilizado gratuitamente, via correio ele-trônico, pela ABED – Associação de Educaçãoa Distância do Brasil.
O objetivo da minha análise não é simples-mente acusar as instituições envolvidas, mas é,sobretudo, convocá-las, principalmente os cole-gas pesquisadores, a criarem e gerirem experi-ências em e-learning que realmente utilizem aspotencialidades do ciberespaço e dos AVA paraque possamos imprimir, de fato, novas relaçõesde aprendizagem on-line seja na potencializaçãodas práticas curriculares e pedagógicaspresenciais e/ou em EAD. O curso que ora analiso foi oferecido gratui-tamente pela Universidade Anhembi Morumbide São Paulo. Essa instituição vem inauguran-do experiências diversas no ensino on-line, sejanos cursos de Graduação, operacionalizando oparecer 2253, seja no oferecimento de cursos deextensão ou pós-graduação. Neste curso espe-cífico, a instituição conta com a parceria da TVCultura, emissora de TV pública responsável poruma respeitável programação nas áreas da Cul-tura e da Educação no Brasil. O curso “A participação dos países emergen-tes na globalização” tem como argumento prin-cipal a opinião de um dos mais famosos e res-peitáveis intelectuais da contemporaneidade, ocientista Alan Touraine. O curso contava tam-bém com a participação de outras estrelas demesma grandeza, os intelectuais E. Morin e F.Capra. De posse dessas informações, questio-nei: farei um curso de extensão universitáriaministrado pelo professor A. Touraine? Tereiainda a oportunidade de trocar minhas inquieta-ções e produções com outros intelectuais, estu-diosos e interessados pelo tema? Tais inquietações inspiradas, inicialmente,por uma gostosa taquicardia foram logo substi-tuídas por uma profunda inquietação e indigna-ção. A autoria do professor Touraine estava li-mitada a dois textos distribuídos gradativamente,
BLOGS - INTERFACES PARA CRIAÇÃO DE DIÁRIOS ON-LINEBLOGSPOT http://www.blogspot.com/
IG http://www.blig.ig.com.br
WEBLOGGER http://www.weblogger.com.br
434 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Ambientes virtuais de aprendizagem: por autorias livres, plurais e gratuitas
um texto por semana, em duas únicas aulas. Naaula de número 1, os participantes do curso pu-deram ter acesso a um texto no formato .pdf,intitulado: “A participação dos países emer-gentes na Globalização”, e, na aula número2, “O respeito à diferença, o direito à partici-pação”. Você, leitor, deve estar se perguntan-do: aulas?! Ou seja, espaços de criação e co-criação entre professores, estudantes, suas in-formações e saberes que, no processointerativo, são transformados em conhecimen-tos que poderão ser expressados em váriaslinguagens? Ou apenas distribuição em massade textos? Sinto responder que o que era cha-mado de aula corresponde à segunda pergunta. Qual a novidade ou contribuição que traza e-learning neste exemplo de AVA? Esse for-mato de currículo e prática pedagógica mudacom o ciberespaço e suas interfaces? Nãobasta apenas aplicar as tecnologias digitaisde comunicação e informação – é necessáriodiscutir como elas estão sendo utilizadas e aque interesses econômicos e, sobretudo polí-ticos, servem. Então vamos elencar mais ques-tões: cadê o professor do curso? Ou, na piordas hipóteses, cadê o tutor já que se trata deum clássico curso de EAD?
O professor sumiu! Será que ele é realmen-te importante? Que o mestre Paulo Freire emalgum ciberespaço não escute esta pergunta.Pois é, leitor... A autoria do professor estácada vez mais sendo negligenciada nos cur-sos de ead-online. Há inclusive quem defen-da, como já sinalizei em outros textos (SAN-TOS, 2002), que, para a EAD on-line ou e-learning, a autoria deve ser centrada no pro-fessor conteudista, aquele que elabora o ma-terial didático. No caso do curso analisado, aautoria está centrada no professor Touraine.Cabe ao professor instrutor ministrar o con-teúdo produzido pelo professor-conteudista,e, ao professor-tutor administrar as seqüên-cias didáticas e atividades dos alunos. Já que não poderia me comunicar com oprofessor-conteudista, procurei saber se ocurso iria dispor de alguma mediação peda-gógica, questionando: teremos alguma medi-
ação pedagógica especializada, e interfacespara discussões com outros internautas queestão fazendo o mesmo curso? Prontamenterecebi via correio eletrônico a seguinte res-posta:
“Prezada Edméa,Nesta primeira fase de implantação dos Gran-des Cursos On Line, não haverá mediações,fóruns ou chats. Todos esses recursos interativosserão disponibilizados aos participantes dos cur-sos a partir do 2003. Agradecemos a sua cola-boração e esperamos contar com a sua partici-pação nos nossos próximos cursos.”
Fiquei contente com a resposta rápida e cor-dial da coordenação do curso, torcerei para queo projeto cresça com qualidade e que continuesendo gratuito quando houver interatividade on-line.
Mesmo sem interatividade, o curso é válidoe certificará todos os participantes que fizerema avaliação. Que Cipriano Luckesi, JuçaraHoffmam, Jacques Ardoino, Guy Berger, CharlesHaji, entre outros especialistas, não vejam o queestão chamando de avaliação. Para a maioriados teóricos críticos da educação, avaliar não éexaminar. A avaliação deve ser um processodialógico e formativo; isso implica em diagnós-ticos que ilustram dados que devem ser inter-pretados e analisados para tomadas de decisõesacerca do processo de aprendizagem tanto doestudante quanto do professor. Portanto, a ava-liação é um processo inclusivo, constante, ne-gociante, comunicativo e amoroso. Ao contrá-rio do exame, que é pontual, acontece esporadi-camente, com hora e tempo pré-determinados,sem negociações dialógicas, que classifica osujeito excluindo-o ou promovendo-o para finsapenas de progressões e certificação. No curso analisado, a avaliação não existe.O que o curso proporciona é uma prática de exa-me, na qual cabe ao estudante disponibilizar umrelatório dos textos disponibilizados. Bastaenviá-lo que, no término do curso, caso os exami-nadores achem pertinente, o estudante on-linereceberá um certificado de um curso de exten-
435Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Edméa Oliveira dos Santos
são universitária. Além das fundamentais questões já discuti-das, é fundamental trazer à tona a discussãosobre o design do AVA utilizado no curso. O AVAé composto por várias peças em flash que tra-zem, na sua tela inicial, uma pirotecnia daslogomarcas das instituições envolvidas. Ao longodas “aulas”, verificamos uma certa usabilidade,harmonia entre cores utilizadas, tipos e formatosde letras e caixas de diálogos que se mantêm aolongo de todo o curso. Os textos que formam oconteúdo das aulas apresentam intratextualidade,mas nenhuma intertextualidade, muito menosmultivocalidade e multiplicidade. O estudante ficalimitado a acessar conteúdos agregados à própriapeça (documentos internos) do AVA. Além disso,alguns links não são hipertextos informáticos. Porexemplo, no link “saiba mais” o conteúdo não levao usuário ao texto correspondente; o conteúdo dolink é apenas uma referência bibliográfica que se-gue as normas da ABNT com algum comentáriosobre o texto. Para o usuário ter acesso ao texto
REFERÊNCIAS
ALVES, Lynn e NOVA, Cristiane. (Orgs.). Educação e tecnologia: trilhando caminhos. Salvador: UNEB,2002.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência - O Futuro do pensamento na era da Informática. São Paulo:34, 1996._____. Cibercultura. São Paulo: 34, 1999.
_____. O que é o virtual. São Paulo: 34, 1996.
SANTAELLA, Lúcia. A crítica das mídias na entrada do século XXI. In: PRADO, José Luiz Aidar (org.).Crítica das práticas midiáticas: da sociedade de massa às ciberculturas. São Paulo: Hackers, 2002.
SANTOS, Edméa Oliveira. O currículo e o digital - educação presencial e a distancia. Dissertação demestrado. Salvador: FACED/UFBA, 2002.
SILVA, Marco. Sala de Aula Interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2000.
Recebido em 23.11.02Aprovado em 06.03.03
terá que procurá-lo em alguma biblioteca e livra-ria especializada.
Para que o ciberespaço possa agregar AVA,é fundamental discutir o currículo dos cursos on-line para além das clássicas discusões sobre EAD.Argumentos como: a) a e-learning permite que maispessoas tenham acesso a informações com baixoscustos; b) a e-learning acaba com as distânciasgeográficas dos alunos; c) permite que os sujeitosexcluídos em outros processos e políticas tenhamacesso à informação; d) a e-learning respeita o rit-mo de cada aluno; e) a Informática agrega ao con-teúdo uma estética mais interativa; não são argu-mentos suficientes e que justifiquem uma mudan-ça qualitativa nas práticas de ensino-aprendiza-gem mediadas por tecnologia e AVA. É necessárioestendermos a educação, a comunicação e astecnologias digitais como referências híbridas erecursivas. Portanto, façamos diferente! Aprenda-mos com a geração-net; não matemos a educaçãoe a universidade e, sobretudo, não enterremos osprofessores e as professoras!
436 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002
Ambientes virtuais de aprendizagem: por autorias livres, plurais e gratuitas
437Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p.437-446, jul./dez. 2002
Lynn Rosalina Gama Alves
Lynn Rosalina Gama Alves*
RESUMO
Este artigo discute a interação dos adolescentes com os jogos eletrôni-cos considerados violentos. Trata-se de uma investigação de doutoradoque parte do pressuposto de que os jogos eletrônicos se constituem emespaços de aprendizagem, tornando possível aos jogadores ressignificaras suas emoções através da catarse que os ambientes, criados pelos jo-gos, possibilita.
Palavras-chave: Jogos eletrônicos – Violência – Interatividade
ABSTRACT
ELECTRONIC GAMES AND VIOLENCE: UNRAVELING THEIMAGINARY OF THE SCREENAGERS
This article discusses the interaction of teenagers with electronic gamesconsidered violent. It is a doctorate’s investigation that departs from theassumption that the electronic games are spaces for learning, making itpossible for the players to re-signify their emotions through the catharsisthat the environments created by the games offer.
Key words: Electronic games – Violence – Interactivity
Screenagers! É assim que vem sendo deno-minada a geração que nasceu a partir de 1980.Rushkoff (1999) utiliza o termo para referir-sea crianças e adolescentes que nasceram no mun-
*Professora da Universidade do Estado da Bahia - UNEB; doutoranda em Educação e Comunicação pelaFaculdade de Educação - FACED/UFBA. Endereço para correspondência: Av. Otavio Mangabeira no.7515 – Condomínio Villaggio, casa 13 – Praia do Corsário – 41830.050 Salvador/BA. E-mail:[email protected] / URL: www.ufba.br/~lynn
do do controle remoto, do joystick, do mouse,da Internet. Para Tapscott (1999), essa é umageração Net que vive cercada pela mídia digitalna qual os usuários não querem ser apenas es-
JOGOS ELETRÔNICOS E VIOLÊNCIA:DESVENDANDO O IMAGINÁRIO DOS SCREENAGERS
438 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 437-446, jul./dez. 2002
Jogos eletrônicos e violência: desvendando o imaginário dos screenagers
pectadores ou ouvintes, mas exigeminteratividade.
Interatividade é aqui compreendida como apossibilidade de efetivar trocas que não se limi-tam ao simples clicar do mouse ou apertar oscomandos do controle remoto, mas umainteratividade do tipo Todos-Todos, isto é, naqual cada pessoa se torna emissora e receptorade mensagens (LÉVY, 1994), enfatizando os as-pectos qualitativos (variedade, riqueza e natu-reza das interações) em detrimento dos aspectosquantitativos (número de pessoas interagindo)(MACHADO, 1997).
A interatividade passa então a levar em con-sideração a possibilidade de imersão, navega-ção, exploração e conversação presentes nos su-portes de comunicação em rede, privilegiandoum visual enriquecido e “recorporalizado”, emcontraponto com um visual retiniano (linear eseqüencial), que recompõe uma outra hierarquiado sensível (COUCHOT, 1997), instaurando,assim, uma lógica que rompe com a linearidade,com a hierarquia, para dar lugar a uma lógicaheterárquica, rizomática, hipertextual, passan-do, portanto, a ser compreendida como a possi-bilidade de o jogador participar ativamente, in-terferindo no processo com ações, reações, in-tervindo, tornando-se receptor e emissor de men-sagens que ganham plasticidade, permitindo atransformação imediata (LÉVY, 1994). Acres-centa-se também a capacidade, desses novos sis-temas, de acolher as necessidades do usuário esatisfazê-lo (BATTETINI, 1996, p.69), crian-do novos caminhos, novas trilhas, novas carto-grafias, valendo-se do desejo do sujeito.
Em consonância com estas idéias, MarcondesFilho (1994) afirma que os jogos dos computa-dores de quinta geração possibilitam uma maiorinteração do indivíduo com a máquina, atuandono nível multisensorial. Para tanto, basta nosaproximarmos do monitor e a tela do computa-dor se abrirá como uma porta eletrônica, permi-tindo o mergulho por um caminho que se asse-melha a um túnel do tempo.
Na visão de Hayles, citado por Green eBigum (1995), o sujeito que está em contato di-reto com os jogos eletrônicos vive uma interação
contínua entre seu sistema nervoso e o circuitodo computador, constituindo-se em um cyborg.Para Haraway (2000), um cyborg é um orga-nismo híbrido, uma criatura de realidade sociale também uma criatura de ficção. A autora com-preende a realidade social como a mais impor-tante construção política do sujeito, uma ficçãoque pode mudar o mundo.
Estariam as nossas crianças e adolescentes,ao interagir com os jogos eletrônicos, constru-indo a sua ficção acerca das relações sociais?
O que as nossas crianças e adolescentes de-sejam é sentirem-se autores e atores do proces-so, falantes e não-falantes ao mesmo tempo, ob-tendo respostas imediatas, utilizando a tela docomputador, da TV e/ou das máquinas de jogoseletrônicos como um espaço para novas formasde escrever o mundo, caracterizando, assim, umadimensão comunitária, baseada na reciprocida-de, permitindo a criação e interferência por par-te dos indivíduos.
As mídias que permitem essa interatividadesão denominadas de síncronas, poisdisponibilizam, em tempo real, o acesso a umconteúdo vivo, que pode ser modificado e trans-formado continuamente. Os Chats, RPG e osMuds (masmorras multiusuárias) se constituemdesse modo em espaços abertos para interaçõesvirtuais, nos quais os sujeitos intercambiam di-ferentes saberes que podem oscilar do conheci-mento espontâneo ao conhecimento científico.
O Roleplaying game surgiu na década de se-tenta nos Estados Unidos com um jogo de tabu-leiro, no qual o participante vive uma históriasem ter de obedecer a uma posição apenas pas-siva, sendo parte ator, parte roteirista de um textoque ainda não foi completamente escrito. As re-gras se constituem em um apoio que podem, ounão, ser utilizadas, não há ganhadores: todos sedivertem e todos ganham. Este tipo de jogo vemsendo adaptado para a WEB. Já os Muds sãojogos on line nos quais os participantes podemconstruir diferentes personagens, atuando nomundo virtual, exercendo o poder da palavra pormeio do teclado.
Estas possibilidades de trocas se efetivam de-vido ao:
439Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p.437-446, jul./dez. 2002
Lynn Rosalina Gama Alves
(...) desenvolvimento das tecnologias numéri-cas (da Realidade Virtual na Web, passando peloCD-ROM) [que] autoriza[m] agora formas departicipação mais elaboradas e mais ampliadas.O computador permite, efetivamente, ao públi-co interagir instantaneamente com as imagens,com os textos e com os sons que lhe são propos-tos. É permitido a cada um, e conforme o caso,de uma forma mais ou menos profunda, associ-ar-se diretamente, não somente à produção daobra, mas também à sua difusão (COUCHOT,1997, p.137).
A interação com as mídias síncronas eassíncronas (que tem o seu conteúdo armazena-do previamente, como os jornais, livros, CD-Rom, filmes, TV, sites e fóruns de discussão)vem provocando modificações, reorganizações,exteriorizações e ampliações das funçõescognitivas dos sujeitos, sendo denominadas porLèvy (1993, 1998) de tecnologias da inteligên-cia, atuando como elementos mediadores do pro-cesso de construção do conhecimento. O autoridentifica como as três principais tecnologias: aoralidade (como a mais antiga e importante), aescrita e a informática. As duas primeiras mar-caram o desenvolvimento da humanidade nosúltimos séculos. A partir de 1950, o aparecimentodos suportes informáticos promoveu mudançassignificativas na forma de produzir conhecimentoe cultura, possibilitando a ampliação daexteriorização da memória individual e coletivainiciada com o aparecimento da linguagem es-crita e posteriormente intensificada com a im-prensa (RISÉRIO, 1999).
Os screenagers também aprendem, mediadospelas tecnologias, que vêm se constituindo emnovos objetos e espaços transicionais para cons-truir e lidar com o real. Lèvy (1998) afirma que:
(...) os videogames oferecem os modelosinterativos a explorar. Eles simulam terrenos deaventuras, universos imaginários. Certo, trata-se de puro divertimento. Mas como não ser to-cado pela coincidência dos extremos: o pesqui-sador que faz proliferar os cenários, explorandomodelos numéricos (digitais), e a criança [e oadolescente] que joga um videogame experimen-
tam, ambos, a escritura do futuro, a linguagemde imagens interativas, a ideografia dinâmicaque permitirá simular os mundos (LÈVY, 1998,p.7).
As crianças, adolescentes e até mesmo adul-tos, independente do nível sócio-econômico, quepassam horas em frente aos videogames vivemuma verdadeira euforia onomatopéica, partilha-da com aqueles que os cercam, discutindo for-mas de aumentar os seus escores e, quem sabe,até vencer o computador, tornando-se herói. Oherói aqui é compreendido como aquele que écapaz de vencer o mal por intermédio do bem,tornando-se reconhecido, valorizado, respeita-do, o centro das atenções por ter ganho as ima-ginárias batalhas, constituindo-se, assim,num mito, entre os seus iguais, o que fazressignificar e fortalecer a sua auto-estima.É interessante salientar que os próprios con-ceitos tradicionais de “mal” e “bem” sãoressignificados a partir de alguns jogos. Para Turkle:
No ciberespaço, podemos falar, trocar idéias eassumir personalidades que nós mesmos cria-mos. Temos a oportunidade de construir novostipos de comunidades – comunidades virtuais –nas quais participamos com pessoas do mundotodo, pessoas com as quais conversamos diaria-mente, pessoas com as quais podemos ter rela-ções bastante íntimas, mas que provavelmentejamais encontraremos fisicamente. (TURKLE,1997, p.16)1
Esses avatares, que permitem o exercício dofaz-de-conta e uma maior interatividade, possi-bilitam às crianças e aos adolescentes aprender,se comunicar, formar relacionamentos, desen-
1 “En el ciberespacio podemos hablar, intercambiar ideasy asumir personajes de nuestra propia creación. Tenemosla oportunidad de construir nuevas clases de comunida-des, comunidades virtuales, en las que participamos comgente de todo el mundo, gente con la que conversamosdiariamente, gente com la que podemos tener una relaciónbastante íntima pero que puede que nunca conozcamosfísicamente.” (TURKLE, 1997, p.16) (T.A.)
440 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 437-446, jul./dez. 2002
Jogos eletrônicos e violência: desvendando o imaginário dos screenagers
volvendo habilidades motoras, lingüísticas esociais, potencializando a construção de novosolhares, significados e significantes para a soci-edade na qual estão inseridos. Um exemplo significativo é o de Taty, umaadolescente de 13 anos, que mora na cidade dePaulo Afonso – Bahia, que cursa a 7ª série doensino fundamental e está fazendo um curso depintura. Ao interagir com The Sims – que é umjogo de estratégia que traz a vida de uma comu-nidade de pessoas simuladas – Taty fez umatransposição da sua vida real para o jogo, aodefinir a pintura como fonte de sobrevivênciada família Sims. A mãe Sims, criada por estaadolescente, vendia os quadros que pintava parasustentar a sua família. Estes novos espaços de aprendizagem se cons-tituirão em espaços do saber vivo, real, exigin-do o rompimento com a linearidade que ainda seinstitui na sala de aula convencional, favorecen-do a intensificação de “(...) modalidadescognitivas baseadas, sobretudo na interatividadee na sensório-motricidade, nas competências quetodos nós possuímos, que utilizamos quotidia-namente, que não temos necessidade de apren-der” (CAPUCCI, 1997, p.130-131). Portanto,não temos que inventar a roda, mas explorar aspossibilidades que emergem frente ao adventodas tecnologias digitais e de rede. Contudo, ressoa uma questão que permeia opensamento de pais, professores, especialistas eprofissionais da mídia que (des)informam a po-pulação. A questão gira em torno do outro ladoda moeda, isto é, se as tecnologias da inteligên-cia potencializam transformações cognitivas,certamente provocam mudanças nos aspectossociais e afetivos. Resta, portanto, uma pergunta: a interaçãocom imagens, jogos eletrônicos, sites que exi-bem e disponibilizam informações e cenas deviolência provocam alterações no comportamen-to dos sujeitos que vivem imersos neste mundotecnológico? Para acirrar este questionamento, aponto ou-tro: os adolescentes, que nasceram na década de1980 e interagem com os jogos eletrônicos con-siderados violentos, saem reproduzindo as ce-
nas de violência exibidas nesses programas? Pesquisas realizadas nos Estados Unidos eapontadas por Strasburger (1999) registram que:
Embora a violência na mídia certamente não sejaa causa principal da violência na vida real, ela éum fator significativo – e um fator muito maisfacilmente suscetível a mudanças do que, porexemplo, racismo, pobreza, preconceitos sexu-ais, diferenças psicológicas individuais ou qua-lidade de cuidados parentais. Virtualmente, to-dos esses estudos e revisões diferentes conclu-em que a violência nos meios de comunicaçãopode (1) facilitar o comportamento agressivo eanti-social, (2) dessensibilizar os espectadorespara a violência e (3) aumentar as percepçõesdos espectadores de estarem vivendo em ummundo mau e perigoso. (1999, p.32)
Em estudo realizado recentemente na Ingla-terra, o professor John Colwell, da MiddlesexUniversity, afirmou que há um número crescen-te de evidências sugerindo a existência de umarelação entre jogos de computador eagressividade, considerando que esta aparente-mente aumentou em rapazes com o tempo deexposição a tais jogos. No que se refere à violência na nova geraçãodos jogos eletrônicos, Levis (1998) pontua queestes elementos simulam lutas e combates quepõem em questão o suposto caráter simbólicoda violência nos videogames. O autor indica umoutro aspecto que não pode ser esquecido: a vi-olência vende. Atualmente, o mercado dosvideogames é controlado pelas empresas japo-nesas Nintendo e Sega que, desde 1994, vêmapresentando um significativo crescimento eco-nômico. A violência vende por favorecer um efeitoterapêutico, possibilitando aos sujeitos umacatarse, na medida em que canalizam os seusmedos, desejos e frustrações no outro, identifi-cando-se ora com o vencedor ou perdedor dasbatalhas. Visto desta forma, a violência passa aser considerada de forma construtiva, comomotor propulsor do desenvolvimento. Nesse sen-tido, os jogos se constituem em espaços de ela-boração de conflitos, medos e angústias.
441Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p.437-446, jul./dez. 2002
Lynn Rosalina Gama Alves
Parafraseando Pacheco (1998, p.34), é possíveldizer que, por meio das imagens ficcionais e reais,o adolescente “elabora suas perdas, materializaseus desejos, compartilha a vida animal, muda detamanho, liberta-se da gravidade, fica invisível e,assim, comanda o universo por meio de sua oni-potência. Dessa forma, ela [ele] realiza todos osseus desejos e as suas necessidades”. Os adolescentes tornam-se consumidores empotencial das imagens de violência e são cons-tantemente seduzidos, pelas grandes empresasque investem em um marketing pesado, a com-prar versões diferenciadas dos jogos considera-dos violentos. O acesso e participação nessesjogos se constituem em senhas de reconhecimentodos grupos dos quais eles fazem parte. Para Calligaris (2000, p.15), o adolescente é“um sujeito capaz, instruído e treinado por milcaminhos – pela escola, pelos pais, pela mídia –para adotar os ideais da comunidade. Ele se tor-na um adolescente quando, apesar de seu corpoe seu espírito estarem prontos para a competi-ção, não é reconhecido como adulto.” A adolescência está aqui sendo compreendidana perspectiva psicanalítica, como um processosocial e cultural que objetiva fundamentalmentea integração do indivíduo na sociedade dos adul-tos, caracterizando-se como uma crise psíquicaque emerge a partir da necessidade de adotarum novo papel, imposto pelo Outro e pelo soci-al. Assumindo, assim, novos encargos, uma res-ponsabilidade que não é apenas legal, mas evi-dentemente psíquica. Portanto, a adolescênciadeixa de ser pensada como uma etapa cronoló-gica, para ser vista como uma instituição histó-rico cultural (ABERASTURY; KNOBEL,1981). Nessa busca pelo reconhecimento, o adoles-cente assume a tarefa de interpretar o desejo in-consciente (ou simplesmente escondido, esque-cido) dos adultos, oscilando entre a conquistada autonomia e da independência ou a submis-são à “moratória” adolescencial (CALLIGARIS,2000). As tentativas de conquistar o seu passaportepara vida adulta geram conflitos de toda ordem,envolvendo as relações adolescentes/adultos e
adolescentes/adolescentes. Conflitos estes quepodem dar origem a sintomas como, por exem-plo, a violência ou, na concepção psicanalítica,a agressividade. Corso & Corso utilizam a expressão gameover para metaforizar a sensação de impotênciasentida pelos pais durante a adolescência dosseus filhos. Para estes autores, emerge nos pais“uma sensação de que o tempo que eles tinhampara educar seus filhos acabou. Os controles nãofuncionam mais, não respondem” (1999, p.81). Peter Lucas, professor da New YorkUniversity, realizou uma pesquisa que apontacomo causas da violência na adolescência, osseguintes aspectos:
a) Violência que emana do ambiente domésticoquando as famílias são forçadas a viver na mi-séria como resultado de alterações demográficasem grande escala, migração ou discriminaçãoétnica e racial.b) Existência de más condições para a criaçãodos filhos, quando as crianças são repetidamen-te expostas à violência doméstica, quando ospróprios filhos são vítimas de abuso e quandoas crianças não têm supervisão dia após dia.c) A violência também pode infiltrar-se nas es-colas, quando a comunidade se desintegra, quan-do a reestruturação deixa um vácuo em seu ras-tro, quando as crianças carecem de modelos pró-sociais para tomar como exemplo, em funçãodo longo tempo de desemprego e da pouca pers-pectiva de um futuro estável e produtivo. (1999,p.28)
Porém, existem outros possíveis olhares paraas questões da violência na adolescência. É fun-damental compreendê-la como um epifenômenoque deverá ser investigado mediante o olhar dasaúde coletiva, da política, da psicologia, dacomunicação, da sociologia e da antropologia.Porém, o viés que subsidiará a análise dos da-dos levantados nesta pesquisa será o da comu-nicação e o da psicanálise. Embora esta não tra-te diretamente da categoria violência, já que tentaexplicar este fenômeno mediante a agressividade,oferece um instrumental teórico para compre-ender as questões afetivas que estão por trás doscomportamentos ditos violentos. Já a comuni-
442 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 437-446, jul./dez. 2002
Jogos eletrônicos e violência: desvendando o imaginário dos screenagers
cação vem concebendo a violência, enquantouma linguagem, como uma forma de se comuni-car algo. Uma linguagem primeira que vem sen-do amplificada e potencializada pela mídia, comoafirma Rondelli (2000). Para ela, portanto,“compreender a mídia não deixa de ser um modode se estudar a própria violência, pois quandoesta se apropria, divulga, espetaculariza,sensacionaliza, ou banaliza os atos da violênciaestá atribuindo-lhes sentidos que, ao circularemsocialmente, induzem práticas referidas à vio-lência” (RONDELLI, 2000, p.150). Minayo (1999), mediante a interlocução comdiferentes autores (Arendt, Engels, Marx, MaoTsé Tung, Freud, Sorel, Fanon e Domenach) quediscutem a questão da violência, concluiu queesta deve ser analisada como um problema so-cial e histórico, diferenciando-se dossociobiólogos que a compreendem como um fe-nômeno inerente à natureza humana e aos con-dicionamentos biogenéticos que se processamnos indivíduos (1999, p.11). E, por fim, citaChesnais e Burke que “reafirmam a idéia de quenão se pode estudar a violência fora da socieda-de que a produziu, porque ela se nutre de fatospolíticos, econômicos e culturais traduzidos nasrelações cotidianas que, por serem construídospor determinada sociedade, e sob determinadascircunstâncias, podem ser por ela desconstruídose superados” (1999, p.11). Os adultos da sociedade de fin de siècle, queantes exibiam um padrão de vida que os coloca-va na categoria de classe média, agora precisamtrabalhar incessantemente para se manter den-tro destes limites sócio-econômicos, asseguran-do-lhes um certo status. Para tanto, ausentam-se cada vez mais dos seus lares, deixando osfilhos sob a responsabilidade da escola, de ou-tras instituições que os mantêm ocupados du-rante o turno oposto às aulas (cursos de inglês,computador, balé, etc...), da empregada, da mídia(TV, jogos eletrônicos, Internet, etc), de outrosfamiliares. O que se pode esperar desses adoles-centes entregues a si próprios, considerando queseu contato com os indivíduos que podem lhespossibilitar a sua estruturação como sujeito estácada vez mais esparso, levando-os a uma perda
de referência e de valores? Esses valores passam a ser reconstruídos apartir dos diferentes grupos em que o adoles-cente se insere para ser aceito. Esse processo deaceitação pode levar a comportamentostransgressores, como a utilização de drogas,vandalismos, enfim, atos que os distanciam dosadultos e os aproximam dos seus pares. Numa sociedade que parece estar perdendoseus referenciais identitários, o sujeito precisado Outro para se estruturar como ser desejante,faltante, que reconhece os seus limites e se mo-biliza para vencê-los em busca de novos cami-nhos, novos valores, novos significados. Nesse sentido, cabe a pergunta: os jogos ele-trônicos poderiam estar atuando comoreferenciais para o aumento da violência na ado-lescência? Cabral (1997) pontua as possibilidades e li-mites desses jogos, quando reconhece que elescontribuem para o desenvolvimento das habili-dades motoras e intelectivas. Todavia, a autorasinaliza também que estes mesmos jogos podemajudar o indivíduo a interagir mais rapidamentecom o establishment cultural e social, reprodu-zindo modelos hegemônicos. A mídia impressa e eletrônica (ver nas refe-rências a indicação das reportagens publicadasem um jornal de grande circulação no Brasil quese refere às pesquisas de STERN e LEAKE,2000) tem assumido um papel marcante no ima-ginário popular, gerando, muitas vezes, polêmi-cas que acirram a discussão sobre a relação en-tre mídia (TV, cinema, Internet, jogos eletrôni-cos, etc) e violência, intensificando o surgimentodos neo-ludditas2 ou, no extremo, promovendoo encantamento, estimulando o consumo de ima-gens e produtos para entrar na era high tech,numa atualização da Família Jetsons (desenho
2 Expressão utilizada para se referir aos novos adeptos doMovimento Luddita que foi liderado por Ned Ludd, naInglaterra, no início do século XIX. Este movimento “con-sistiu na primeira reação popular à introdução das má-quinas na produção fabril. Destruindo máquinas, osludditas queriam salvar os seus empregos e o seu modo
de vida.” (MAGNOLI, 1999, p.60)
443Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p.437-446, jul./dez. 2002
Lynn Rosalina Gama Alves
animado exibido a partir da década de 60, sobreuma família num mundo futurista, onde os uten-sílios domésticos eram muito avançadostecnologicamente) que vivia em uma sociedadealtamente tecnológica. Nesta sociedade, novos ícones são criadoscotidianamente: computadores conectados àInternet, Digital Vídeo Disc - DVD, máquinasfotográficas e filmadoras digitais, a casa do fu-turo e diferentes versões dos jogos eletrônicos,agora ampliados com a realidade virtual, des-cartando e/ou substituindo as antigas versões.
É dentro desta sociedade imagética, que impõenovos valores e comportamentos, que a mídiapode atuar como principal agente na mistifica-ção da interação dos adolescentes com atecnologia, apontando para a existência de umperigo “(...) que as crianças [adolescentes] per-cam o controle do processo de escolha do self ese tornem esquizofrênicas, talvez com múltiplaspersonalidades na vida real” (TAPSCOTT, 1999,p.93).
São inúmeros os exemplos, como a explo-são do prédio em Oklahoma City, em que váriosnoticiários condenaram a disponibilidade de in-formações na Internet sobre a fabricação de bom-bas. Esta notícia teve uma repercussão maiorquando dois adolescentes de New Jersey cons-truíram uma bomba caseira ao saber, através daTV, que estas instruções estavam disponíveis naInternet. Um outro exemplo marcante refere-seao filme Matrix que, segundo a mídia (informa-ção divulgada em diversos noticiários de TV),influenciou os jovens que invadiram uma escolamatando professores e alunos. Outro incidente,envolvendo um filme ocorreu no dia 04 de no-vembro de 1999, no Shopping Morumbi, em SãoPaulo, onde um estudante de Medicina disparousua metralhadora na direção da platéia, duranteuma seção do filme Clube da Luta. O estudanteinformou que escolheu o filme Clube da Lutaporque, como ele, o personagem principal é um“esquizofrênico”. Posteriormente o estudantedeclarou não ter assistido ao filme (http://www.uol.com.br/fol/geral/cinema.htm). Recentemente, o Jornal Correio Braziliense
publicou uma matéria intitulada “Guerra Ele-trônica - Inimigo nada virtual”, registrando ofato dos jovens brazilienses que vêm matandoas aulas para participar de jogos em redes decomputadores, disponíveis nas lojas de games.Frente a tal acontecimento, os pais destes ado-lescentes solicitaram a intervenção da justiça,exigindo do Ministério Público o controle doacesso às casas de jogos eletrônicos, principal-mente os que podem ser jogados em rede e quedisponibilizam cenas de violência e pornografia(material publicado no dia 18.04.02 disponívelno site: http://www2.correioweb.com.br/cw/EDICAO_20020418/pri_cid_180402_236.htm). Qual o atrativo desses jogos que mobilizamos adolescentes a faltarem às aulas e mentirempara os seus pais? Esses jogos possibilitam ainteração de até quinze jogadores ao mesmo tem-po, o que pode sinalizar a necessidade de parti-cipação, competição e cooperação, na medidaem que para ganhar o jogo é importante a coe-são e sintonia do grupo. Contudo, não se podenegar a existência de adolescentes que têm difi-culdade de relacionamentos presenciais que po-dem ser potencializados por esses jogos. Outro jogo que vem despertando o interessede diferentes faixas etárias (crianças, adolescen-tes e adultos) é o Laser Shot (este jogo existe emvárias cidades do Brasil e inclusive em Salva-dor, no qual crianças, adolescentes e adultos vêmparticipando com uma certa freqüência - http://www.lasershots.com.br/index1024.htm), umjogo de realidade virtual no qual as pessoas dis-putam entre si batalhas e guerras com pistolas alaser. O ambiente do jogo é construído em for-ma de um labirinto de penumbras, inundado deneblina e efeitos especiais de luzes e sons. Oobjetivo do jogo é somar pontos, atingindo osjogadores inimigos e suas bases. A participaçãoneste jogo, como nos jogos em rede, geram nossujeitos o desejo de repetir a experiência para ten-tar melhorar a pontuação. No caso do Laser Shota simulação é sensório-motora, todo o corpo é mo-bilizado para responder aos diferentes estímulos,os jogadores gastam adrenalina no campo de ba-talha, tendo uma interação do tipo face to face. Portanto, as imagens presentes nos jogos ele-
444 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 437-446, jul./dez. 2002
Jogos eletrônicos e violência: desvendando o imaginário dos screenagers
trônicos passam a atuar como representação sim-bólica, na medida em que podem reproduzir umacoisa diferente do que está sendo visto na tela,mas que está relacionada com o universo dosjogadores (CASTORIADIS, 1982). O imaginário (este conceito será reconstruídocom base nos referenciais dos adolescentes), aprincípio, deve ser tomado nesta pesquisa como“(...) faculdade de criação radical de formas/fi-guras/símbolos, tanto psíquico quanto social-históricos, que se exprimem no representar/di-zer dos homens”. (BARBIER, 1994, p.21) Considerando esta possibilidade, talvez o su-jeito possa ser fisgado pela violência veiculadapelo desenho, pelos jogos eletrônicos e/ou asmúltiplas imagens que invadem cotidianamentenossas casas, revelando uma dificuldade em se-parar a realidade da fantasia. Segundo Turkle (1997), o computador oferecenovos modelos de mente e um meio novo de proje-tar idéias e fantasias, no qual a tela atuaria comoum espelho que possibilita um novo espaço paraaprender a viver em um mundo virtual, e essa cul-tura de simulação afeta as nossas idéias sobre amente, o corpo, o eu e a máquina. O sujeito passa-ria a se constituir por uma linguagem através datela, intercambiando significantes, onde cada umé uma multiplicidade de partes, fragmentos e co-nexões. É possível que, em casos assim, a tecnologiafuncione como uma válvula de escape, liberandoquestões intrínsecas aos sujeitos e que precisamser resolvidas. A interação com estes elementos tecnológicos
pode promover, assim, um efeito catártico para aagressividade existente em todos nós, ocupando ashoras de prazer e lazer como um mero passatempo,não sendo, portanto, encarados como uma compulsão.Jogar compulsivamente sinaliza um “sintoma” queprecisa ser investigado, um caminho que o sujeitoencontra para dizer que algo não está bem.
Portanto, objetivando aprofundar edesmistificar a relação linear que vem sendo feitaem torno da relação imagens violentas-compor-tamentos violentos, emerge o meu desejo de in-vestigar mais profundamente as imagens quepermeiam o imaginário dos adolescentes os quaisinteragem com os jogos eletrônicos classifica-dos como violentos, indo além de posiçõesreducionistas e maniqueístas, no que se refere àrelação tecnologia/violência. Esta investigação vem sendo feita com o obje-tivo de analisar as implicações dos jogos eletrôni-cos no comportamento violento da geraçãoscreenagers. Rushkoff (1999) utiliza o termo parareferir-se a crianças e adolescentes que nasceramno mundo do controle remoto, do joystick, domouse, da Internet), identificando pistas,recorrências capazes de compor, dentro do con-texto cultural dos adolescentes, um mapa que seconstrói frente às dinamicidades das experiênciasvividas por estes jovens, acerca da violência pre-sente nos games, construindo, assim, um olhar di-ferenciado desta interação. Objetiva também apon-tar as potencialidades e limites que poderão subsi-diar as práticas pedagógicas, bem como as rela-ções familiares, mediadas pelos games eletrôni-cos.
REFERÊNCIAS
ABERASTURY, Arminda e KNOBEL, Maurício. Adolescência Normal. Porto Alegre: Artes Médicas,1981.
BARBIER. René. Sobre o imaginário. Em Aberto: educação e imaginário: revendo a escola. Brasília, p.15-23, jan/mar.1994.
BATTETINI, G. Semiótica, computação gráfica e textualidade. In: PARENTE, A. (Org.). Imagem máqui-na: a era das tecnologias do virtual. Tradução de Alessandra Coppola. Rio de Janeiro: 34, 1996. p.65-71.
BOGDAN, Robert e BIKLEN, Sari. Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria e aosmétodos. Tradução Maria João Alvarez e outros. Lisboa: Porto, 1994.
445Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p.437-446, jul./dez. 2002
Lynn Rosalina Gama Alves
CABRAL, Fátima. Jogos eletrônicos: técnica ilusionista ou emancipadora? Revista USP: “Dossiê Informática/Internet”, São Paulo, n. 35, p.134-145, set/nov. 1997.
CALLIGARIS, Contardo. A adolescência. São Paulo: Publifolha, 2000. (Folha explica).
CAPUCCI. Luigi. Por uma arte do futuro. In: DOMINGUES. Diana (org). A arte no século XXI: ahumanização das tecnologias. São Paulo: Editora da UNESP, 1997. p.129-134.
CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.
CORSO Mário & CORSO, Diana. Game over: o adolescente enquanto unheimlich para os pais. In:JERUSALINSKY. Alfredo et al. Adolescência: entre o passado e o futuro. Porto Alegre: Artes Ofício, 1999,p. 81-95.
COUCHOT, Edmond. A arte pode ainda ser um relógio que adianta? O autor, a obra e o espectador na horado tempo real. In: DOMINGUES. Diana (org). A arte no século XXI: a humanização das tecnologias. SãoPaulo: Fundação Editora da UNESP, 1997. p.135-143.
DIÓGENES, Glória. Cartografias da cultura e da violência – gangues, galeras e o movimento hip hop. SãoPaulo: Annablume, 1998.
“FIGHT CLUB”. CLUBE DA LUTA. Direção de David Fincher. EUA: Vídeo Lar, 1999. 1 cassete (139min): son.; 12mm., legendado, VHS NTSC.
GREEN, B. & BIGUM, C. Alienígenas na sala de aula. In: SILVA (org.) Alienígenas na sala de aula – umaintrodução aos estudos culturais em educação. Petrópolis: Vozes, 1995. p.208-240
HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX.In: SILVA, Tomas (org). Antropologia do ciborgue – as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Auten-tica, 2000. p.131-139.
LEAKE, Jonathan. Games tornam jovens mais violentos, diz estudo: pesquisa fornece primeira evidênciasólida da relação entre jogos e agressividade. Jornal O Estado de São Paulo, 07.08.00. (Caderno deInformática). Disponível em <http://www.estado.com.br/editorias/2000/08/07/ger392.html>. Acessado em20 ago. 2000.
LEVIS, Diego. Los videojuegos, um fenômeno de masas: que impacto produce sobre la infância y la juventudla industria más próspera del sistema audiovisual. Barcelona: Paidós, 1998.
LÈVY, Pierre. Tecnologias intelectuais e modos de conhecer: nós somos o texto. Tradução de Celso Cân-dido. Disponível em <http://www.hotnet.net/PierreLevy/nossomos.html>. Acessado em 20 ago. 2000.
_____. A inteligência colectiva: para uma antropologia do ciberespaço. Tradução Fátima Leal Gaspar eCarlos Gaspar. Lisboa: Instituto Piaget, 1994.
LUCAS Peter. Violência na escola: questão de segurança ou de pedagogia? Revista Pátio, Porto Alegre,n.8, v.2, p.26-29, fev./abr.1999.
MACHADO, Arlindo. Hipermídia: o labirinto como metáfora. In: DOMINGUES, Diana (org). A arte noséculo XXI: a humanização das tecnologias. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997. p.144-154
MACEDO, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na educação.
446 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 437-446, jul./dez. 2002
Jogos eletrônicos e violência: desvendando o imaginário dos screenagers
Salvador: Edufba, 2000
MARCONDES, Ciro Marcondes Filho. Sociedade tecnológica. São Paulo: Scipione, Coleção Ponto deApoio, 1994.
MINAYO, Cecília e SOUZA, Edinilsa Ramos de. É possível prevenir a violência? Reflexões a partir ocampo da saúde pública. Ciências e Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v.4 , n.1, p.07-23, 1999.
MOGNOLI, Demétrio. Globalização: espaço nacional e espaço mundial. São Paulo: Moderna, 1999.
PACHECO, Elza Dias. Infância, cotidiano e imaginário no terceiro milênio: dos folguedos infantis à diver-são digitalizada. In: PACHECO, Elza (org). Televisão, criança, imaginário e educação. Campinas: Papirus,1998. p.29-38.
RONDELLI, Elizabeth. Imagens da violência e práticas discursivas. In. PEREIRA, Carlos Alberto Messeder.et al. (org). Linguagens da violência. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, p.144-162.
RUSHKOFF, Douglas. Um jogo chamado futuro: como a cultura dos garotos pode nos ensinar a sobreviverna era do caos. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
STERN, Christopher. Jovens são alvo de produtos violentos, diz estudo nos EUA: investigação mostra quea indústria do entretenimento quer seduzir adolescentes. O Estado de São Paulo, 29 de ago. 2000 (Cadernode Informática). Disponível em <http://www.estado.com.br/editorias/2000/08/29/ger907.html>. Acessadoem 30 de ago. 03
STRASBURGER, Vitor C. Os adolescentes e a mídia: impacto psicológico. Porto Alegre: Artmédica,1999.
TAPSCOTT, Don. Geração Digital: a crescente e irreversível ascensão da Geração Net. São Paulo: MakronBooks do Brasil, 1999.
“THE MATRIX”. MATRIX. Direção de Brothers Wachowski. Rio de Janeiro: Austra Cinema e Comunica-ção; Globo Vídeo, 1999. 1 cassete (136 min): son.; 12mm., legendado, VHS NTSC.
TURKLE. Sherry. La vida em la pantala: la construcción de la identidad en la era de Internet. Barcelona:Paidós, 1997
Recebido em 02.11.02Aprovado em 06.03.03
447Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 447-456, jul./dez. 2002
Roberto Evangelista
EDUCAÇÃO E VIRTUDENA REPÚBLICA DE PLATÃO
Roberto Evangelista*
RESUMO
O objetivo deste trabalho é o de pensar, através da leitura da República dePlatão, a importância da educação na formação do caráter ético do indivíduo.Pretendemos estabelecer o valor ontológico da educação na constituição do pró-prio ser do homem em sua existência estética, ética e política. Veremos que, emPlatão, a educação se apresenta como a fonte ou motor que permite o desenvol-vimento pleno da natureza das partes que compõem a alma humana. O queencontramos na República foi a revelação de que a educação é a única atividadeque pode estabelecer a justiça, isto é, a virtude de todas as virtudes. Em Platão,a justiça não se realiza pela lei ou pela coerção, mas pelo total afloramento daspotências naturais do corpo e da alma dos homens.
Palavras-chave: Educação – Virtude – Justiça – Corpo
ABSTRACT
EDUCATION AND VIRTUE IN THE REPUBLIC OF PLATO
The objective of this work is that of thinking, through the reading of the Republicof Plato, the importance of education in the education of the ethic character ofthe individual. We intend to establish the ontological value of education in theconstitution of the being of men itself in its aesthetic, ethical and politicalexistence. We’ll see that, in Plato, education presents itself as the source ormotor that allows the full development of the nature of the parts that composethe human soul. What we found in the Republic was the revelation that educationis the only activity that can establish justice, that is, the virtue of all virtues. InPlato, justice does not happen because of the law or through coercing, but becauseof the total blooming of the natural potencies of the body and the soul of men.
Key words: Education – Virtue – Justice – Body
* Aluno especial do mestrado em Filosofia da Universidade Federal da Bahia/UFBA. Endereço para cor-respondência: Rua Nelson Galo 308/Apto 302 Ed Fenix, Rio Vermelho – CEP: 41940-010 – Salvador/BA.E-mail: [email protected] Tel: 91588007
448 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 447-456, jul./dez. 2002
Educação e virtude na República de Platão
– É natural que se diga – declarei eu. – De fato, outros homens de pouca valia, ao verem que o terrenoficou vazio, e cheio de belos nomes e de magnificência, tal como os que escapam da prisão e serefugiam nos templos, todos contentes, precipitam-se da arte que exerciam para a filosofia; esses são,por acaso, os mais hábeis na sua ocupaçãozinha. É que, seja como for, e sendo esta a sorte da filosofia,ficou-lhe uma dignidade magnificente perante as outras artes, que atrai muitas pessoas de naturezatosca, cujos corpos foram deformados pelas artes e ofícios, da mesma maneira que as suas almas seencontram alquebradas e mutiladas devido às suas atividades manuais – ou não é forçoso que assimseja? (PLATÃO, 1949, p.287)
Como a filosofia, o ponto mais extremo queo espírito humano pode alcançar, a disciplina,cujo objeto é o ser perfeito, uno e eterno, pode-ria se instalar, crescer e resplandecer em corpose almas arrastados pelos excessos dos prazeres,pela corrupção dos vícios e pela infinidade deilusões ou aparências que o mundo sensível nãocessa de produzir? O mundo sensível é o mundodo devir, do tempo que degrada tudo aquilo queé; do tempo que torna o uno uma multiplicidade,o que torna o definido e o limitado indefinido eilimitado. Eis então o corpo que, sendo feito dematéria e tempo, carrega consigo a alma, aquiloque se assemelha mais ao divino pela sua partemais nobre, o lógos. O corpo, tecido pela insta-bilidade do tempo, introduz o caos na alma, fa-zendo com que suas funções naturais, pensar,desejar e sentir, ultrapassem os seus limites pró-prios e entrem em desacordo. Tal conflito des-trói a unidade natural da alma, unidade fundadanaturalmente na relação hierarquizada entre aspartes que devem governar e as que devem sergovernadas. O que acontece de fato com a almanessas circunstâncias? Suas funções deixam deexercer sua natureza própria, sua diferença. Equais são as conseqüências disso? As funçõesse permutam, se equivalem, se confundem, exe-cutam mal funções que não lhes são atribuídasnaturalmente. Que não nos surpreendamos, emnossos dias, com indivíduos que são, até à mor-te, conduzidos pelo ventre e não pelo que deve-ria conduzi-los, a razão (lógos). A injustiça en-tão se insere na alma, roubando de cada uma desuas partes o que lhe é devido por natureza. Avida de uma alma assim nada mais é do que ofruto da contingência e da dispersão. Sem suaunicidade essencial, ela vive fora da necessida-de e passa a ser determinada pelas circunstânci-
as, pelo acaso, pelo fortuito. E não é assim aalma democrática, frouxa, enfraquecida, semnenhuma coesão interna? Vejamos Sócrates de-nunciar e descrever o caos espiritual produzidoe alimentado pela democracia:
– Portanto – continuei eu –, passará cada dia asatisfazer o desejo que calhar, umas vezes em-briagando-se e ouvindo tocar flauta, outras be-bendo água e emagrecendo, outras ainda fazen-do ginástica; ora entregando-se à ociosidade esem querer saber de nada, ora parecendo dedi-car-se à filosofia. Muitas vezes entra na políti-ca, salta para a tribuna e diz e faz o que adregar.Um dia inveja os militares, e vai para esse lado,ou os negociantes, e volta-se para aí. Na vidadele, não há ordem nem necessidade; consideraque uma vida destas é doce, livre e bem-aventu-rada, e segue-a para sempre.– Descreveste perfeitamente a vida de um amanteda igualdade. (PLATÃO, 1949, p.394-395)
Entregue a determinações puramenteextrínsecas, a alma perde sua coesão interna.Estabelecido o conflito entre as suas faculda-des, pois cada uma delas reivindica a igualdadeabsoluta em relação às outras, negando-se aexercer a sua função própria, a alma, no indiví-duo, torna-se inimiga de si mesma e se vê toma-da pela injustiça.
– E se a injustiça, meu espantoso amigo, se ori-ginar numa só pessoa, com certeza não perderáa sua própria força, ou mantê-la-á tal qual?– Que a mantenha tal qual - respondeu.– Portanto, a injustiça parece ter uma força tal,em qualquer entidade em que se origine, querseja um Estado qualquer, nação, exército ouqualquer outra coisa, que, em primeiro lugar, aincapacita de atuar de acordo consigo mesma,devido às dissensões e discordâncias; e, além
449Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 447-456, jul./dez. 2002
Roberto Evangelista
disso, tornam-na inimiga de si mesma e de to-dos os que lhe são contrários e são justos. Não éassim?– Exatamente.– E, se existir num só indivíduo, produzirá, se-gundo julgo, os mesmos efeitos que por nature-za opera. Em primeiro lugar, torná-lo-á incapazde atuar, por suscitar revolta e discórdia em simesmo; seguidamente, fazendo dele inimigo desi mesmo e dos justos. Não é verdade?(PLATÃO, 1949, p. 46-47)
Como então conservar a alma em sua natu-reza própria, a justiça? Como evitar que se dei-xe levar pela hybris do corpo? Como, vencendoa corrupção incessante do mundo sensível, tor-nar o corpo semelhante à alma? E como possi-bilitar o desenvolvimento natural das faculda-des da alma? Se Platão define a virtude como oexercício de uma função própria a cada ser, aalma só será virtuosa se ela exercer as suas fun-ções naturais ou, utilizando a palavra mais ade-quada, as suas virtudes próprias. O caráter éti-co da alma é inseparável da realização dos finsinscritos em cada uma das suas partes, isto é, ocaráter ético é indissociável da instauração davirtude. Ora, o corpo é um obstáculo para o exer-cício pleno da essência da alma. A alma entãodeve submeter o corpo às suas exigências, aosseus fins. Como isso é possível? A alma deverátornar o corpo dúctil, domesticável. Na Repú-blica, Sócrates diz que não se trata o corpo pelocorpo, mas o corpo pela alma.
(...). Efetivamente, julgo que o corpo não se tra-ta por meio do corpo, pois não seria possívelque eles fossem ou se tornassem doentes, mas ocorpo por meio da alma, (...). (PLATÃO, 1949,p.146)
Notemos que Platão, ao contrário do que mui-tos possam pensar, acredita que o filósofo devese ocupar do corpo. Aliás, em Platão, jamaisseremos virtuosos se nossos corpos se encon-trarem mergulhados, completamente, no mundoda matéria bruta. Jamais seremos filósofos senão tornamos o corpo digno da alma. Um corpodoente pode levar, definitivamente, a alma à per-
dição. Instaurar a virtude na alma exige, enquan-to estivermos envolvidos pelo corpo, uma lutaconstante, um longo e duro aprendizado no de-correr de toda a vida. No mundo do devir, não éfácil nos tornarmos o que somos. É surpreen-dente como estamos, nós, contemporâneos, dis-tantes do ideal filosófico dos antigos. A filoso-fia, no meio universitário não se ocupa, em ne-nhum momento, do corpo. Dissociado do cor-po, o pensamento universitário torna-se abstra-to, sem nenhum poder de intervenção no modode vida do jovem estudante. Fazer filosofia pas-sou a ser uma tarefa fácil? O que é mais difícil?Aprender lógica ou tornar-se virtuoso? E queacontece quando um jovem aprende dialética semter passado por uma longa e dura Paidéia? Eis oque nos diz Sócrates:
– Ora não será uma precaução segura, não osdeixar tomar o gosto à dialética enquanto sãonovos? Calculo que não passa desapercebido queos rapazes novos, quando pela primeira vez pro-vam a dialética, se servem dela, como de umbrinquedo, usando-a constantemente para con-tradizer, e, imitando os que os refutam, vão elesmesmos refutar outros, e sentem-se felizes comocachorrinhos, em derriçar e dilacerar a toda ahora com argumentos quem estiver perto deles.– É espantoso como eles gostam!– Ora depois de terem refutado muita gente, e,por sua vez, terem sido refutados por vários,caem rapidamente e em toda a força na situaçãode não acreditar em nada do que dantes acredi-tavam. (PLATÃO, 1949, p.359)
Com os sentidos ainda no estágio mais in-fantil, o jovem faz da dialética um instrumentoa serviço da tolice e do cinismo. Ora, uma sen-sibilidade assim vulnerável está à mercê das maisterríveis forças sociais e políticas. Referindo-nos ainda ao nosso tempo, devemos colocar aseguinte questão: se, hoje, a filosofia não se ocu-pa mais do corpo, quem ou o quê se encarregadele? Comoiesperar que homens que sofrem aexploração atroz do trabalho e que, aoretornarem para seu lar, são contaminados, dia-riamente, pelas tolices da televisão, aprendam a
450 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 447-456, jul./dez. 2002
Educação e virtude na República de Platão
pensar? Nosso mundo oferece uma vida rica,requintada, sofisticada ao homem moderno?Afinal, os nossos estabelecimentos públicos deensino nos oferecem, fisicamente, condições deestudo? Será que os nossos estudantes não seencontram alquebrados pela pobreza física eespiritual? É sobre tudo isso que nos faz pensarPlatão. Ele compreendeu que, sem educação efe-tiva, não haverá virtude. E tal educação deveenvolver toda a existência humana, inclusive ocorpo:
– Então o que deve ser?– Exatamente o contrário. Quando são adoles-centes e crianças, deve empreender-se umaeducação filosófica juvenil, cuidando muito bemdos corpos, em que se desenvolvam e em queadquirem a virilidade, pois eles são destinadosa servir à filosofia. (PLATÃO, 1949, p.292)
Nesse trecho, Sócrates refere-se à palavra vi-rilidade, virilidade do corpo. Nada de corpos cur-vos, tortos, cansados e frágeis em se tratando defilosofia. A filosofia exige do corpo força e ele-gância. Tratar o corpo pela alma significaespiritualizar o corpo, o que quer dizer torná-lotão forte quanto doce. Um corpo forte para su-portar a labuta do pensamento e, ao mesmo tem-po, doce e fino para se abrir a coisas tão sutisquanto as idéias. Quanto ao doce e à dureza docorpo, Glauco e Sócrates dizem:
– É isso mesmo! Os que praticam exclusivamen-te a ginástica acabam por ficar mais grosseirosdo que convém, e os que se dedicam apenas àmúsica tornam-se mais moles do que lhes fica-ria bem.– E, contudo, o que há de corajoso na sua natu-reza é que poderá dar lugar à grosseria, e, sefosse bem cultivado, daria a coragem; mas, de-masiado tenso, origina a dureza e a irascibilida-de, como é natural.– Assim me parece!– Pois então! A doçura não é apanágio de umnatural dado à filosofia? Mas, se ela afrouxa,torna-o mais mole do que convém; se é bemdirigida, ficará doce e ordenado. (PLATÃO,1949, p.149)
O fundamento ontológico da virtu-de: o caráter ético como desenvolvi-mento da “physis” da alma
Mesmo que todos os habitantes de um Estado sedesviem da norma num sentido determinado,não é na natureza, que por si pende para o bem,mas na educação, que se deverá procurar a cau-sa do mal. Por conseguinte, a teoria das formasdo Estado deve ser considerada ao mesmo tem-po uma patologia da educação. (JAEGER, 2001,p.929)
A concepção aristocrática da educação fun-da-se na crença que eleva o indivíduo de almanobre ao nível dos deuses. O guerreiro homéricopertence a uma linhagem diretamente ligada aum ser de essência divina. Bem nascido(eupátrida), o jovem nobre é virtuoso de direito.Noiientanto, tal virtude divina, inicialmente, nãose encontra totalmente realizada na alma. Usan-do a terminologia aristotélica, diríamos que avirtude encontra-se aqui em potência, como aflor encontra-se virtualmente na semente. É aeducação que deverá desenvolver a virtude na-tural do aristocrata. No homem desprovido davirtude divina, não vemos o que a educação podefazer. Qualquer um que esteja excluído das cas-tas nobres está fadado à ignorância. Geralmente, quando falamos da Grécia anti-ga, pensamos, de imediato, em palavras como:laicização, dessacralização e razão. Apontamoso pensamento grego como aquele que separou ohomem do jugo das forças míticas e religiosas.Afinal, não foram os gregos que inventaram aciência e a filosofia? Mas sabemos, depois dostrabalhos de Jean-Pierre Vernant, sobretudo emOrigens do pensamento grego (1996), que to-das essas inovações não foram frutos de um mi-lagre. Foi a democracia, instituída por uma sé-rie de fatores históricos, que mudou a mentali-dade grega. Nietzsche (1938, p.31), em O nas-cimento da filosofia na época trágica grega,diz que os filósofos são cometas enquanto nãoencontram um povo que os acolha. Mas só naGrécia eles puderam brilhar como astros. A Ate-nas democrática do século V recebeu esses as-
451Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 447-456, jul./dez. 2002
Roberto Evangelista
tros com júbilo. Os sofistas, por exemplo, eramquase todos estrangeiros. Talvez pressionadospela pouca liberdade de suas cidades, emigra-ram para a terra da liberdade política. Protágorasera de Abdera, Górgias, da Sicília, Pródicos, deIulis e Hípias, de Elis. A razão, a partir desses grandes sofistasitinerantes, passa a ser a medida de todas ascoisas. E mais, sendo faculdade humana, ela estásujeita, mergulhada no tempo humano, a varia-ções. A razão, para os sofistas, varia de acordocom o espaço, com o tempo e com os indivídu-os. Ao contrário do homem religioso, que acre-ditava na força da Necessidade (Anagkhé), ossofistas diziam não haver nada fora da contin-gência do tempo humano (kairós). Vejamos aspalavras de Jacqueline de Romilly sobre o as-sunto:
Ainda falamos do ser e do não-ser, mas todaquestão de realidade ou de verdade desaparecepara dar lugar somente às impressões dos ho-mens, e apenas elas decidem suas sensações eopiniões, sensações e opiniões que não se podeconfrontar nem confirmar, e que variam em fun-ção das pessoas e das circunstâncias. Ora, elassão o único critério e a única medida (...) De umsó golpe, eis o homem que se torna o único juiz,e eis que todas as idéias começam a flutuar, semque nada possa lhes servir de âncora.(ROMILLY, 1988, p.122)
Ora, num mundo desprovido de necessida-de, não se pode falar de natureza da alma, so-bretudo de natureza nobre ou divina. LourençoLeite está certo quando diz que (...) a filosofiagrega é “uma vaca profana”: traz a público e àtona o que era [a verdade] considerado recôndi-to e inacessível (LEITE, 2001, p.13). Tal afir-mação nos leva a pensar a sofística como duasvezes profana, pois não diz que a verdade, antespropriedade exclusiva dos deuses, se torna aces-sível a todos, mas, simplesmente, diz que nãohá nem mesmo verdade a ser alcançada; a razãonão precisa se ocupar com nada que lhe sejasuperior, mesmo que seja com algo como a ver-dade. Assim, os sofistas, os primeiros professo-res da Grécia, diziam não haver verdade pro-
funda das coisas, nem tampouco almas natural-mente virtuosas. Qualquer um pode se tornarvirtuoso. A virtude se ensina, basta consultar umbom sofista. Evidentemente, a virtude da qualnos falam os sofistas nada tem a ver com a ex-celência do guerreiro. Ela é, na concepçãosofística, um saber prático, uma virtude quepermite ao indivíduo tirar bom partido do aca-so, da contingência da vida política e social. E oinstrumento da nova virtude é o discurso, umrecurso puramente intelectual. Na política, sóvence quem sabe convencer, quem sabe usar bemo seu logos. Platão não podia ver com bons olhos tal ide-al pedagógico. A formação do caráter ético nãopode se realizar sem um fundamento na nature-za da alma humana. Por quê? Basta lembrar odestino de Atenas, cujos políticos foram educa-dos pelos sofistas. Mergulhada no individualis-mo, no egoísmo dos partidos e das castas queusavam a nova virtude em seu próprio interessee não no da polis, Atenas é minada por conflitose guerras. E não foi essa cidade que matouSócrates, o mestre de Platão? Urgia então quePlatão fundasse a ética no ser, no que é uno eimutável, a natureza da alma. Ora, eis aqui umabela democratização do ideal aristocrático, poisPlatão afirma que a alma em si, seja de quemfor, é virtuosa por natureza, essencialmente boa(PLATÃO, 1949, p.207). A alma divina que eraatribuída aos membros de uma casta nobre pas-sa a ser atribuída a todos os homens. E tal comona concepção aristocrática da virtude, a almanão se encontra inteiramente desenvolvida nohomem. Assim, é preciso estabelecer umaPaidéia para todos os indivíduos, sem distinçãode castas, para que a virtude natural de cada umdesabroche em toda a sua plenitude. O caráterético em Platão é inseparável da construção davirtude, mas construção na filosofia platônicadeve significar a formação de uma physis, danatureza da alma, como bem expressou WernerJaeger, referindo-se à formação da physis espi-ritual, isto é, ao desenvolvimento, pela paidéia,da natureza humana:
(...) o objetivo de toda comunidade humana é
452 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 447-456, jul./dez. 2002
Educação e virtude na República de Platão
conseguir o máximo desenvolvimento da almado indivíduo, isto é, educá-lo para fazer dele umapersonalidade humana completa. O objeto dapolítica, tal como o da medicina, é a naturezahumana (physis). O que Platão entende por istodescobre-se no final do livro IV, onde ele definea justiça como a verdadeira e genuína physis daalma. (JAEGER, 2001, p. 926)
Citemos também Solange Vergnières que, co-mentando a Paidéia platônica, afirma a relaçãonecessária entre o ethos e a physis:
Ethos designa em Platão o temperamento natu-ral, inteiramente sinônimo de physis ou detropos.(...)A educação moral então retoma o modelo aris-tocrático, pois que ela é formação de uma physis.(VERGNIÈRES, 1995, p. 57-58)
A justiça como condição da virtude,e a paidéia
– E, deste modo, se concordará que a posse doque pertence a cada um e a execução do que lhecompete constituem a justiça. (PLATÃO, 1949,p.187)– Bem – disse eu –. Portanto, não te parece teruma virtude que lhe é própria tudo aquilo queestá encarregado de uma função? Tornemos aomesmo ponto: os olhos, dizíamos nós, têm umafunção?– Têm.– Portanto têm também uma virtude. (PLATÃO,1949, p.46)
Como não confundir a definição de justiça ea definição de virtude em Platão? Poderíamosdizer que a virtude é o ser próprio de cada coisa,e a justiça consiste em desenvolver e afirmar esseser? Sem justiça, a virtude não se realizaria. Noentanto, Platão não reserva à justiça apenas aexecução do que pertence a cada ser, mas a de-fine também como aquilo que é possuído porcada ser, isto é, sua virtude própria. Mas, pelofato de as coisas estarem separadas de si mes-mas pelo tempo, diremos que o ser de cada coi-sa não é dado de uma vez, isto é, cada ser devese apoderar do que lhe pertence por natureza
pela realização de sua essência própria. As coi-sas são, mas não são plenamente enquanto nãoentrarem em posse de si mesmas pela execuçãode sua virtude própria, isto é, sua essência. Ajustiça é então a condição para que cada virtudeespecífica se realize. Parece-nos que a justiça éa expressão do próprio princípio de identidade:ela é a garantia de que as coisas sejam o quesão. Segundo Platão, a alma se divide em trêspartes, logos, thymos e epithymia. A justiça é avirtude comum a essas três partes, pois só elapermitiria que cada uma realizasse suas virtu-des específicas (sabedoria, coragem e temperan-ça). A justiça é a condição ontológica da alma.Mas, no mundo sensível, o que poderia garantiro estabelecimento da justiça na alma? A lei seriaum recurso? O que faz a lei? Ela apenas pune otransgressor, não o educa. A relação entre a lei ea alma é puramente extrínseca. Aliás, existirialei se os homens de uma pólis fossem todos jus-tos? A lei não seria um mero paliativo para re-tardar a degradação da alma humana? Vejamoso que dizem Sócrates e Adimanto:
– Olha ainda, em nome dos deuses!-disse eu-.Essas questões de negócio relativas a contratosque fazem as diferentes classes na praça umascom as outras, e, se quiseres, os contratos demão-de-obra, as ofensas e tratamentos injurio-sos, instauração de processos e nomeação de ju-rados, e, se acaso for necessário, a exacção epagamento de impostos na praça ou no porto,ou em geral, a regulamentação do mercado, dacidade, do porto e tudo o mais dessa espécie -aventurar-nos-emos a propor qualquer legisla-ção sobre essas questões?– Não vale a pena estabelecer preceitos parahomens de bem, porque facilmente descobrirãoa maior parte das leis que é preciso formular emtais assuntos.– Sim, meu amigo, se o deus lhes conceder apreservação das leis que anteriormente analisa-mos.– Se não – contrapôs ele – passarão a vida sem-pre a fazer leis dessa espécie e a corrigi-las, su-pondo que atingem a perfeição. (PLATÃO, 1949,p.127)
Se a lei é insuficiente para instaurar a justiça
453Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 447-456, jul./dez. 2002
Roberto Evangelista
na alma, o que poderá fazê-lo? Eis a resposta deSócrates:
(...) Efetivamente, uma educação e instrução ho-nestas que se conservam tornam a natureza boa,e, por sua vez, naturezas honestas que tenhamrecebido uma educação assim tornam-se aindamelhores que seus antecessores, (...). (PLATÃO,1949, p.168)– Parece-me, Adimanto, que o impulso que cadaum tomar com a educação determinará o que háde seguir.(...). (PLATÃO, 1949, p.171)
A educação do indivíduo, desde a mais ten-ra idade, deve tornar o seu corpo e a sua almatemperantes, imbuídos de coesão interna, isto é,dotados de harmonia e justa medida através doestabelecimento das proporções naturais tantode um quanto da outra (PLATÃO, 1949, p.202).A justa medida, a proporção e a perfeita sime-tria das coisas belas são propriedades dos seresperfeitos. Tudo que ultrapassa o seu limite pró-prio produz os mais terríveis males. E, devemosdizer, a harmonia da alma platônica éhierarquizada, pois entre as partes que devemse harmonizar há distinção de graus de perfei-ção ontológica (PLATÃO, 1949, p.203). O logosé a parte mais perfeita porque se assemelha maisàs formas supra-sensíveis, e é por isso que eladeve governar o thymos e a epithymia. O thymosou a parte irascível da alma, essa indignaçãomoral que, muitas vezes, desperta no homemcomum a revolta e a cólera contra a injustiça,está a serviço do logos e, por isso, deve gover-nar a epithymia, a parte que exerce a função dosprazeres a qual se assemelha mais às formassensíveis. O thymos deve ser mediador entre ologos e a epithymia. E como a educação possibilita o exercíciopróprio da função de cada parte da alma? Atra-vés do uso que faz da beleza e da proporção damúsica, da regularidade dos ritmos, da discipli-na da ginástica e da boa dieta e da poesia quan-do depurada das imagens falsas dos deuses edos homens. Sim, a poesia precisa ser depura-da. O que seria do guerreiro, o guardião da polis,se fosse vencido pelo medo da morte? Mas nãoé isso que vemos em muitas partes da Ilíada de
Homero (PLATÃO, 1949, p.101-114)? E comoos homens, criaturas inferiores aos deuses, po-deriam ser justos, honestos e temperantes, se ospróprios deuses são injustos e desmedidos? Masnão é isso que vemos também em Homero? E oriso excessivo que leva o homem à estupidez eao desleixo?
– Mas, na verdade, também não devem ser ami-gos de rir; porquanto quase sempre que alguémse entrega a um riso violento, tal facto causa-lhe uma mudança também violenta.– Assim me parece – respondeu.– Por conseguinte, não é admissível que se re-presentem homens dignos de consideração soba ação do riso; e muito pior ainda, se se tratardos deuses. (PLATÃO, 1949, p.107)
Ora, não poderíamos pensar na existência deum guerreiro risonho e medroso. E o que valepara os guardiões vale também para os filóso-fos. Se o filósofo ama as formas eternas, comoteria medo da morte? Ora, a morte é sempre docorpo e nunca da alma. E como os filósofos po-deriam ser risonhos, já que o riso excessivo eestúpido sempre vem dos prazeres excessivosdo ventre? O riso que vem do logos é raro e sem-pre reservado. Difícil seria conceber um filóso-fo covarde e brincalhão. Além disso, os filóso-fos são selecionados da classe dos guerreiros(PLATÃO, 1949, p. 271). Isto quer dizer que,antes de se tornar filósofo, o indivíduo deve sereducado como um guerreiro (PLATÃO, 1949,p. 356). A educação, pois, deve tomar cuidadocom a poesia, com a comédia e com o tipo demúsica que usamos para formar tanto o guer-reiro quanto o filósofo. O senso de medida de que a alma do guerrei-ro deve ser dotada se desenvolve cada vez maispelo estudo da geometria, da aritmética e da as-tronomia. E, finalmente, para aqueles que fo-ram selecionados para o exercício da filosofia,a dialética é ensinada a partir dos trinta e cincoanos, depois que o corpo e a alma do indivíduoencontram-se preparados para entrar em conta-to com as idéias eternas. A dialética, é precisodizer, vai muito mais longe do que um mero exer-cício lógico. Junto com a justiça, ela é a grande
454 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 447-456, jul./dez. 2002
Educação e virtude na República de Platão
instauradora da virtude, pois desperta na almao amor pelas verdades eternas. Sobre o sentidodos diálogos platônicos, leiamos as palavras dePierre Hadot:
V. Goldschmidt, a quem não se pode imputarquerer minimizar o aspecto sistemático das dou-trinas, propôs a melhor explicação desse fatodizendo que os diálogos não foram escritos para“informar”, mas para “formar”. Tal é, dessemodo, a intenção profunda da filosofia de Platão.Sua filosofia não consiste em construir um sis-tema teórico da realidade e em “informar” ime-diatamente seus leitores escrevendo um conjun-to de diálogos que expõe metodicamente essesistema, mas consiste em “formar”, isto é, emtransformar os indivíduos, fazendo-os experi-mentar, no exemplo do diálogo ao qual o leitortem a ilusão de assistir, a exigências da razão e,finalmente, a norma do bem. (HADOT, 1999,p.113)
Vimos como a dialética, quando não é em-pregada pelo homem virtuoso, aquele que apren-deu e amadureceu pela educação saudável, setransforma em pura erística se for utilizada pelohomem despreparado. A dialética, antes de qual-quer coisa, visa a formar o caráter ético do ho-mem, habituando-o a uma investigação rigoro-sa que torna sua alma mais justa, pois discipli-na o logos fazendo-o exercer sua função pró-pria, conhecer as idéias eternas. Tal conhecimen-to faz da razão senhora das outras partes daalma.
Conclusão: virtude e alteridade naalma
(...) a idéia do bem é a mais elevada das ciênci-as, e para ela é que a justiça e as outras virtudesse tornam úteis e valiosos. (...) Se não a conhe-cemos, e se, à parte essa idéia, conhecemos tudoquanto há, sabes que de nada nos serve, da mes-ma maneira que nada possuímos, se não tiver-mos o bem. (...). (PLATÃO, 1949, p.304)
Tal é a maneira como Platão definiu sua doutri-na sobre os pontos em questão. As considera-ções que precedem mostram, com evidência, queele se serviu apenas de duas causas: da causa
formal e da causa material (com efeito, as idéiassão causas da essência para o mundo sensível,e, por seu lado, o Uno é causa para as idéias), eessa matéria, que é substrato (e da qual se di-zem as idéias, para as coisas sensíveis, e o Um,para as idéias), é a Díade do Grande e do Pe-queno. Platão colocou ainda, em um desses doisprincípios, a causa do Bem, (...) (ARISTOTE,1991, p. 33 – tradução nossa)
A natureza da alma, como já vimos, funda-se na coesão essencial entre suas partes. A justi-ça é a virtude que garante a unicidade entre aspartes da alma, permitindo que cada uma delasexerça a sua própria natureza, evitando que ul-trapasse seus limites e instaure o conflito e ocaos na alma. Sem unidade interna, nenhum serpode afirmar o seu ser, pois se fragmenta emmúltiplas tendências, acolhendo, em seu âma-go, a contradição, o não-ser. Se não comportás-semos unidade em nossa essência, não podería-mos sequer existir, pois seríamos ora uma coisaora outra indefinidamente. Então, além do ser,deve haver algo superior que garanta a unidadeou a coerência interna de todas as coisas. Talcomo o sol ilumina os seres, revelando a suaidentidade e evitando que tudo se confunda nummundo de sombras, o Bem, que não é ser nemessência, e cuja essência é o uno, deve garantira permanência de tudo aquilo que é:
– Logo, para os objetos do conhecimento, dirásque não só a possibilidade de serem conhecidoslhes é proporcionado pelo bem, como também épor ele que o Ser e a essência lhes são adiciona-dos, apesar de o bem não ser uma essência, masestá acima e para além da essência, pela sua dig-nidade e poder. (PLATÃO, 1949, p. 312)
Ora, se o Bem é a fonte de todas as coisas, oque traz em sua essência o Uno, que é a condi-ção de tudo aquilo que é, então todas as virtudessobre as quais discorremos são nada mais quepuras manifestações do Bem na alma. A alma,pela afirmação de suas virtudes próprias, aco-lhe em seu seio algo que lhe é superior, o Bem,como fonte de todo ser, o princípio de todas asvirtudes. Conduzida pelo amor à perfeição su-
455Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 447-456, jul./dez. 2002
Roberto Evangelista
prema que a aproxima, indefinidamente, do Bem,a alma se regozija e avança cada vez mais emdireção ao princípio ontológico, gnosiológico eaxiológico. Surge então, na alma, uma tensãoque a divide entre o mundo sensível e o mudointeligível ao qual deseja se unir. A virtude in-troduz no espírito humano o desejo de se reunirao princípio mesmo dessa virtude, o Outro trans-cendente, o Bem jamais atingido, mas semprepróximo. Vejamos o que Gilles Deleuze (1974,p.196) tem a dizer sobre a inacessibilidade daidéia do Bem:
(...) O Bem não é apreendido senão como objetode uma reminiscência, descoberto como essen-cialmente velado; o Um não dá senão o que nãotem porque é superior ao que dá, retirado naaltura; (...)
Concluindo, diremos que, diante do que foidesenvolvido nas linhas acima, a instauração davirtude na formação do homem ético consiste,antes de tudo, em despertar no espírito o amorpelo Bem, induzindo-o a um esforço incessantede a ele se unir. Na ordem ontológica, o Bemsupremo é primeiro, mas, na ordem da Paidéia,a justiça e as outras virtudes são primeiras por-que se apresentam como a condição para des-pertar em nós o desejo de conhecer o Bem. Esomente quando no inundamos com a luz dogrande princípio é que passamos a ver, nos ho-mens e nas coisas, a expressão da perfeição. Aodesejo de nos unirmos ao grande Outro, sucedeo desejo de nos juntarmos aos outros homensnuma unidade política e social que manifeste amais extrema perfeição do Bem.
(...) Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se a tomares como ascensão daalma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa, já que é teu desejo conhecê-la. O Deussabe se ela é verdadeira. Pois, segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista, a custo, a idéiado Bem; e, uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo;que, no mundo visível, foi ela que criou a luz, da qual é senhora; e que, no mundo inteligível, é ela asenhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para se ser sensato na vida particular epública. (Platão, 1949, p.232)
REFERÊNCIAS
ARISTOTE. Mátaphysique. Traduit par J. Tricot. Paris: J. Vrin, 1991.
DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. Tradução de Luiz Roberto Salinas Fortes. Rio de Janeiro:Perspectiva, 1974.
HADOT, Pierre. O que é a filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 1999.
JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. Tradução de Artur Parreira. São Paulo: MartinsFontes, 2001.
LEITE, Lourenço. Do simbólico ao racional: ensaio sobre a gênese da mitologia grega como introdução àfilosofia. Salvador: Secretaria da Cultura e Fundação Cultural, 2001.
NIETZSCHE, Friedrich. La naissance da la philosophie à l’époque de la tragédie grecque. Traduit del’allemand par Geneviève Bianquis. Paris: Gallimard, 1938.
PLATÃO. A República. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,1949.
456 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 447-456, jul./dez. 2002
Educação e virtude na República de Platão
PLATON. Parménide. In: Platon, oeuvres complètes. Traduit par Léon Robin. Paris: Gallimard, 1950.
ROMILLY, Jacqueline de. Les grands sophistes dans l’Athènes de Péricles. Paris: Fallois, 1988.
VERGNIÈRES, Solange. Éthique et politique chez Aristote. Paris: Presses Universitaires de France, 1995.
VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. Tradução Ísis Borges da Fonseca. Rios deJaneiro: Bertrand Brasil, 1996.
Recebido em 29.07.02Aprovado em 06.03.03
459Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 459-460, jul./dez. 2002
Gey Espinheira
ATAIDE, Yara Dulce Bandeira de. Clamor do presente: história oral defamílias em busca da cidadania. São Paulo: Loyola, 2002, 277 p.
“Clamor do presente”: a vida cotidiana revisitada
Gey Espinheira*
ATAIDE, Yara Dulce Bandeira. Clamor of the present: oral history of familiesin search for citizenship (Clamor do presente: história oral de famílias embusca da cidadania). São Paulo: Loyola, 2002, p. 277 “Clamor of the present”:everyday life revisited (“Clamor do presente”: a vida cotidiana revisitada)
Yara Ataíde mergulha na ficção real. Para-doxo, sim! Mas é um dos recursos mais impor-tantes das Ciências Humanas. A história oral, ahistória de vida, como “Vidas secas”, deGracialiano Ramos, ou “Crime e Castigo”, deDostoievski. Uma amplitude monumental por-que se trata de gente e gente é absolutamenteuniversal. Yara trata de uma sub população quefala de seus sofrimentos, desilusões, desejos eanimações da vida. O “Clamor do presente” éum livro mágico: faz aparecer quem está dissi-mulado, faz ser gente quem é Gente e assim elatece, cuidadosamente, sem desfazer o feito, otecido social que não deve ser dilacerado. O tearda autora, operado com a mão, com a alma e oolho – como diria Valery – é capaz de comporum “pano-da-costa” e nos proteger da insanida-de consumista do mundo da exclusão.
Os seres que vagam, que deixaram paratrás e que ainda não têm o que desejam, e,talvez, estejam à deriva. Esses, muitos, fa-lam a Yara de suas vidas. Foi a sensibilidadede uma historiadora, capaz de historiar o pre-sente, que é rio continuado, que nos traz vo-zes silenciosas que nos falam de um mundo
* Gey Espinheira é sociólogo, ensaísta e ficcionista; professor de sociologia da Faculdade de Filosofia eCiências Humanas da Universidade Federal da Bahia - FFCH/UFBA. Endereço para correspondência:Centro de Recursos Humanos da Universidade Federal da Bahia – CRH/UFBA: Rua Caetano Moura, 99(Federação) – 40.210-340 Salvador/BA. E-mail: [email protected]
que, propositadamente, fingimos não ver.O cenário humano é espantosamente hete-
rogêneo. Uma diversidade incrível de tipos hu-manos, mas a racionalidade simplifica: po-bres, remediados e ricos. Todos, aparentemen-te, são iguais, só se diferenciam em idade,sexo, condições sócio-econômicas, procedên-cia e raça. São todos a mesma gente, perten-cem ao gênero humano, mas não são iguais.
É verdade! Yara Ataíde busca a palavrade uma gente à qual não é dada a chance defalar, uma gente que não se vê, que não seouve, como se não existisse, mas soma mi-lhares e milhares de seres que vivem nas ruas,são esses lugares públicos os seus lugaresprivados.
Uma declaração no contexto do livro de umamulher pobre, que foi prostituída e que saiu domangue para uma favela da cidade do Salvador,fala dela e de seu companheiro: “O Raí, ele dizque cansou de trabalhar...”. Pode-se pensar queeste homem se aposentou ou desistiu; não, o queela quer dizer e revela é que o trabalho não ren-de, não compensa; a realidade brasileira é a deque não há trabalho, não há remuneração, e en-
460 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 459-460, jul./dez. 2002
ATAIDE, Yara Dulce Bandeira de. Clamor do Presente: história oral de famílias em busca da cidadania
tão a pessoa cansa de tanto fracasso, de tantafrustração. Trata de uma gente que está fora das possi-bilidades sociais. Mas Yara chama essa gentede Gente e dá a ela a chance de falar. Não sãofrustrados por si mesmos, mas socialmente des-tituídos, absorvidos e impossibilitados; no en-tanto, são projetos de vida, são projeções da pró-pria sociedade. Como é importante ouvir os desafortunados edeles a crítica social que formulam. É extraor-dinário o cotidiano ressaltado, destacado pelanarrativa de vidas que escorrem cheias de senti-do e, no entanto, parecem absolutamentedesperdiçadas: “A gente passa o dia todo aqui...nossa vida é aqui mesmo”. Território de rua epraça, tempo sem seleção do que fazer. O serhumano reduzido a sobreviver onde as condi-ções ecológicas permitem: “Gosto mais de ficaraqui na Piedade... aqui arranjo comida e tô per-to do Pronto-Socorro, quando Nino tem crise deasma. Aqui, na Piedade, o povo dá comida pragente... e sempre arranja alguma coisa pra co-mer e vestir...” (p.89) Essa gente está à nossa vista, é uma peque-na multidão, mas preferimos não vê-la, ainvisibilisamos, são a sujeira social. A expulsa-mos – o Estado – do Pelourinho, e de tantosoutros lugares; a escondemos sob o tapete doturismo, descentralizamos enviando para as pe-riferias. Yara é teimosa, traz o “clamor do presente”e nos convoca à responsabilidade de saber quesão seres humanos: amam, têm dores, ciúmes,desejos – mas não são como nós, consumidoresbem sucedidos, são consumidores falhos, gente fa-lida, fracassada. Ela dá voz a essa genteescorraçada que fala com os sentimentos de quemé Gente! São esses sentimentos que configuram o gê-
nero humano. O “clamor do presente” nos diz,de imediato, o quanto somos cruéis. Este livro éa revelação da crueldade humana, mas tambémde uma humanidade que nos dá esperança emnós mesmos. “A vida tava muito ruim lá em Mata, faltavaemprego e não tinha recurso... a cidade é muitopequena, a gente não ia ficar lá passando fome...por isso a gente veio pra Salvador atrás de mé-dico e de emprego... só que tamos hoje dessejeito... nós temos já, temos um bocado de anosnessa vida triste de rua” (p.76). Os depoimentos se sucedem e questionam o“gênero humano”. É uma história da vida coti-diana através de seus personagens, mas não éficção, no sentido de uma invenção artística, épura realidade, cada personagem existe de fatoe sofre e muitos deles se desperdiçam, se conso-mem, são obrigados apenas a sobreviver, sempossibilidades de realizar as animações da vidaque, certamente, como sonhos e ilusões, todostêm, porque são humanos; mas estes são huma-nos pobres, desafortunados, explorados por ou-tros seres humanos. Não somos essencialmente bons, eis a men-sagem do livro de Yara Ataide, mas podemosser socialmente bons. Eis o recado que nos trans-mite o “Clamor do presente”: histórias de genteesfarrapada, de vidas dilaceradas, de instituiçõesintolerantes, de (des)compromisso social, de faltade solidariedade. Yara nos convida, em sua esperança huma-na, a fazer a nossa “lista de Schindler”, e queesta “lista” fosse uma política pública, e quise-ra que fossem incluídos todos os desafortuna-dos, que todos nós fôssemos, ao invés deespoliadores, responsáveis por todos. A vontadede uma sociedade ampla e agregadora. Eis o“clamor do presente” que já é razão de vingan-ça contra a sociedade da exclusão.
Recebido em 12.01.03 Aprovado em 21.01.03
461Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 461-462, jul./dez. 2002
INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES
A Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade é uma publicação semestral eaceita trabalhos originais que sejam classificados em uma das seguintes modalidades:
- resultados de pesquisas sob a forma de artigos, ensaios e resumos de teses ou monografias; - entrevistas, depoimentos e resenhas sobre publicações recentes.
Os trabalhos devem ser apresentados em disquete (Winword), ou enviados via Internet paraJacques Jules Sonneville: [email protected] / [email protected], segundo as nor-mas definidas a seguir:
1. Na primeira página devem constar: a) título do artigo; b) nome(s) do(s) autor(es), endereço,telefone, e-mail para contato; c) instituição a que pertence(m) e cargo que ocupa(m).
2. Resumo (português) e Abstract (língua estrangeira): com no mínimo 200 palavras e no máximo250, cada um, de acordo com a NBR 6028. Logo em seguida, as Palavras-chave (português) e Keywords (língua estrangeira), cujo número desejado é de no mínimo três e no máximo cinco.
3. As figuras, gráficos, tabelas ou fotografias, quando apresentados em folhas separadas, devem terindicação dos locais onde devem ser incluídos, ser titulados e apresentar referências de sua autoria/fonte. Para tanto devem seguir a Norma de apresentação tabular, estabelecida pelo ConselhoNacional de Estatística e publicada pelo IBGE em 1979.
4. As notas numeradas devem vir no rodapé da mesma página em que aparecem, assim como osagradecimentos, apêndices e informes complementares.
5. O sistema de citação adotado por este periódico é o de autor-data. As citações bibliográficas oude site, inseridas no próprio texto, devem vir entre aspas ou em parágrafo com recuo e sem aspas,remetendo ao autor. Quando o autor faz parte do texto, este deve aparecer em letra cursiva, obser-vando e respeitando a língua portuguesa; exemplo: De acordo com Freire (1982, p.35), etc. Jáquando o autor não faz parte do texto, este deve aparecer no final do parágrafo, entre parênteses eem letra maiúscula, como no exemplo a seguir: A pedagogia das minorias está a disposição de todos(FREIRE, 1982, p.35). As citações extraídas de sites devem, além disso, conter o endereço (URL)entre parênteses angulares e a data de acesso. Para qualquer referência a um autor deve ser adotadoigual procedimento. Deste modo, no rodapé das páginas do texto devem constar apenas as notasexplicativas estritamente necessárias, que devem obedecer à NBR 10520, de 2002.
6. Sob o título Referências deve vir, após parte final do artigo, em ordem alfabética, a lista dosautores e das publicações conforme a NBR 6023 2002, da ABNT (Associação Brasileira de Nor-mas Técnicas).
7. Os artigos devem ter, no máximo, 30 páginas, e as resenhas até 4 páginas. Os resumos de teses/dissertações devem ter no mínimo 250 palavras e no máximo 500, e conter título, autor, orientador,instituição, e data da defesa pública.
Atenção: os textos só serão aceitos nas seguintes dimensões no Winword 97 ou 2000:* letra: Times New Roman 12;* tamanho da folha: A4;* margens: 2,5 cm;* espaçamento entre as linhas: 1,5 linha;* parágrafo justificado.
462 Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 18, p. 461-462, jul./dez. 2002
8. As colaborações encaminhadas à revista são submetidas à análise do Conselho Editorial, aten-dendo critérios de seleção de conteúdo e normas formais de editoração, sem identificação da autoriapara preservar isenção e neutralidade de avaliação. A aceitação da matéria para publicação implicaa transferência de direitos autorais para a revista.
A Comissão de Editoração





























































































































































































































![[Segmedtrab] desenvolvimento sustentavel desenvolvimento sustentavel](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/559c05901a28ab98188b46a4/segmedtrab-desenvolvimento-sustentavel-desenvolvimento-sustentavel.jpg)

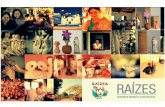
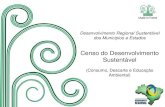




![[Segmedtrab] desenvolvimento sustentavel desenvolvimento sustentavel (1)](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/55c6fc2ebb61eb11658b4582/segmedtrab-desenvolvimento-sustentavel-desenvolvimento-sustentavel-1-55c6fc2e9c2df.jpg)