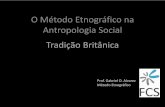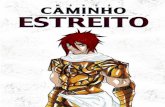EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO RECIFE: (RE)CONSTRUINDO UM … · privilegiado para o desenvolvimento da...
Transcript of EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO RECIFE: (RE)CONSTRUINDO UM … · privilegiado para o desenvolvimento da...
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CENTRO DE PESQUISA AGGEU MAGALHÃES – CpqAM NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA – NESC
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO RECIFE: (RE)CONSTRUINDO UM PROCESSO
LUCIANA REGINA DE BARROS PINHEIRO
Orientação: Paulette Cavalcanti de Albuquerque
Co-Orientação: Ana Lucia Martins de Azevedo
Recife,2002
2
LUCIANA REGINA DE BARROS PINHEIRO
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO RECIFE: (RE)CONSTRUINDO UM PROCESSO
Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do título de Especialista no Curso de Pós-graduação Latu Senso do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva do Departamento de Saúde Coletiva NESC/ CPqAM/FIOCRUZ/MS, sob orientação de Paulette Cavalcanti de Albuquerque.
Recife - 2002
3
LUCIANA REGINA DE BARROS PINHEIRO
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO RECIFE: (RE)CONSTRUINDO UM PROCESSO
Monografia aprovada como requisito parcial à obtenç ão do título de Especialista no Curso de Pós-graduação Latu Senso do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva do D epartamento de Saúde Coletiva NESC/ CPqAM/FIOCRUZ/MS, pela comissão form ada por: Orientador:
_____________________________________________ Paulette Cava lcanti Albuquerque
Mestra em Saúde Pú blica/CpqAm/FioCruz/MS
Debatedora:
_____________________________________________ Maria Verônica Araújo de Santa Cruz
Mestra em Educação /UFPB
Recife 2002
4
PINHEIRO, Luciana Regina de Barros Pinheiro: Educaç ão em Saúde no Recife:(Re)construindo um processo. Recife,2002. -- --p. Monografia (Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva) NE SC/CpqAm/FIOCRUZ/MS.
RESUMO A prática da educação em saúde no Brasil é tão antiga quanto à organização dos
seus serviços de saúde, que remontam ao início do século passado. Porém, mais,
recentemente esta prática vem sendo discutida e orientada para a promoção da
saúde e à proteção da vida. Reconhecida e valorizada no discurso da promoção da
saúde e no cenário da saúde pública do momento, quando a Atenção Básica
(particularmente o PSF e o PACS) é priorizada, a demanda por práticas educativas
cresceu muito, passando a ter papel predominante no contexto das ações e serviços
de saúde. O presente trabalho objetiva realizar um estudo descritivo do processo de
capacitação dos profissionais da Unidade de Saúde da Família do Skylab,
comunidade localizada no DS IV, Recife/PE, para implantação do 1º Núcleo de
Educação Popular em Saúde do Município. Foi desenvolvida no mês de novembro
de 2001, com a realização dos quatro módulos da capacitação. A metodologia
utilizada foi o estudo de caso único, a partir do qual buscou-se descrever
minuciosamente o processo e reunir elementos constitutivos da capacitação, que
indicaram a (re)construção dos conceitos teórico-metodológicos orientadores da
prática da educação em saúde no município. De maneira geral, observou-se que as
equipes não estavam preparadas, nem teórica e nem metodologicamente, para
desenvolverem ações diferentes das que vivenciaram em toda sua história de vida
profissional. Embora resistentes no início, os profissionais envolvidos chegaram no
final da capacitação com a compreensão de que a educação em saúde é um
processo sem o qual não será possível resolver a maioria dos problemas de saúde
que lhes são apresentados cotidianamente.
5
AGRADECIMENTOS
Agradeço a todas as pessoas que não mediram esforços para execução deste trabalho;
A Deus, que com seu poder supremo deu força e perseverança ao longo de toda minha
trajetória;
Aos meus pais, que souberam confortar meu cansaço e dar estímulo quando mais
precisei em toda a minha vida;
Á Paulette Cavalcanti, pela honra de te-la como orientadora;
À Verônica Santa Cruz, pela compreensão e cumplicidade em momentos
determinantes na construção deste trabalho;
Ao DS IV e à Equipe de Saúde da Família da comunidade do Skylab, pela forma com
a qual fui acolhida;
À minha amiga Janaina Farias, que dispensou especial atenção no decorrer desse
trabalho;
E, finalmente, à Carmem Clemente, “uma louca de pedra”, por ter plantado em mim a
semente do desejo pela transformação da difícil realidade social e de saúde na qual vive nossa
população.
6
AGRADECIMENTO ESPECIAL “Viver com sabedoria é ter o amor como ponto de referência. É deixar que os
sentimentos puros prevaleçam, é saber silenciar, avaliar e escolher. È pactuar com a
serenidade, definir o momento exato para formar o sensato”
Olavinho Drummond
À minha amiga e co-orientadora Ana Lúcia Azevedo, o meu carinho mais que especial
7
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
DS – Distrito Sanitário
PSF – Programa Saúde da Família
PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde
NUCEPS – Núcleo de Educação Popular em Saúde
OMS – Organização Mundial de Saúde
SESP – Serviço Especial de Saúde Pública
SUS – Sistema Único de Saúde
ESF – Equipe de Saúde da Família
NOAS- Norma Operacional Básica de Assistência à Saúde
USF- Unidade de Saúde da Família
ACS – Agente Comunitário de Saúde
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
URB- Empresa de Urbanização do Recife
THD- Técnico de Higiene Dental
SIAB- Sistema de Informação de atenção Básica
SSA2 – Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias na Área
IRA – Insuficiência Respiratória Aguda
DST- Doenças Sexualmente Transmissíveis
AIDS- Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
8
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO...........................................................................................................10 CAPÍTULO I
1. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL........................ ..............................................13
1.1 Educação Popular em Saúde: conceitos, contextos e breve histórico................13
1.2 O Modelo de Atenção à Saúde no Recife...........................................................19
1.2.1 O Programa de Saúde da Família .......................................................21
1.2.2 A Proposta de Educação em Saúde...................................................23
1.3 O Distrito Sanitário IV..........................................................................................26
1.4 Aspectos socio-econômicos e epidemiológicos
1.3.1 A comunidade do Skylab ....................................................................27
CAPÍTULO II
2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO................................................................29
CAPÍTULO III
3. A CAPACITAÇÃO COMO PROCESSO: A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO FAZER EM SAÚDE..................................... .......................................................31
3.1 O processo de capacitação dos educadores em saúde.....................31
CONSIDERAÇÕES FINAIS............................... ......................................................44
BIBLIOGRAFIA....................................... .................................................................46
ANEXOS
9
"Ivo viu a uva", ensinavam os manuais de alfabetização. Paulo Freire ensinou
a Ivo que a fruta não resulta do trabalho humano. É criação, é natureza. Que
semear uva é ação humana na e sobre a natureza. É a mão, multiferramenta,
despertando as potencialidades do fruto. Assim como o próprio ser humano foi
semeado pela natureza em anos e anos de evolução do Cosmo.
Que colher a uva, esmagá-la e transformá-la em vinho é cultura. O trabalho
humaniza a natureza e, ao realizá-lo, o homem e a mulher se humanizam. Trabalho
que instaura o nó de relações, a vida social.
Que mesmo sem ainda saber ler, ele não é uma pessoa ignorante. Não existe
ninguém mais culto do que outro, existem culturas paralelas, distintas, que se
complementam na vida social.
Ivo viu a uva e Paulo Freire mostrou-lhe os cachos, a parreira, a plantação
inteira. No início e no fim do aprendizado é a práxis de Ivo que importa. Práxis-
teoria-práxis, num processo indutivo que torna o educando sujeito histórico.
Ivo viu a uva e não viu a ave que, de cima, enxerga a parreira e não vê a uva.
O que Ivo vê é diferente do que vê a ave. Assim, Paulo Freire ensinou a Ivo um
princípio fundamental da epistemologia: a cabeça pensa onde os pés pisam.
Agora Ivo vê a uva, a parreira e todas as relações sociais que fazem do fruto
festa no cálice de vinho.
Texto extraído do texto de Frei Beto “Paulo Freire:a leitura do mundo ”
10
INTRODUÇÂO
A idéia de Promoção à saúde, segundo Sophia(2001), divulgada durante a
Conferência Internacional de Promoção da Saúde, em 1986, na cidade de Otawa
(Canadá) extrapola os limites dos Serviços de Saúde, quando supõe a necessidade
da relação entre as políticas setoriais e a comunidade, igualmente enfático,
Gentille(1999), afirma enfaticamente que a saúde – estado de completo bem-estar
físico mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade – é
um direito humano fundamental, e que a consecução do mais alto nível possível de
saúde é a mais importante meta social mundial, cuja a realização requer a ação de
muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor de saúde.
Compreendendo a saúde como um recurso para o progresso pessoal,
econômico e social, a carta de Otawa traz um conceito positivo, que transcende o
setor sanitário e que tem como requisitos para sua garantia a paz, a educação, a
moradia, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, justiça social e equidade
(OMS, 1986).
Como concepção orientadora da prática de promoção da saúde e da
educação em saúde e a educação popular, a educação popular segundo
Albuquerque(2001), pode ser um instrumento auxiliar na incorporação de novas
práticas por profissionais e serviços de saúde, uma vez que traz na sua concepção
teórica a valorização do saber do outro, entendendo que o conhecimento é um
processo de construção coletiva.
A educação em saúde é o campo de prática e conhecimento do setor saúde
que tem se ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação
médica e o pensar e fazer cotidiano da população(VASCONCELOS,1997).
A política de saúde implementada no país hoje, nos seus diversos níveis de
gestão, recoloca as ações básicas de saúde e o incentivo à participação comunitária
novamente no centro do seu discurso e intenção, quando da definição do modelo de
atenção à saúde, baseado no PACS e no PSF. E na implementação desses
11
programas, as ações de educação em saúde passam a assumir uma importância
fundamental para a realização dos seus propósitos (SMS-PCR,2001).
Sendo a Atenção Básica à Saúde o nível onde prioritariamente devem ser
desenvolvidas ações de Educação em Saúde e, sendo o Programa de Saúde da
Família (PSF) hoje a principal estratégia para a reorientação do modelo assistencial
a partir da atenção básica, pode-se considerar esse Programa como um espaço
privilegiado para o desenvolvimento da Educação Popular em Saúde. De fato a
localização das Unidades e o estreito relacionamentodas ESF’s com sua população
é um aspecto facilitador de ações predominantemente educativas(MS, 1997, apud
ALBUQUERQUE,2001).
.
Seguindo a mesma lógica, Vasconcelos (1999) refere que:
o fato desses programas estarem mais profundamente inseridos na dinâmica social local, de
terem uma constância e uma continuidade de atuação, de integrarem ações educativas,
preventivas e curativas e de serem de fácil acesso à população, proporciona a esses
serviços um grande potencialidade no enfrentamento do quadro de adoecimento e morte.
A definição de uma Proposta Municipal de Educação em Saúde,
especialmente se pautada pelos princípios da Educação Popular, teria um papel
importante em induzir novas práticas nos serviços de saúde, propiciando uma
valorização do saber popular e do usuário, fazendo ver aos profissionais o caráter
educativo das ações de saúde, facilitando a participação de atores sociais
importantes da comunidade no processo de construção da saúde (ALBUQUERQUE,
2001).
No Recife, um conjunto de ações foram estruturadas no sentido de viabilizar a
efetivação da proposta municipal de educação em saúde, entre elas a capacitação
profissional para as ações educativas referenciadas na Educação Popular. O
presente trabalho se propõe a realizar um estudo descritivo sobre a primeira
12
capacitação dos profissionais do município, realizada na Unidade de Saúde da
Família do Skylab pertencente ao IV Distrito Sanitário da Cidade do Recife.
13
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO CONCEITUAL
1.1 EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: CONCEITOS, CONTEXTOS E BREVE
HISTÓRICO
Por Educação Popular em Saúde compreende-se como sendo um processo
contínuo e participativo, que se realiza a partir do diálogo, da troca de
conhecimentos de experiências e de sentimentos. Tem por objetivos a construção de
novos saberes e fazeres, visando o entendimento sobre a realidade e os
condicionantes do processo saúde/doenças/saúde.
A educação em saúde não é uma prática recente. De acordo com
Vasconcelos(1999), já no final do século XIX e início do século XX, para combater
as epidemias de varíola, peste e febre amarela, que estavam trazendo grandes
transtornos para a exportação do café, o Estado sistematizou as primeiras práticas
de educação e saúde voltadas para a saúde das classes populares. Práticas, nas
quais, predominava a imposição de normas e comportamentos considerados
científicos pelos técnicos e burocratas, que deveriam ser incorporadas e aplicadas
pela população ignorante, em meio a um contexto político de forte domínio das
oligarquias rurais e de extrema debilidade dos atores populares, cuja a maioria havia
recentemente saído da escravidão.
Em 1930 cria-se o Ministério de Educação e Saúde com dois Departamentos,
um de Educação e outro de Saúde. O Departamento Nacional de Saúde era
responsável pelas ações coletivas em saúde, tendo como eixo de atuação as
campanhas e a educação sanitária (HOJE,2001).
Também é Vasconcelos(2000) que nos esclarece que:
nesse período a ação estatal no setor saúde se concentrava na construção de um sistema
previdenciário destinado às categorias de trabalhadores mais organizadas politicamente. As
14
ações educativas em saúde ficavam restritas a programas e a serviços destinados a uma
população à margem do jogo político central.
Com a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), em 1942,
ocorre uma grande transformação de mentalidade nas atividades da educação
sanitária. Desde o início, o SESP reconheceu a educação sanitária como atividade
básica de seus planos de trabalho, atribuindo aos diversos profissionais, técnicos e
auxiliares de saúde, a responsabilidade das tarefas educativas junto a grupos de
gestantes, mães, adolescentes e à comunidade em geral. Foi o SESP que começou
a preparar as professoras da rede pública de ensino como agentes educacionais da
saúde (HOJE,2001).
Em 1960 os Serviços de Educação Sanitária no governo limitavam suas
atividades à publicação de folhetos, livros, catálogos e cartazes, distribuindo na
imprensa do país pequenas notas e artigos sobre assuntos de saúde (HOJE,2001).
Para Vasconcelos(1999:27),
O governo militar, imposto pela Revolução de 1964, criou contraditoriamente
condições para uma série de experiências de educação em saúde que significaram
uma ruptura com o padrão acima descrito. A tranqüilidade social imposta pela
repressão política e militar possibilitou ao regime voltar suas atenções para a
expansão da economia, diminuindo os gastos com as políticas sociais. Como
conseqüência, houve o aprofundamento da desigualdade social, com o agravamento
dos indicadores de saúde (como a mortalidade infantil), crescendo a insatisfação
política da população, que aos poucos foi percebendo que o grande crescimento da
economia havia ocorrido as custas da piora de suas condições de vida, reativando os
movimentos populares
O final da década de 70 é o cenário no qual suscintam discussões,políticas
acerca das reorganizações do sistema de saúde.É também nesse período
que,segundo Vasconcelos (1998), surgem as primeiras esaperiências de serviços
comunitários de saúde desvinculados do Estado, onde profissionais de saúde
começam a esboçar tentativas de organização de ações de saúde integradas à
dinâmica social local(Vasconcelos,1998).
15
A participação de profissionais de saúde nas experiências de educação
popular a partir dos anos 70 trouxe para o setor uma cultura de relação com as
classes populares que representou uma ruptura com a tradição autoritária da
educação em saúde(HOJE,2001).
Vislumbrou-se esparsas e pontuais experiências alternativas em saúde: os
profissionais insatisfeitos com o caráter mercantil biologicista e alienador da prática
médica dominante se dirigem às periferias dos grandes centros urbanos e regiões
rurais, onde inicialmente se vinculam às experiências informais de trabalhos
comunitários, especialmente junto à Igreja católica e posteriormente nos centros e
postos de saúde(VASCONCELOS, 1997).
Paulo Freire, como um dos pensadores mais proeminentes da educação
popular, influenciou positiva e significativamente com suas teorias nas experiências
alternativas do setor saúde(CABRAL,1998).
À abertura política corresponde a um processo no qual os movimentos
populares ganham vivacidade e poder de reivindicações, fato que os fortalece para,
segundo Vasconcelos(1998), exigirem serviços públicos locais e participação no
controle de serviços já estruturados.
A Conferência sobre Atenção Primária à Saúde realizada em Alma-Ata (1978)
foi um marco político para a valorização da expansão de serviços de Atenção
Primária à Saúde, deslocando o eixo da assistência antes centrada nos hospitais.
São os primórdios do SUS.
O surgimento da Reforma Sanitária, segundo Rodrigues(2001), desencadeia
uma série de questionamentos a respeito das práticas pedagógicas e tradicionais,
sendo estas autoritárias e normativas. Enfim, com a Constituição de 1988 algumas
diretrizes da Reforma Sanitária são institucionalizadas, destacando-se a participação
popular na gestão dos serviços.
Quando se tem por propósito um modelo de saúde para a melhoria da
qualidade de vida, a educação se coloca como um elemento comum a todas as
16
atividades de saúde, um instrumento de socialização do saber , capaz de promover
a prevenção de doenças e a manutenção da saúde. Rodrigues (2001), reforça essa
acertiva quando coloca a educação popular em saúde como espaço de ampliação
da participação da população como sujeitos sociais, aspecto essencial para
consolidação dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde na Constituição
de 1988.
O período de 1991 a 2001 pode ser considerado como a fase de uma
“ experiência de Educação Popular na área de Saúde “. Ela se realiza a partir da
fusão do trabalho profissional da saúde pública com o trabalho cultural da Educação
Popular. A ação médica e a de outros profissionais da área de saúde não se limita a
um modelo assistencialista, mas se estende a uma ação cultural ampliada, de
diálogo e de crescimento de parte a parte, em busca de saídas e de soluções sociais
a partir do que se aprende e do que se motiva, quando se dialoga crítica e
criativamente sobre a vida e o mundo por intermédio do corpo e da saúde ( HOJE,
2001).
Notadamente, nos dias de hoje, em muitas instituições de saúde, grupos de
profissionais têm buscado impregnar suas ações de metodologias alternativas,
tuteladas pela educação popular. E nesse sentido, Vasconcelos(1998:04) observa
que
a educação em saúde deixa de ser uma atividade a mais realizada nos serviços para ser
algo que atinge e reorienta a diversidade de práticas ali realizadas, transformando-se em um
instrumento de construção da participação popular nos serviços de saúde e, ao mesmo
tempo, de aprofundamento da intervenção da ciência na vida cotidiana das famílias e da
sociedade.
Para o setor saúde brasileiro, a participação histórica no movimento da
educação popular foi marcante na criação de um movimento de profissionais que
busca romper com a tradição autoritária e normatizadora da relação entre os
serviços de saúde e a população. Apesar de uma certa crise do conceito de
educação popular nos novos tempos, é ele que vem servindo para identificar e
instrumentalizar a diversidade de práticas recentes.
17
Há uma variedade de alternativas metodológicas às práticas educativas
atuais, oriundas da educação popular. A experiência apresentada e analisada neste
trabalho adotou como estratégia metodológica oficinas de artes-educação
As crescentes utilização e valorização da abordagem de grupos mediatizada
pela oficina de arte-educação é uma prática recente , apesar dos princípios que a
regem coincidirem com os da educação popular, cuja origem remonta a meados do
século passado.Trata-se de uma abordagem didática,baseada no prazer e na
participação engajada de todos os envolvidos.
No processo pedagógico de realização de oficina prioriza-se a identificação ,
discussão e a busca de soluções para as dificuldades existentes na vida cotidiana
dos participantes.Considerados co-responsáveis pelo processo educativo e pela
construção do conhecimento, os participantes das oficinas,através de dinâmica de
grupo,jogos dramáticos ou de diversas formas de expressão da criatividade,
conseguem por meios de fantasias trabalhar situações concretas.
O planejamento da oficina requer uma estrutura equilibrada, que aumenta ou
mantenha a segurança física e emocional dos participantes.Segundo o manual do
ARTPAD(2001), a estrutura de uma oficina deve ser organizada em três etapas: a
primeira se refere à aproximação dos participantes e ao desenvolvimento da
identidade do grupo.Na segunda etapa é desenvolvido através de exercícios,
explorando materiais relevantes às próprias vidas.E a terceira, e última etapa,é a
preparação do grupo para deixar a oficina.Isto deve ser feito com exercícios através
dos quais,dependendo da intensidade da oficina,diminua o nível de energia ou
estimule a liberação de energia e risos.Outros itens relevantes são apresentados no
manual supracitados para a realização de uma boa oficina,como o aquecimento.Este
deve permitir que os participantes vejam como forças pessoais e deve ser
movimentado e divertido.O aquecimento contribui para a introdução dos
participantes nas atividades do dia,levando-os a expressarem o sentimento com o
qual estão chegando e esquecerem as obrigações do dia, que deixam pra trás.Os
níveis de energia do grupo na chegada e durante toda a sessão é outro item
18
relevante.O grupo deve ser energizado no início,visando seu estímulo e sua
concentração.A energia durante toda sessão observada para evitar o desestímulo.
O papel do facilitador é determinate no planejamento da oficina.”Como o
principal guardião de segurança de grupo, o facilitador tem que estar preparado para
olhar o grupo de fora, de uma forma diferente dos demais participantes,para
monitorar progressos e problemas”(GALVÃO & McCARTHY,2001:46-47).Seu
trabalho é liberar a expressão da imaginação e da criatividade inerentes a todo ser
humano. Os participantes são potencialmentes criativos,necessitando apenas de
uma estrutura que os facilite a exploração dos conteúdos.Assim, num espaço
seguro,deve-se propiciar a segurança física e emocional,a confiança, a integração
entre membros do grupo e as regras com as quais o grupo opera.
19
1.2 – O MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE NO RECIFE
O modelo de atenção à saúde é a arquitetura de como se organiza a política
de saúde para o município, definida pelos princípios assumidos. O Brasil a partir da
constituição de 1988 adotou em seu arcabouço legal a “saúde como direito de todos
e dever do Estado” tendo como princípios a universalidade, a equidade e a
integralidade.
Por razões históricas que entram pelo território da economia e passam pelas
práticas políticas e costumes culturais, o modelo de saúde predominante no Brasil
criou grande distância entre as equipes de saúde e a população. Para esse modelo,
a especialização teve destaque absoluto, praticamente apagando a visão integral
das pessoas e a preocupação de trabalhar com a prevenção das doenças e a
promoção de hábitos saudáveis (BRASIL,2001).
A atuação tradicional do setor saúde sempre conduziu à compreensão do
indivíduo de forma isolada de seu contexto familiar e dos valores sócio-culturais com
tendência generalizante, fragmentando-o e compartimentando-o, de suas realidades
familiar e comunitária. Seu enfoque assistencialista e desarticulador vem gerando
dependentes sociais tratando os indivíduos como permanentes receptores de
benefícios externos e não como cidadãos com direitos resguardados
constitucionalmente ( BRASIL, 2000 ).
Para o Ministério da Saúde(Cadernos de Atenção Básica), o indivíduo, visto
de forma fragmentada, cuja manifestação da doença ocorre em partes do seu corpo,
sem que sejam observadas suas diferentes dimensões, perde sua integralidade e
acaba relacionando-se repartidamente com os serviços de saúde. Seus anseios,
seus desejos, seus sonhos, suas crenças, seus valores, suas relações com os
demais membros da sua família e com o seu meio social são aspectos quase que
completamente esquecidos, ao serem abordados por um profissional de saúde
tradicional.
20
Nesse sentido, a reorganização do modelo de saúde aparece como forma de
estabelecer uma nova relação entre a comunidade e os profissionais de saúde. Essa
nova relação é um dos principais pontos de apoio dos profissionais que compõem as
Equipes de Saúde da Família(ESF), visto que esse novo modelo prevê a
participação de toda a comunidade - em parceria com a ESF- na identificação das
causas dos problemas de saúde, na definição de prioridades, no acompanhamento
da avaliação de todo o trabalho feito, sendo fundamental a atuação dos conselhos
locais, igrejas e templos dos mais diferentes credos, associações, Organizações
Não-governamentais, clubes, enfim, entidades de todos os gêneros. O Programa
Saúde da Família pressupõe que os municípios estejam preparados de forma
regionalizada e hierarquizada, integrando-se ao serviço de saúde do município e da
região. Seus profissionais devem estar conscientes de que uma atenção básica de
qualidade é parte fundamental desse objetivo, de acordo com as responsabilidades
definidas na NOAS/01.
21
1.2.1 – O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
A proposta do PSF não é uma proposta nova. É a recuperação de uma série
de iniciativas de movimentos inerentes ao movimento sanitário no sentido de
reordenamento do Modelo Assistencial em saúde e de consolidação do SUS.
Algumas experiências brasileiras foram desenvolvidas e fizeram parte do
desenho do Programa de Agentes Comunitários de Saúde(PACS), Projetos como do
Vale da Ribeira em São Paulo, Casa Amarela no Recife, Rodonópolis no mato
Grosso e o Programa do Governo do estado do Ceará(SOUZA,2001).
Com o objetivo de contribuir para o enfrentamento dos alarmantes indicadores
de morbimortalida infantil e materna na região nordeste do Brasil, o Ministério da
Saúde lançou em 1991 o Programa de Agentes Comunitários de Saúde(PACS). O
PACS foi se fortalecendo, o que foi demonstrado através de resultados concretos
nos indicadores de mortalidade infantil, porém o “elo de ligação” entre a comunidade
e o serviço de saúde não mostrava-se tão verdadeiro, uma vez que as unidades
básicas de referência continuavam desestruturadas, sucateadas e sem vínculo
nenhum com a população.
Na continuidade desse processo, O Ministério da Saúde lança, no início de
1994, o PSF, que segundo Souza(2000), valorizava os princípios de territorialização,
de vinculação com a população, de garantia de integralidade na atenção, de trabalho
em equipe com enfoque multidisciplinar, de ênfase da promoção da saúde com
fortalecimento das ações intersetoriais e de estímulo à participação da comunidade,
entre outros. Porém, o PSF nasce como algo marginal, num contexto de movimento
dos próprios municípios, não havendo no Ministério da Saúde uma política forte o
suficiente que o definisse como a estratégia de reordenamento do Modelo
Assistencial. Isso só acontece a partir de 1995, quando o Programa passa a ser
incorporado pela Secretaria de Assistência à Saúde, iniciando uma trajetória
importante e ocupando hoje um espaço de prioridade, e assumindo-se, enfim, como
a estratégia de substituição das práticas tradicionais da Atenção Básicas.
22
O PSF desenvolve-se através do trabalho de equipe, numa busca
permanente de comunicação e troca entre os saberes específicos dos profissionais
da equipe e o saber popular do ACS e da população. Pressupõe uma grande
interação com a comunidade para conhecimento da sua realidade, definição das
prioridades, desenvolvimento de ações individuais e coletivas, que promovem a
qualidade de vida na direção do município saudável.
Entre as atribuições básicas de uma ESF, segundo o MS(2000) está o
desenvolvimento de processos educativos através de grupos voltados à recuperação
da auto-estima, troca de experiências, apoio mútuo e melhoria do auto-cuidado.
O ano de 1995, estratégico no nível estadual,foi um momento de
mobilização,incentivo e captação de recursos para a implantação das primeiras ESF
em Pernambuco . Em 1996 iniciou-se a seleção e treinamento das primeiras
equipes, porém poucos municípios se interessavam pelo programa e só após o
incentivo financeiro criado pela NOB 96 outros municípios foram aderidos ao
programa.
No Recife, A Secretaria Municipal de Saúde, apostando na estratégia PSF
como principal recurso de inclusão das camadas historicamente excluídas do acesso
ao sistema de saúde,vem ampliando e infra-estruturando as Equipes de Saúde da
Família do município,cujo número foi quadruplicado nesses últimos dois anos e
incluída a Equipe de Saúde Bucal(composto por 1 Técnico de Higiene Bucal, 1
Atendente de consultório Dentário e 1 Cirurgião Dentista).
23
1.2.2 – A PROPOSTA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE
Figueiró(2002) apud Brasília(2001) coloca a educação popular como o
reencontro das pessoas com suas histórias, trajetórias, culturas, valores e não
apenas como um método, o qual é usado para levar as pessoas para onde acham
que elas devam ir. O processo educativo é um momento de troca em que todos tem
algo a oferecer e a ganhar, onde as possibilidades que o mundo tem produzido em
ciência, em arte, em história, em cultura são compartilhados. Conhecimentos esses
inerentes ao ser humano, uns mais outros menos, com experiências e saberes
diferentes.
Foi repensando as práticas educativas a partir dessa percepção que a Equipe de
Educação em Saúde da PCR, vinculada à Diretoria Executiva de Atenção Básica ,
fundamentou a proposta de Educação Popular em Saúde do Município, norteada
pelos seguintes princípios:
- O respeito : que pressupõe necessariamente o respeito pelo outro, pelo seu
saber e suas experiências de vida.
- A pluralidade : ampliação dos nossos pontos de vista e que nos permite
conhecer formas alternativas de lidar com problemas tão parecidos. Valorizar a
diversidade das práticas e noções existentes.
- A afetividade : nos possibilita uma aproximação não só com as idéias , não só de
“inteligências”, mas uma aproximação ao nosso corpo e ao corpo do outro.
- Compreensão holística do processo saúde/doença/saúd e: trabalha com a
saúde, com a força da vida que quer sempre viver e não com a doença.
- Ação-reflexão-ação: iniciamos sempre do que fazemos, do que sabemos, das
nossas experiências de vida e nossos conhecimentos, ....
- Interdisciplinariedade: a ação educativa em saúde é, por princípio
interdisciplinar, pois se constitui a partir de dois outros campos – a educação e a
saúde – Além dessas áreas o pensar e fazer em educação e saúde podem e
24
devem envolver vários saberes: a antropologia, a sociologia, a psicologia, a
comunicação, as artes...
Durante as oficinas de planejamento e elaboração da Proposta Municipal de
Educação e Saúde, onde participaram os gerentes de Educação em Saúde dos
Distritos Sanitários e Educadores Popular em saúde, foi construído um diagnóstico
das práticas de Educação em Saúde realizadas nas Unidades de Saúde e Unidades
de Saúde da Família, foram identificados como principais problemas: a abordagem
normativo-instrumental hegemônica nas práticas da educação em saúde, a
fragilidade da educação em saúde nos Distritos Sanitários e a pouca participação
popular nos serviços. Para a institucionalização da proposta, a partir dessa
realidade, foram elaborados os seguintes projetos:
1 - O Projeto de fortalecimento dos Serviços de Educaçã o em Saúde dos
Distritos Sanitários : inicialmente foram mantidos fóruns de articulação e
capacitação continuada entre os Serviços Distritais de Educação em Saúde e o nível
central com o objetivo de dar unidade no planejamento e desenvolvimento das
ações e aumentar a habilidade dos profissionais para o trabalho educativo. Visando
favorecer a troca de experiências e fortalecer as práticas de educação em saúde ,a
proposta foi inicialmente debatida e divulgada com os gerentes e trabalhadores da
secretaria de saúde e com os diversos segmentos sociais. O segundo passo foi a
realização do III Seminário Municipal de Educação Popular em Saúde, realizado nos
dias 18 e 19 de dezembro de 2001.
2 - O Projeto de implantação dos Núcleos de Educação Po pular em
Saúde(NUCEPS) : foi elaborado a partir da necessidade de articular e mobilizar os
diversos setores e atores sociais para refletirem a saúde da comunidade. Os
NUCEPS terão como objetivo contribuir na construção de ações intersetoriais que
ajudem na promoção da saúde e de uma comunidade saudável, através do diálogo
de saberes e necessidades. Funcionarão em qualquer espaço capaz de acolher as
pessoas interessadas em refletir a realidade de saúde de sua comunidade
(Unidades de Saúde, escolas, associações de moradores dentre outros) e buscar
25
soluções conjuntas para a construção de uma cidade mais saudável. Para se
alcançar a implantação dos NUCEPS as equipes de educação e saúde dos Distritos
Sanitários teriam que ser preparadas e fortalecidas. Os seguintes passos foram
seguidos:
- Discussão e construção coletiva da proposta metodológica para o projeto piloto
- Elaboração dos módulos da oficina
- Seleção de USFs piloto
- Suporte metodológico, através do acompanhamento e monitoramento das
atividades de planejamento e oficinas realizadas, segundo a necessidade das
equipes
Passos a serem seguidos:
- Realizar oficinas de implantação dos NUCEPS com as comunidades : as equipes
deverão mobilizar, articular e sensibilizar a comunidades para proposta dos
NUCEPS e realizar o planejamento coletivo das ações.
- Elaborar o Projeto de Implantação dos NUCEPS em todas as Unidades de Saúde
da Família
-
3 - O Projeto de Capacitação continuada em educação popular em saúde (
ralatado no capítulo III ): com o objetivo de sensibilizar os profissionais da equipe
da USF(projeto piloto) para a proposta da educação popular em saúde e dos
NUCEPS, aumentando as suas habilidades para o desenvolvimento de uma prática
educativa coerente com os princípios da educação popular em saúde.
4- Projeto de articulação intra-setorial: construir redes para o desenvolvimento
de ações intersetoriais de promoção da saúde.
26
1.3 – O DISTRITO SANITÁRIO IV
O Distrito Sanitário IV iniciou suas atividades em julho de 1995 como parte de um
processo social de mudanças das práticas sanitárias. Está localizado na região
Oeste da cidade do Recife e possui uma população de 253.015* habitantes,
distribuídos numa área de 4.214ha e 67.486 domicílios, compreendendo 12 bairros,
distribuídos em 3 microrregiões, compreendendo a Micro região 4.1 os bairros da
Torre, Madalena, Ilha do Retiro, Prado, Zumbi, Cordeiro, Cidade Universitária e
Iputinga; a Micro região 4.2: Torrões, Engenho do Meio; a Micro região 4.3:
Caxangá e Várzea. É o distrito mais populoso, representando 17,66% da população
da cidade(IBGE – Contagem da população de 1996).
De acordo com o censo 2000, 38,7% dos domicílios são chefiados por
pessoas cuja renda mensal não passa de dois salários mínimos que em números
absolutos representa 26.123 famílias. Também é considerável o número de
domicílios cujo o chefe não tem rendimento algum: são 6.899 famílias (10,2%).
Certos de que a elevação da qualidade de vida da população com a garantia
da cidadania só é possível quando todos tiverem acesso à saúde pela porta da
Atenção Básica, uma das diretrizes da nova gestão é a ampliação das ações deste
nível de atenção, através de várias ações, entre elas: a expansão da implantação de
Unidades de Saúde da Família e a ampliação do número de Agentes Comunitários
de Saúde. O DS IV conta atualmente com 181 ACS, dos quais 80 são ligados ao
PACS, supervisionados por 7 enfermeiras e 101 são ligados às 13 Equipes de
Saúde da Família, beneficiando uma população de 73.062 pessoas.
A rede integrante do SUS do Distrito Sanitário IV é constituída de 32 unidades
prestadoras de serviço que oferecem ações básicas de saúde e de média
complexidade em nível ambulatorial e hospitalar. Os prestadores são da rede
Municipal, Estadual/Universitário, Privado/Conveniado.
27
1.3.1 – A Comunidade do Skylab
No levantamento realizado pela URB em 2000 constatou-se que o DS IV
possui 56 áreas pobres, estando entre elas a comunidade do Skylab, localizada em
Monsenhor Fabrício, bairro da Iputinga.
O Programa de Saúde da Família do Skylab foi implantado em 23 de abril de
2001. Possui duas Equipes formadas por 2 médicos, 2 enfermeiros, 2 auxiliares de
enfermagem , 7 ACS e 1 Equipe de Saúde Bucal, composta pelo Dentista, Técnico
em Higiene Dental(THD) e Auxiliar de consultório Dentário(ACD).
O consolidado de famílias cadastradas no Sistema de Atenção de Atenção
Básica (SIAB) no ano de 2002 revela que há na comunidade do Skylab 3316
pessoas, destas 46,41% é do sexo masculino e 53,59% do sexo feminino.
O critério fundamental para escolha desta área para implantação de um
Programa Saúde da Família foram as condições sócio-econômicas precárias, o que
nos é confirmado pelos dados do SIAB, os quais referem uma população de apenas
48,25% de famílias com abastecimento de água pela rede pública e 61,87%não
possuem sistema de esgotamento sanitário. Mesmo o SIAB nos mostrando uma
coleta pública de lixo realizada em 98,44% dos domicílios, observa-se uma enorme
quantidade de lixo a céu aberto na comunidade, o que expõe a população aos mais
variados riscos à saúde.
Tomando como fonte os dados do relatório da Situação de Saúde e
Acompanhamento das Famílias na Área(SSA2) do SIAB no período de janeiro a
dezembro de 2001, obtivemos na comunidade do Skylab 51 nascidos vivos. Destes,
3,92 apresentaram peso abaixo de 2.500g. Em relação ao coeficiente de mortalidade
infantil, foi verificado dois óbitos pós-neonatal (de 28 dias a 11 meses e 29 dias),
associados a outras causas. Para as crianças menores de quatro meses, o
aleitamento materno exclusivo foi verificado em 66,67% delas, dado superior ao
verificado nas áreas cobertas pelo PSF no município. Nos menores de um ano, uma
média de 3% das crianças pesadas apresentaram desnutrição, Já nas crianças
28
pesadas de um a dois anos a desnutrição aparece em média em 6,52% . Com
relação à diarréia, das 3,05% das crianças menores de dois acometidas, metade
utilizou a Terapia de Reidratação Oral como tratamento. No que se refere às
infecções agudas(IRA), 3,82% das crianças foram acometidas por esse tipo de
patologia.
Com relação às hospitalizações entre os menores de cinco anos, 21,88%
foram hospitalizados por pneumonia e 3,13% por desidratação. A hospitalização por
abuso de álcool no grupo de pessoas de 15 anos ou mais totalizou 3,13%. Dos
comunitários diabéticos 6,25% apresentaram complicações que necessitaram de
hospitalização. Quanto às complicações psiquiátricas, ocorreram em 12,5% do total
de hospitalizações.
A média de diabéticos e hipertensos cadastrados pelos ACS foi de 47
diabéticos, com uma prevalência na comunidade de 2,48% e 227 hipertensos, com
uma prevalência de 12,68%.
Para a tuberculose, a média foi de quatro portadores cadastrados, com uma
prevalência de 0,21%. Em relação à hanseníase, a média de portadores
cadastrados foi em número de cinco, apresentando uma prevalência de 0,26%.
29
CAPÍTULO II
2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como campo de ação eminentemente qualitativo e processual, a educação
em saúde vivencia experiências em torno das quais estão envolvidas sujeitos,
situações, atitudes, motivações, etc, aspectos tais que não são quantificáveis, razão
porque a pesquisa utilizada no presente estudo é de caráter qualitativo, cuja
preocupação, nas ciências sociais, ocupa-se de um determinado campo da
realidade que não comporta quantificações. A pesquisa qualitativa, segundo Minayo,
trabalha com o espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos. Trata-se, pois, de um tipo particular de estratégia metodológica que não
compreende manipulação de variáveis(Minayo,1994).
Para o tipo de estudo, recorreu-se ao estudo de caso único, segundo o qual
busca-se analisar “em profundidade um fenômeno em um só meio”(Hartz,1997).
Trata-se de um estudo que potencializa a apreensão da situação e a descrição da
complexidade de um caso concreto, com o qual se possibilita a generalização ou ao
menos o “estabelecimento de bases para uma investigação posterior, mais
sistemática e precisa” (Silva,1991).
Como tal, o objeto deste estudo é a implantação do primeiro núcleo de
educação popular em saúde no Recife, que teve como equipe piloto os profissionais
da Unidade de Saúde da Família de Skylab e como ponto de partida a capacitação
dos mesmos.
Como instrumento de pesquisa privilegiado foi utilizado a observação
participante, meio pelo qual buscou-se apreender concepções e estratégias
metodológicas, capacidade da equipe de lidar com o planejamento e nível de
implantação do NUCEPS na USF escolhida como projeto piloto.
30
Os registros foram feitos através de caderno de notas durante a própria
ocorrência das oficinas, que compreendeu um período correspondente a 36 horas
estrategicamente divididas em dois módulos.
31
CAPÍTULO III
3- A CAPACITAÇÃO COMO PROCESSO: A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO
FAZER EM SAÚDE
3.1– O Processo de Capacitação dos Educadores em Sa úde
Em consonância com a proposta Municipal de Educação em Saúde foi
realizada a 1ª Capacitação nos dias 09/10/21 e 22 de novembro, cujo objetivo foi
reunir, articular e fortalecer experiências de educação em saúde na perspectiva de
renovação, em função da (re)construção da cidadania, construindo de forma
participativa um plano de trabalho que incorpore os diferentes saberes e linguagens
para a ação educativa. Permite-se assim, potencializar as habilidades de cada
profissional e criar concretas condições para realização de planos de ação
operacionalizáveis nos serviços públicos de saúde.
As etapas do processo de capacitação compreenderam 4 módulos:
- 1º módulo: A oficina de sensibilização(8h)
- 2º módulo: A oficina dos marcos teóricos da educação popular em saúde(8h)
- 3º módulo: A oficina de Metodologia(16h)
- 4º módulo: A oficina de Planejamento(8h)
1º MÓDULO: OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO
O objetivo do 1º módulo da oficina é construir uma identidade de grupo das
pessoas entre si e delas com a ação educativa em saúde e refletir sobre as
concepções teóricas envolvidas na ação.
32
Em roda foram refletidas as motivações, expectativas e as contribuições das
pessoas em relação à oficina. O sentimento que prevaleceu foi a curiosidade, por
não se saber exatamente o que seria uma oficina de “ educação em saúde”.
Após a divisão em subgrupos, foi iniciada a discussão sobre a missão do
serviço, o papel do profissional de saúde no serviço e as atividades realizadas.
Observou-se que o ponto em comum nos subgrupos quanto à missão do serviço foi
a promoção à saúde, reflexão que deu origem à construção coletivado do conceito
de saúde e de promoção à saúde.
No segundo momento, desenvolveu-se uma discussão que buscou trazer à
memória de cada um a forma de organização das políticas públicas de saúde no
Brasil através do nosso século, passando pelos vários sistemas de saúde até
alcançar o SUS, e as concepções de educação em saúde que acompanharam cada
período.
Permanecendo subdividido o grupo recebeu papel madeira, tintas e lápis
coloridos para procederem à uma leitura da sua realidade, descrevendo-a no mapa
falante toda diversidade da composição sócio cultural e ambiental da comunidade
deveria ser lembrada, como também os problemas prevalentes de saúde. Após
apresentação dos trabalhos foi iniciada uma discussão sobre a realidade
apresentada e as potencialidades locais, objetivando identificar espaços para as
ações educativas e os limites e possibilidades da construção coletivade processos
emancipatórios que impliquem melhorias nas condições de vida e saúde da
comunidade.
Este módulo foi finalizado com a retomada dos conceitos de saúde e de
promoção à saúde criados pelo grupo, momento que teve, na sequência, uma
reflexão acerca das práticas educativas realizadas pelo grupo, lançando-se a
pergunta: as nossas práticas educativas estão realmente promovendo saúde? Eis
algumas tentativas de resposta:
“... o povo é que tem que se educar mais , o povo é muito mal
educado...”
33
“...tem que mudar o povo, o povo não gosta de parti cipar, eles gostam é
de ganhar, eles pensam que as coisas só prestam se ganhar alguma coisa...”
“... as nossas atividades de educação em saúde deix am muito a desejar,
por vários fatores: não se tem espaço para promover educação em saúde, não
se tem material, recursos educativos, falta prepara ção e capacitação dos
profissionais para se trabalhar grupo...”
Nas respostas acima percebe-se claramente que a equipe faz uso de práticas
verticalizadas e fragmentadas, sem relação de troca com a comunidade e outros
setores da sociedade, apenas repassando informações e deveres, culpabilizando a
comunidade pelo seu processo saúde-doença.
2º MÓDULO: OFICINA DOS MARCOS TEORICOS DA EDUCAÇÃO POPULAR EM
SAÚDE
Esse módulo teve início com a realização da dinâmica do guia, no qual num
determinado espaço físico ora se é o guia( olhos abertos), ora se é guiado por outra
pessoa ( olhos fechados), servido de base para uma analogia com a comunidade.
Desta maneira, foi refletido no grupo como se sente a comunidade quando a mesma
é conduzida ( apenas realizando o repasse de informações). Percebeu-se então que
a comunidade fica, muitas vezes, à margem do processo, limitada, não conseguindo
crescer, avançar, sem conseguir transformar sua realidade local.
Este módulo teve a continuidade uma tempestade de idéias geradas pela
pergunta: “o que é educação?” Pela maioria das referências, observou-se a
prevalência de uma prática educativa em saúde de caráter unilateral:
“... é passar informações...”
“... é informar e mudar...”
“...é a mudança de comportamento , de hábitos do in divíduo...”
34
Foi resgatada a vivência do processo educativo na escola e na família dos
participantes, e iniciada uma discussão a respeito de relações de poder. Muitas
vezes, educar envolve relações (frequentemente desiguais) de poder, imbricadas em
toda ação educativa. É esta a razão porque é fundamental levar-se em conta a
perspectiva dos sujeitos, sua cultura, seus valores, seus sentimentos, etc. A
educação em saúde, pois, será destituída de seu sentido se não construir
metodologias que respeitem e valorizem esta perspectiva.
Logo depois foi trabalhado o referencial teórico no qual se baseia a educação
popular em saúde, que divide a educação em dois processos teórico-metodológicos:
a Educação não crítica, ou opressora, e a Educação libertadora ou popular.
Paulo Freire(1987, p.57-60) classificou a educação em dois métodos, no
primeiro a Concepção Bancária, nela:
O educador aparece como o seu indiscutível agente, como o seu real sujeito,
cuja a tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de sua
narração [...] A narração os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem
enchidos pelo educador [...] Eles são os que escutam docilmente, os que tem
ilusão de que atuam, são meros objetos [...] O educador anula o poder criador
dos educandos, que, em lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo.
O segundo método, que ele chamou de Concepção Problematizadora e
Libertadora da educação o educador :
Já não é mais o que apenas educa, mas o que enquanto educa, é educado, em
diálogo com o educando [...] ambos se tornam sujeitos do processo em que
crescem juntos [...] tem no diálogo o selo do ato cognoscente, desvelador da
realidade [...] na medida em que, o educador servindo a libertação, se funda na
criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeira dos homens sobre a
realidade, responde a sua vocação.
35
Retornando à missão do PSF e ao papel dos profissionais, provoca-se um
debate sobre em qual dos processos descritos as práticas educativas realizadas
pelas equipes estavam incluídas. Vejamos:
“...as vezes usamos a educação popular ,mas as veze s não usamos...”
“...acho que o PSF faz a educação popular...”
“... nas nossas visitas domiciliares sempre há diál ogo, sempre escutamos as
pessoas...”
Assim, observou-se que, impactados pela pergunta, os profissionais num
primeiro momento dificilmente admitiram usar em suas ações educativas uma prática
opressora, mas sim acreditam que antes realizam ações exclusivamente de caráter
libertador, embora haja os que assumem praticar, circunstancialmente, algumas
ações verticalizadas.
3º MÓDULO: OFICINA DE METODOLOGIA DE EDUCAÇÃO EM SA ÚDE
O objetivo deste módulo foi identificar no cotidiano das experiências, as
distintas formas de fazer e as diversas linguagens possíveis para realização das
práticas de educação em saúde, bem como analisar e reformular os saberes e
fazeres na prática educativa, potencializando as possibilidades e os recursos locais
disponíveis(humanos, financeiros, materiais, políticos e culturais).
Realizou-se uma dinâmica onde foram colocados à disposição do grupo
óculos de lentes pintadas com cores e desenhos variados, na qual as pessoas
trocavam os óculos entre si o que possibilitou enxergar o mundo de cores variadas.
Desta forma, refletiu-se a necessidade de descondicionar e ampliar o foco de leitura
da realidade, procurando ver o mundo com as lentes de outras pessoas e avaliar
cada atuação com um olhar crítico.
Foi trabalhado o conceito de metodologia a partir do lançamento da pergunta
“o que é metodologia?” e discutidas as metodologias utilizadas pelas equipes em
suas ações educativas cotidianas, que se resumiram a palestras em sala de espera
36
e formação de grupos( hipertensos e diabéticos ). Posteriormente foi pedido ao
grupo que se dividisse em dois subgrupos, trabalhando o primeiro com qualquer
tema de importância para sua comunidade, com a metodologia da oficina, e o
segundo grupo idem, porém com a metodologia que escolhesse.
O primeiro subgrupo apresentou uma oficina sobre doenças diarréicas. Na
reflexão do tema e na apresentação chamou atenção a culpabilização da mãe pelo
adoecimento e morte do seu filho, como também o uso de linguagens técnicas, tais
como : episódios, doença diarreicas e etc.
O segundo subgrupo, trabalhou com DST/AIDS, utilizando três metodologias,
o teatro de bonecos, a música e a dinâmica de grupo.
Foram refletidos criticamente os temas apresentados: se os grupos haviam
incorporado os princípios da educação popular em saúde, e se enriqueceram a
metodologia a partir dos novos conhecimentos construídos até o momento.
Na dramatização das suas práticas educativas, a educação opressora foi
visível em muitas ocasiões, o que demonstrou naquele momento uma incoerência no
pensar e no agir dos participantes.
Um outro momento que faz parte desse módulo é análise crítica de materiais
didáticos educativos, partindo do pressuposto de que atividade educativa envolve a
escolha de conteúdos, métodos e materiais didáticos adequados aos objetivos que
se deseja alcançar. Para distinguir a escolha adequada deve-se estar atento entre
outras coisas: para quem ensinar, quais as circunstancias, o que se pretende com
aquele ensino.
Foi possível perceber o amadurecimento teórico do grupo nesse momento, de
maneira que foi feita uma análise bastante criteriosa do material, embasados nos
princípios da educação popular , com o conceito mais ampliado de saúde,
caminhando para ação de uma prática educativa mais transformadora.
37
4º MÓDULO: OFICINA DE PLANEJAMENTO
O objetivo desse módulo é planejar os trabalhos educativos e se apropriar da
metodologia do planejamento estratégico, na perspectiva da construção do NUCEPS
da comunidade do Skylab.
Como espaço estratégico de promoção à saúde e emancipação popular, o
Núcleo não é apenas um lugar, é um processo de trabalho no qual as pessoas,
reconhecidas como sujeitos sociais, são aglutinadas no intuito de trocar
experiências, identificar problemas sociais locais e resolvê-los em diálogo recíproco
com outros setores. Enfim, é um jeito de fazer saúde para além dos muros da
assistência, de promover a saúde compreendendo-a associada às lutas por aumento
salariais, pela estabilidade de emprego, pela construção de áreas de lazer, pela
posse de terra, cujas conquistas estão indissociadas das conquistas por um sistema
de saúde integral, igualitário e universal.
A oficina de planejamento teve início com uma tempestade de idéias
provocada por quatro perguntas geradoras:
1. O que é o NUCEPS?
2. Quem pode participar?
3. Como pode acontecer?
4. Onde pode acontecer?
O grupo foi afrontado para reflexão e discussão destas perguntas, cada uma dos
quais devendo ser respondida por tarjetas e afixadas num painel. Na medida que as
tarjetas foram lidas, a facilitadora foi aprofundando e esclarecendo dúvidas que
surgissem. Embora haja ainda uma compreensível limitação do grupo em relação a
estrutura desse novo processo, as respostas parecem indicar o conhecimento da
natureza e do sentido do núcleo. Algumas tarjetas merecem destaque aqui, como
forma de exemplar a análise acima referida:
38
1- O que é o NUCEPS?
“... é um grupo que irá se reunir para promover a s aúde em todo seu aspecto,
com a participação da comunidade...”
“... é um grupo de pessoas (educadores, psicólogos, representantes do
município) formado por integrantes da comunidade qu e se reúnem para
discutir a promoção da saúde, buscando melhorar a q ualidade de vida da
população...”
“... é uma organização de pessoas que, juntas, vão discutir necessidades da
comunidade e a forma de passá-la à população em ger al...”
Neste último exemplo nota-se uma certa confusão na compreensão da equipe
sobre os objetivos da proposta. Há um entendimento equivocado da educação como
um processo de transmissão do conhecimento, no qual a população aparece como
mera receptora, excluída, portanto, do processo decisório. Entretanto, cada
momento desse era problematizado pela facilitadora, que procurava reforçar os
princípios da educação popular norteadores da proposta.
2- Quem pode participar?
“...pessoas da comunidade e lideranças...”
“... toda liderança populacional junto com as secre tarias...”
“... pessoas formadoras de opinião na comunidade: l íderes comunitários,
padres, ESF...”
É notável o avanço do grupo. Muda sensivelmente a postura dos profissionais
à medida que a população é trazida para o centro da discussão e valorizada como
agente legítimo da transformação de sua realidade local e de suas condições de
39
vida. As equipes parecem perceber que a participação popular é condição
sinequanon para a garantia do sucesso e para o exercício da cidadania.
3- Como pode acontecer?
“... com a valorização das lideranças, respeitando suas experiências...”
“... se articulando com a comunidade e os gestores. ..”
‘... com discussões abertas e diretas com a comunid ade e departamentos para
solucionar problemas...”
Os fatores políticos, sócio-econômicos e culturais, que condicionam a saúde e
fazem sua cara multifacetada, obrigam os trabalhadores a reconhecer que o
trabalho em saúde deve justapor, num mesmo espaço, os diferentes segmentos das
organizações sociais em geral e, em particular, das organizações sociais locais.
Assim é que se percebe, nos exemplos acima, que o grupo foi feliz em suas
reflexões, pois está clara sua compreensão dos NUCEPS como um espaço
interdisciplinar, plural e de mobilização coletiva.
4- Onde pode acontecer?
“... na comunidade com o apoio do PSF...”
“... em qualquer lugar dentro da comunidade onde ac omode todos...”
“... na própria comunidade...”
Mais uma vez é possível perceber o crescimento das equipes e inferir sua
disposição para viver uma relação mais estreita com os usuários de suas
respectivas áreas de adscrição.
A facilitadora encerra com esse módulo a capacitação e, junto com o grupo,
formou uma comissão para posterior discussão de implantação do núcleo,
40
acordando ainda a promoção de uma reunião com pessoas e organizações da
comunidade, visando a discussão da proposta de implantação do NUCEPS de
Skylab e sua manutenção.
AVALIAÇÃO DA OFICINA PELOS PARTICIPANTES
A avaliação da oficina foi realizada no último dia através de quatro perguntas:
1. Como foi a minha participação na oficina?
2. Como foi a participação do grupo na oficina?
3. Como foi a participação da facilitadora?
4. Que contribuiu para minha vida profissional?
� Como foi a minha participação:
Após o impacto inicial da oficina e a “quebra do gelo”, a participação dos
profissionais ocorreu evolutivamente. Poucos mantiveram-se tímidos até o final,
comprovando-se através dos depoimentos abaixo:
“... fui bastante participativa em todos os momento s da oficina, afinal a
metodologia utilizada no processo ensino aprendizag em nos deixou à vontade
e bastante motivados a participar...”
“.. pela primeira vez me senti muito à vontade para falar...”
“... como nunca havia participado de uma oficina de sse tipo no início minha
participação foi um pouco tímida, depois me integre i melhor nas discussões
em grupo...”
“... falei pouco mas dentro das minhas limitações.. .”
� Como foi a participação do grupo:
41
“... no início a participação do grupo foi um pouco tími da. Mas depois as
pessoas ficaram à vontade. Mas achei que todos part iciparam e deram o
melhor de si...”
“...todos participaram, alguns mais outros menos, m as sempre com a
consciência de que devemos respeitar os ritmos e je itos de cada um. O grupo
integrou-se ao processo, alguns demonstraram dificu ldade de integrar-se e
participar. Talvez por inibição, talvez por inicial mente não se acharem sujeitos
desse processo, porém foram muito poucos que transm itiram esse
sentimento...”
� A participação da facilitadora
A percepção que os participantes da oficina tiveram do trabalho da facilitadora
foi, em termos gerais, bastante positiva.
A partir das referências que seguem adiante, observou-se a surpresa do
grupo com a metodologia utilizada, na qual os conceitos foram construidos e as
idéias e opiniões valorizadas.
“... a facilitadora deixou o grupo à vontade, insti gando o tempo todo o senso
crítico dos participantes...”
“... ela soube valorizar cada idéia, cada opinião.. .”
“... houve uma troca muito grande não só de conheci mento, mas de
sentimentos...”
A surpresa diante da nova metodologia sugere ausência de experiências
anteriores em relação à metodologia da educação popular, que utiliza dinâmicas de
grupo e de integração.
Foi colocado por dois profissionais que, mesmo a facilitadora tendo domínio
sobre a metodologia utilizada, em algumas situações ela mostrou uma postura
autoritária:
42
“... ela tem facilidade de lidar com essa metodolog ia, porém algumas vezes
deixa passar sua porção de autoritarismo, ainda bas tante enraizada em todos
nós...”
Esta avaliação foi aceita pela facilitadora com entusiasmo, diante de uma
análise mais crítica do processo educativo por parte dos profissionais.
� Transformações nas práticas educativas: visão poste rior à capacitação
Ficou claro que capacitação trouxe uma maior segurança aos profissionais nas
suas ações educativas, pois os mesmos tornaram-se mais confiantes e
entusiasmados com as novas metodologias de atuar em educação e saúde,
observou-se já um crescimento na capacidade de analisar criticamente as atividades
que eles próprios desenvolvem. A capacitação serviu como uma fonte para
recarregar as energias para seguir adiante nas suas atividades construindo
alternativas concretas de melhoria da qualidade de vida:
“...nas palestras de amamentação o álbum seriado é muito bonito, diz para
amamentar em tal posição, num ambiente tranquilo... e nunca havia parado
para pensar se aquela mãe pode oferecer isso...”
“... antes nos sentíamos muito sozinhos, mas vamos conquistar espaços, ter
uma maior ligação com os equipamentos sociais...”
“... tive uma consulta onde me aprofundei mais, que stionei mais, procurei
entender o que se passava com a paciente e ele se a briu... começou a falar dos
seus problemas com as drogas... é.. acho que fiz um pouco de educação
popular...”
“...nós estamos elaborando um trabalho com um grupo de hipertensos onde
cada um traz as plantas que utiliza e vamos fazer u ma troca de informações,
juntos vamos descobrir para que servem realmente ca da planta daquela....”
43
“... a oficina me ensinou a ser mais crítica durante a e laboração e a realização
das minhas ações.. tentarei não fazer mais trabalho s para a comunidade, mas
sim, com a comunidade...”
“... com a oficina aprendi a conviver com várias pe ssoas, ouvi-las e aceitá-las
da maneira como elas são, nem sempre sabemos de tud o e os outros por mais
simples que sejam sempre tem algo a nos ensinar...”
“... o oficina me mostrou o quanto podemos usar nos sa imaginação e nossa
criatividade, contribuindo para a equipe e a equipe ...”
44
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sem dúvida, o momento político institucional vivido pelo município
hoje,permitindo a adoção da prática da educação em saúde em nível
institucional,formata um cenário propício à valorização do controle social e da
perspectiva intersetorial de assistência a saúde.
Em que pese o discurso oficial de reorientação do modulo e priorização da
Atenção Básica como forma de inclusão social , ainda é possível observar uma
lacuna entre a teoria apresentada no módulo de saúde adotado no município e a
efetiva aproximação das populações aos serviços de saúde.
A deficiência observada nos profissionais de saúde anteriormente à
capacitação no que diz respeito às práticas educativas,caracterizam-se por um
processo realizado de forma crítica,descontínua e fragmentada.
Pôde-se observar nesse estudo que as equipes envolvidas na capacitação
adotavam ações educativas destoantes dos princípios da educação popular em
saúde , desenvolvendo práticas imbuídas de culpabilização e falta de valorização do
saber popular.
A falta de capacitação e de conhecimentos de metodologias alternativas e
emancipadoras na linha orientadora da educação popular gera nos profissionais
uma certa insegurança e desestímulo para educar na perspectiva de mudança
sociais permanentes.
A deficiência estruturada(espaço físico adequado,material didático-
informativo,equipamentos,etc) existentes nas USF constitui elemento dificultor na
realização das práticas educativas.
O processo de capacitação possibilitou mudanças sensíveis na concepção das
práticas educativas dos profissionais envolvidos, e permitiu aumentar o nível
criticidade e criatividade das equipes,gerando maior disponibilidade dos profissionais
45
para a realização de ações efetivas e comprometidas com a melhoria da situação de
saúde das famílias sob sua responsabilidade sanitária.
Em realidade , sendo a educação popular em saúde um processo contínuo, faz-
se necessário a realização permanente de reciclagem e capacitações para ESF,
com o título de fortalece-las e estimula-las ao desenvolvimento de ações educativas
intersetoriais e participativas.
Como espaço privilegiado de participação popular,troca de
conhecimentos,construção de saberes e ampliação dos níveis de qualidade de vida
através do controle social, o NUCEPS em Recife pode ser considerado uma
realidade em processo, de cuja estrutura e continuidade depende o sucesso de sua
implementação.
46
REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA
1. ALBUQUERQUE, P.C. de. A educação Popular na Atenção Básica à Saúde no
Município: em busca da integralidade, Recife, mimeo. 2000.
2. BRASIL, Ministério da Saúde. Guia Prático do Programa Saúde da Família.
Brasília, 2001.
3. BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica 1: PSF- A
implantação da Unidade de Saúde da Família. Brasília: Secretaria de Políticas de
Saúde, Departamento de Atenção Básica, 2000.
4. BRASIL, Ministério da Saúde. Abrindo a porta para dona saúde entrar. Brasília.
5. CABRAL, B.E.B. Compartilhar Saúde: traços da (R)E VOLUÇÃO DAS Práticas
Educativas em Saúde no Brasil. 1998. 52 f. Monografia(Curso de especialização
em Saúde Pública) - Departamento de Saúde Coletiva, Centro de Pesquisas
Aggeu magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife.
6. FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1987.
184 p.
7. FIGUEIRÓ, A. C. A travessia das Práticas de Educação em Saúde: novas
abordagens no contexto das ações de promoção da saúde ambiental. Curso de
Capacitação para Agentes de Saúde Ambiental. Texto 02. Recife,2002.
8. GENTILE, M. Promoção da Saúde. In: Promoção da Saúde, Brasília, Nº1, p. 9-
11,ago/out 1999.
9. HARTZ, Z.M.Z.(Org.). Avaliação em saúde: dos modelos conceituais a prática na
análise de implantação de programas. Rio de Janeiro: Fiocruz,1997.
47
10. HOJE somos uma tribo com identidade própria. Tema: Educação Popular em
Saúde, Rio de Janeiro, nº 21, p. 8-9, nov/dez de 2001.
11. MINAYO,C.M. de S. O desafio do conhecimento: a pesquisa qualitativa em
saúde. 3.ed. São Paulo: HUCITEC; Rio de Janeiro: ABRASCO, 1994.
12. OLIVEIRA, M.V.A de S. C. Dilemas e perspectivas da educação em saúde no
contexto do SUS. 1996. 64 f. Monografia(Curso de Residência em Medicina
Preventiva e Social) - Departamento de Saúde Coletiva, Centro de Pesquisas
Aggeu magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife.
13. ______. A educação popular em saúde e a prática dos agentes de controle de
endemias de Camaragibe: uma ciranda que acaba de começar. 2002. 301 f.
Dissertação( Mestrado em educação popular) - Universidade Federal da
Paraíba,2002.
14. OMS, 1986. Carta de Otawa , aprovada na I Conferência Internacional sobre
Promoção à Saúde. revista Promoção da Saúde, Brasília, n. 01, p. 36-39, ago/out
1999.
15. PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. Plano Municipal de Saúde – 2002/2005.
16. ______. DIRBAM/DEIP. Regiões político - administrativas do Recife. Versão
Preliminar. v. 05, 2001. CD-ROM.
17. RODRIGUES, J. G.; SILVA, M. C. da. A contribuição da Educação Popular em
Saúde para a participação popular no SUS: O Projeto dos Núcleos de Cultura e
Educação Popular em Saúde do PSF em Recife. 2001. 17 f. Monografia(Curso
de Especialização em Saúde Pública) - Departamento de Saúde Coletiva, Centro
de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife. Pôster.
18. SOUZA, H. M. de. Programa Saúde da Família: entrevista. Revista Brasileira de
Enfermagem – Saúde da Família, Brasília, v. 53, n. especial, p. 7-16, dez. 2000.
48
19. SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde),1997. Caderno de Educação em Saúde
1: percepções teóricas e metodológicas.
20. SIAB – Manual do Sistema de Informação de Atenção Básica/ Secretaria de
Assistência à Saúde, Coordenação de Saúde da Comunidade. Brasília: Ministério
da Saúde,1998.
21. SMS-PCR (Prefeitura da Cidade do Recife), 2001. Proposta Municipal de
Educação Popular em Saúde.
22. SILVA, M. da S. e. Refletindo a pesquisa participante. 2.ed. São Paulo:
Cortez,1991.
23. SOPHIA, D. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Revista
Tema , Rio de Janeiro, n. 21, p. 4-6, nov/dez 2001.
24. VASCONCELOS, E. M., 1998. Educação Popular como instrumento de
reorientação das estratégias de controle das doenças infecciosas e parasitárias.
Cadernos de Saúde Pública, 14 (sup.2): 1-21,1998.
25. ______. Educação Popular e a atenção à saúde da familia.São Paulo:
HUCITEC/Ministério da Saúde,1999.332p.
26. ______. Redefinindo as práticas de saúde a partir da educação popular nos
serviços de saúde. In: Vasconcelos E.M.(Org). A saúde nas palavras e nos
gestos: reflexões da rede da educação popular em saúde. São Paulo: HUCITEC,
2001. P. 11-19.
27. ______. Educação Popular nos serviços de saúde. 3 ed. .São Paulo:
HUCITEC,1997.
28. ______. Educação Popular como instrumento de reorientação das estratégias de
controle de doenças infecciosas e parasitárias. Caderno de Saúde Pública, Rio
de Janeiro, v.14, supl. 02, p. 1-21, jan de 1998. Disponível em: