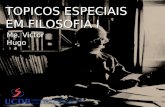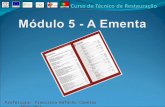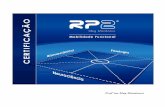Ementa
-
Upload
pedrao-eduardo -
Category
Documents
-
view
25 -
download
0
description
Transcript of Ementa
-
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
ResumoEste artigo tem como objetivo avaliar alguns dos pressupostos que vm norteando o debatehistoriogrfico no Brasil a respeito do problema da autoridade colonial. Para isso, procura-seretomar a discusso mais ampla sobre os conflitos e as formas de governo realizada desde aAntiguidade com o intuito de se sugerir que, estando a guerra no cerne do modelo escolstico,seria inadequado ignor-la como elemento crucial nas anlises sobre a colonizao da Amricaportuguesa. Discutindo certas concepes de natureza humana presentes na apropriao dapaidia grega pelo pensamento catlico, o artigo almeja salientar a diversidade do vocabulriopoltico que perpassou a atuao de magistrados e governadores coloniais.
Palavras-chaveGuerra; Amrica portuguesa; Autoridade.
AbstractThis paper aims to evaluate some assumptions that have been guiding the historiographicaldebate in Brazil about the matter of the colonial authority. For that, one seeks both to take backthe wider discussion, made since the Antiquity, on the conflicts and the forms of government,and to suggest that, being the war in the heart of Scholastic paradigm, it would be inappropriateto ignore it as a crucial element in the analysis about colonization in Portuguese America.Discussing some conceptions about human nature present in the appropriation of Greek paideiaby the catholic thought, the paper intends to point out the diversity of the political vocabularythat went through the performance of the colonial magistrates and governors.
KeywordWar; Portuguese America; Authority.
Guerra e doutrina:a historiografia brasileira e o problema da autoridadecolonial*
War and doctrine: the brazilian historiography and the problem of thecolonial authorityMarco Antonio SilveiraProfessor AdjuntoUniversidade Federal de Ouro Preto (UFOP)[email protected] do Seminrio, s/n - CentroMariana - MG35420-000Brasil
Enviado em: 30/01/2010Autor convidado
178
* Agradeo a criteriosa leitura, as crticas e sugestes feitas pelo colega Mateus Henrique de FariaPereira, docente do Departamento de Histria da UFOP.
-
Viajavam um dia um leo e um homem. Cada umcontava mais vantagens que o outro. E ento, nocaminho, encontram uma estela de pedra com umhomem estrangulando um leo. O homem,mostrando-a, disse ao leo: Vs como ns somosmais fortes do que vocs? E este, sorrindo, disse:Se os lees soubessem esculpir, verias muitoshomens sob a pata do leo.Esopo. O homem e o leo.
IntroduoNa ltima dcada, a historiografia dedicada ao estudo da Amrica
portuguesa tem se debruado com vigor sobre temas relativos histria polticae das instituies administrativas. A importncia dos debates que da resultaramse expressa na grande quantidade de projetos, artigos e livros sobre assuntoscorrelatos recentemente empreendidos e divulgados. O objetivo deste artigono o de realizar um balano dessa produo e de seu papel na histria dahistoriografia sobre o Brasil. Um bom exemplo de esforos dessa natureza foiefetuado recentemente, em especial no que diz respeito s anlises sobre MinasGerais, por Jnia Ferreira Furtado (FURTADO 2009). O que se deseja aqui abordar duas questes mais amplas.
A primeira se refere apropriao e ao uso do vocabulrio poltico. Emgrande medida, as preocupaes historiogrficas atuais resultam do entendimentode que as relaes polticas e institucionais na Amrica portuguesa devem remeter,em detrimento do anacronismo, a linguagens especficas fundadas no pensamentoda Segunda Escolstica. As discusses tericas acerca da leitura e do discurso,porm, nos convidam a refletir sobre as condies que presidiram sua produoe consumo. No haveria, sob as aparentes homogeneidade e coerncia dospressupostos escolsticos, uma pluralidade de falas e apropriaes? Estariamas palavras de So Toms de Aquino sempre to distantes das de Maquiavel oude Hobbes?
A segunda questo implica o tema da autoridade. Chamar a ateno paraa eficcia da economia do dom e do modelo escolstico como meios de ordenaros conflitos sociais significa, em ltima anlise, investigar a implementao deestratgias autoritrias.1 Contudo, com que conceito de autoridade tm oshistoriadores trabalhado? Um objetivo central deste artigo consiste em sugerirque certa concepo de natureza humana herdada da Antiguidade clssicaconferiu ao debate sobre as relaes polticas no Antigo Regime uma ambiguidadeque atravessou inclusive concepes autoritrias como as propostas pelaSegunda Escolstica.
A anlise de ambas as questes demanda que se retomem as apropriaesdo trabalho de Antnio Manuel Hespanha efetuadas pela historiografia brasileira.Sem se debruar especificamente sobre este ou aquele autor, o artigo visa
Marco Antonio Silveira
179
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
1 O adjetivo autoritrio aparecer em todo este artigo como desdobramento do substantivo autoridade: autoritrio aquilo que possui autoridade. O adjetivo, portanto, no deve ser tomado na acepocorrente de autocrata como, por exemplo, quando se designa o entulho autoritrio ou quando sediz corriqueiramente que algum autoritrio. Cf., a esse respeito, as reflexes de Hannah Arendt(1972) no captulo Que autoridade?
-
Guerra e doutrina
180
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
explorar alguns riscos interpretativos. Dois deles merecem destaque especial:de uma parte, o isolamento do pensamento escolstico luso em relao aosdebates que conduziram aos seus pressupostos da a retomada de diferentesautores da tradio poltica e filosfica europia; de outra, as tenses resultantesda prpria obra de Hespanha, na qual se procura articular perspectivas tericasto antagnicas quanto as de Toms de Aquino e Michel Foucault.
O artigo est estruturado em onze sees: espcies de governo,amizade, paidia, dualismo, direito natural, soberania, prudncia ecrtica, ser e dever ser, utilidade, vontade de distino e polmos. Emlinhas gerais, pretende-se inserir as reflexes escolsticas no interior do debatemais amplo sobre guerra e poltica, cuja gnese est na paidia grega. Essaampliao do foco permitir que duas linhas de argumentos sejamdesenvolvidas: por um lado, a afirmao de que a reflexo sobre a idia dehomem e de comportamento virtuoso no pode ser dissociada do diagnsticoreferente imperfeio da natureza humana presente na tradio filosfica epoltica de matriz grega; por outro, a constatao de que o tema da guerra,externa e interna, no era de forma alguma alheio s doutrinas do Antigo Regime.Atravs da recuperao de alguns dos debates tericos apropriados na IdadeModerna, desejamos ratificar a idia de que a prpria perspectiva escolsticademandava um conhecimento sobre a guerra e a luta social.
Espcies de governoAs reflexes de Toms de Aquino sobre a origem e a natureza da sociedade
civil se inserem num quadro mais amplo de debate doutrinrio, poltico ehistoriogrfico. A Escolstica, em certa medida, procurou resolver problemasque j estavam colocados desde a Antiguidade. Diversos autores, antes e depoisde Aquino, pensaram sobre a melhor maneira de governar os homens tomandocomo base a distino entre a monarquia, a aristocracia e a democracia espcies que poderiam degenerar, respectivamente, no despotismo, na oligarquiae na anarquia. Maquiavel (1469-1527), nos Discorsi sobre Tito Lvio, traou asvicissitudes histricas dos governos: saindo da condio de animais, distinguindoos princpios bsicos da justia, os homens elegeram o mais sbio como chefe;o direito de sucesso, contudo, tornou esses prncipes vaidosos e despticos;os grandes, incapazes de sofrer tal violncia, lideraram a multido contra ossoberanos; a ambio aristocrtica, por sua vez, degenerando em domniooligrquico, levou insurgncia da multido e adoo da democracia; com opassar do tempo, a anarquia, gerada pelo comportamento caprichoso de todos,redundou novamente na monarquia (MAQUIAVEL 1994, p. 24-5).
Segundo Maquiavel - geralmente conhecido pela imagem estereotipadado maquiavelismo -, nessas condies, em que os povos estavam sujeitos asofrer revolues constantes, a experincia da repblica romana deveria servalorizada: (...) se os prncipes, os aristocratas e o povo governarem emconjunto o Estado, podem com facilidade controlar-se mutualmente(MAQUIAVEL 1994, p. 25). E completou: O equilbrio dos trs poderes fez assim
-
com que nascesse uma repblica perfeita. A fonte desta perfeio, todavia, foia desunio do povo e do Senado (MAQUIAVEL 1994, p. 27).
Em outras palavras, Maquiavel concebeu o conflito como algo positivopara o desenvolvimento dos povos, destacando o decisivo papel de formasinstitucionais na produo de um equilbrio que impedisse a sujeio dos governosaos caprichos humanos. Certamente, a obra do pensador florentino foi execradapor adversrios catlicos tanto por pretensamente dissociar moral e poltica,quanto por questionar a escolha da monarquia como a melhor espcie degoverno. Todavia, o problema moral estava no cerne de suas preocupaes:como desenvolver capacidades ticas na ausncia de um governo equilibrado eapto a controlar os excessos da natureza humana? A mesma questo reapareceumais tarde, por exemplo, para Montesquieu e para os pais fundadores dosEstados Unidos da Amrica.
Maquiavel mencionou ironicamente a apropriao seletiva que os autorese lderes do perodo renascentista fizeram da Antiguidade. Remdios, leis,sentenas e diagnsticos dos antigos eram abundantemente citados. Contudo,
quando se trata de ordenar uma repblica, manter um Estado, governarum reino, comandar exrcitos e administrar a guerra, ou de distribuir justiaaos cidados, no se viu ainda um s prncipe, uma s repblica, um scapito, ou cidado, apoiar-se no exemplo da Antiguidade (MAQUIAVEL1994, p. 17).
Pela mesma poca, embora numa perspectiva bastante distinta, Erasmode Roterd (1466-1536) queixou-se tambm da incapacidade dos prncipes derealizarem a justia:
Ora, que outra coisa a guerra, seno um homicdio e um latrocniogeneralizados, tanto mais abominveis quanto mais estendidos se mostram?Mas disto zombam, como se se tratasse de extravagncia de escolsticos,os toscos Senhores da nossa poca, os quais, ainda que de homens maisno tenham do que a aparncia, julgam-se no obstante inteiramentedeuses (ERASMO 1999, p. 39-40).
Enquanto Maquiavel, como se viu, recorria Antiguidade em busca domodo equilibrado de governo, Erasmo exaltava a retomada dos princpios bsicosdo cristianismo como meio de superao dos males humanos. Ambos, de todamaneira, compunham um contexto mais geral cujas contradies nem sempreso levadas em considerao. Jean Delumeau, perguntando-se acerca das razesdo silncio prolongado sobre o papel do medo na histria, evocou o peso datradio centrada na honra e na valentia desde a Antiguidade, lembrando aimportncia da retrica herica na legitimao do poder (DELUMEAU 1989, p. 15).2
Michel Foucault, por seu turno, ressaltou a inquietude do perodo renascentista,
Marco Antonio Silveira
181
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
2 Da Antiguidade at uma data recente, mas com nfase no tempo da Renascena, o discurso literrioapoiado pela iconografia (retratos em p, esttuas equestres, gestos e drapeados gloriosos) exaltoua valentia individual dos heris que dirigiam a sociedade. Era necessrio que fossem assim, ou aomenos apresentados sob esse aspecto, a fim de justificar aos seus prprios olhos e aos do povo opoder de que estavam revestidos. Inversamente, o medo era o quinho vergonhoso e comum e arazo da sujeio dos viles (DELUMEAU 1989, p. 15).
-
Guerra e doutrina
182
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
bem como o fato de que desde a segunda metade do sculo XV o medo damorte desdobrou-se em medo da loucura: A loucura o j-est-a da morte(FOUCAULT 1978, p. 16). Erasmo representaria esse desdobramento aoassinalar que a loucura se encontrava dentro dos homens, fazendo-os viverem constante iluso.3
Maquiavel e Erasmo, portanto, cada um sua maneira, assistiram emergncia das monarquias modernas nutrindo-se de um mesmo clima desurpresa e medo diante da capacidade destrutiva do homem. No primeiropargrafo dos comentrios sobre a obra de Tito Lvio, o estudioso florentinoressaltou que os homens, por natureza invejosos, haviam tornado odescobrimento de novos mtodos e sistemas to perigoso quanto a descobertade terras e mares desconhecidos (MAQUIAVEL 1994, p. 17).
O filsofo neerlands, que teve suas obras proibidas pelo Index em 1559,denunciou o mau uso da filosofia antiga pela Igreja:
Ao cabo, chegou-se ao extremo de Aristteles ser plenamente acolhidocomo parte integrante da teologia, e acolhido de tal guisa, que a suaautoridade quase mais sagrada que a de Cristo. Com efeito, se estedisse alguma coisa pouco ajustada ao nosso teor de vida, lcito pervertera interpretao, mas repele-se de imediato quem ouse, mesmo levemente,opor-se aos orculos aristotlicos. Dele aprendemos que no existefelicidade perfeita para o homem a menos que possua os bens do corpo eda fortuna. Dele aprendemos que no pode prosperar uma repblica naqual tudo seja possudo em comum. Esforamo-nos por unir os dogmasdele com a doutrina de Cristo, que o mesmo que juntar a gua com ofogo (ERASMO 1999, p. 52).
Para Erasmo, o afastamento das lies de Cristo permitia a expanso deatitudes desumanas e cruis. A crtica erasmiana precedncia do aristotelismo significativa na medida em que aponta para um problema terico fundamental,isto , o choque entre a concepo do homem como animal poltico e a caridadecrist. Se Maquiavel defendia o conflito como decisivo para a civilizao, Erasmopregava uma atitude explicitamente irenista. No -toa, Jernimo Osrio, umdos autores mais importantes do quinhentismo portugus, dedicou-se acombater os argumentos que contrapunham guerra e cristianismo.4 Eramoperaes desse tipo que Erasmo entendia como perverso interpretativa. Seadotssemos o seu ponto de vista, no seria propriamente ilcito questionarem que medida a Segunda Escolstica no cedia a certos intentos de Maquiavel.
Este ltimo, referindo-se incapacidade dos prncipes acima mencionada,evocou o valor da histria:
3 Segundo Foucault (1978, p. 23-4), referindo-se ao Elogio da loucura, Erasmo reserva aos homensdo saber um bom lugar em sua ronda dos loucos: depois os Gramticos, os Poetas, os Retricos e osEscritores; depois os Jurisconsultos; em seguida caminham os Filsofos respeitveis por sua barba eseu manto; finalmente a tropa apressada e inumervel dos Telogos. Mas se o saber to importantena loucura, no que esta possa conter os segredos daquele; ela , pelo contrrio, o castigo de umacincia desregrada e intil.4 Sobre a oposio entre Maquiavel e Erasmo, vale mencionar as palavras de A. Guimares Pintosobre Jernimo Osrio: Ao publicar, em 1542, com o ttulo de De nobilitate ciuili et christiana, o seuprimeiro livro, aquele que viria a consagrar-se como o autor portugus mais editado no sculo XVI ea merecer, pela pureza do latim que manejava, o epteto de Ccero lusitano, pretendeu provar, entre
-
A causa disto, na minha opinio, est menos na fraqueza em que a modernareligio fez mergulhar o mundo, e nos vcios que levaram tantos Estados ecidades da Cristandade a uma forma orgulhosa de preguia, do que naignorncia do esprito genuno da histria. Ignorncia que nos impede deaprender o seu sentido real, e de nutrir nosso esprito com a sua substncia(MAQUIAVEL 1994, p. 18).
O sentido real da histria estava nas constantes revolues, cujofundamento, distanciando-se da caridade crist, achava-se na natureza egostado homem. Erasmo era to consciente da fora desse argumento que procurouenfrent-lo diretamente:
Mas, dizem, a lei da natureza ordena algo que foi reconhecido pelas leise aceite pelo costume, isto , que devemos repelir a fora com a fora eque cada um de ns deve salvaguardar a sua vida do mesmo passo que asua riqueza, visto que esta desempenha a funo da respirao, comoafirma Hesodo. No o nego. Mas, mais poderosa que tudo isto, a graaevanglica ordena que no respondamos com injrias aos que nos injuriam,que queiramos bem aos que nos querem mal, que demos a totalidade dasnossas riquezas quele que nos tira uma parte, que rezemos tambm poraqueles que nos ameaam com a morte. Mas, afirmam, isso apenastoca aos apstolos! Bem pelo contrrio!, isso toca totalidade do povoe corpo de Cristo, como dissemos, corpo que fora que forme um todo,ainda que, quanto aos mritos, um membro seja mais ilustre do que outro.A doutrina de Cristo no tem nada a ver com os que no esperam comoprmios reinar com Cristo (ERASMO 1999, p. 60-1).
A referncia ao poeta grego Hesodo, que viveu no sculo VIII a. C., e emparticular ao poema Os trabalhos e os dias, no evidentemente fortuita.5 Anoo de que o egosmo estava de algum modo inscrito na natureza humanaera amplamente conhecida pelos humanistas. Mesmo Erasmo no a negava,sublinhando, porm, que podia ser superada pela graa evanglica.
Enfim, entre Florena e Roterd os caminhos ora se apartavam, ora secruzavam. Por um lado, o reconhecimento de que a guerra travada entreindivduos e faces era inevitvel, podendo os governos tirar disso proveitoatravs de instituies equilibradas. Por outro, o lamento segundo o qual osensinamentos de Cristo, se seguidos, poderiam retirar os homens da condio
Marco Antonio Silveira
183
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
outras coisas, que Maquiavel no tinha razo, quando dizia que o esprito cristo era culpado peloentibiamento de carter e pelo desaparecimento de intrepidez militar que estiveram na gnese dadecadncia do imprio romano. Na sequncia da refutao a que fogosamente se entrega, Osriojulga-se obrigado a: impugnar o raciocnio daqueles que cobriram de maldies toda a sorte demilcia, apodando-a de atividade mpia e pecaminosa, em contradio com os preceitos de Cristo(ERASMO 1999, p. 16).5 Segundo Werner Jaeger, O tema exterior do poema de Hesodo o processo com o seu irmoPerses, invejoso, briguento e preguioso, que, depois de ter malbaratado a herana paterna, insisteconstantemente em novos pleitos e reclamaes. Da primeira vez conquistou a boa-vontade do juizpor meio de suborno. A luta entre a fora e o direito que se manifesta no processo no , evidentemente,um assunto meramente pessoal do poeta; este torna-se, ao mesmo tempo, porta-voz da opiniodominante entre os camponeses. O seu atrevimento to grande, que chega a lanar no rosto dossenhores devoradores de presentes a sua ambio e o abuso brutal do poder. A sua descrio no sepode comparar com a descrio ideal do domnio patriarcal dos nobres em Homero. Este estado decoisas e o descontentamento que ele origina j existiam antes, naturalmente. Mas para Hesodo omundo herico pertence a outra poca, diferente e melhor do que a atual, a idade do ferro quedescreve com cores to sombrias nos Erga. (JAEGER 1989, p. 60).
-
Guerra e doutrina
184
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
degradante imposta pelos caprichos. Para ambos, todavia, uma natureza humanacorrompida e insana, captada nos relatos histricos. Ainda que mais tarde aSegunda Escolstica, baseada em Toms de Aquino, tenha se esforado paradissolver o conflito mundano na prudncia catlica, a guerra permaneceu comoum dado irrefutvel.
AmizadeO contraponto entre belicosidade e paz, auto-preservao e caridade,
retoricamente trabalhado por Erasmo em A guerra. O fundamento ciceronianode sua abordagem aparece com clareza no seguinte trecho:
Primeiramente, que coisa existe na natureza mais doce ou melhor que aamizade? Nenhuma, seguramente. E todavia, que outra coisa a paz,seno a amizade de muitos entre si? Do mesmo modo que, inversamente,a guerra mais no do que o rancor de um grande nmero. Alm disso, tal a natureza das coisas boas, que quanto mais esto vista, tantotrazem consigo maiores vantagens. Por conseguinte, sendo a amizade deuma s pessoa por outra algo de to doce e salutar, que imensa felicidadeno ser, se se ligarem, pelo vnculo da amizade, um reino com outro reinoe um povo com outro povo? (ERASMO 1999, p. 42).
As palavras nos remetem ao famoso escrito de Marco Tlio Ccero (106-143) denominado Da amizade. Nele, Ccero, numa posio claramente crticafrente aos epicuristas, defendeu que a amizade, entendida como benevolncia,embora fosse uma condio natural que aproximava os homens, sestabeleceria laos duradouros caso fosse vivida como virtude. Nesse sentido,ser amigo no significava ser leal em qualquer condio:
Aqui est, ento, a primeira lei da amizade a ser sancionada: s pedir aosamigos coisas honestas; para ajud-los, fazer apenas coisas dignas semsequer esperar que no-las peam: mostrar interesse sempre, no hesitarjamais; finalmente, ousar dar francamente sua opinio. Na amizade, convmque os amigos mais prudentes tenham maior autoridade, intervenham paraadvertir; no apenas com franqueza, mas com severidade quando asituao o exigir, e que se obedea a essa interveno (CCERO 2001, p.59-9).
Como ocorreria com Maquiavel muito tempo depois, a fala de Ccero erapautada pela tentativa de pensar as revolues e as vicissitudes da repblicaromana, das quais participou ativamente. Sua defesa da amizade, assim, tinhaum sentido fortemente poltico, na medida em que se inseria numa preocupaomais ampla com o exerccio da virtude como esteio da vida pblica.
Para alm da busca de estabilidade, Ccero, ao distinguir amizade eresponsabilidade, criticou tambm aqueles que procuravam tornar inimputveisas aes realizadas em nome da lealdade. Mais ainda, contrapondo as escolasestica e epicurista, o poltico romano rejeitou os que atribuam a origem daamizade ao til, e no ao honesto:
-
Quando prestamos um servio ou nos mostramos generosos, no exigimosrecompensas, pois um prstimo no um investimento. A natureza queinspira a generosidade, por isso acreditamos que no se deve buscar aamizade com vistas ao prmio, mas com a convico de que este prmio o prprio amor que ela desperta. Os filsofos que, como os animais, tudoatribuem ao prazer nem de longe partilham semelhantes idias. No h aquio que admirar: nada de nobre, grandioso e divino est ao alcance de quemrebaixa de tal modo os seus pensamentos a um assunto to vil e desprezvel(CCERO 2001, p. 43-4).
A ambiguidade entre a violncia das lutas de poder em Roma e a defesaciceroniana da amizade que, na linguagem erasmiana, apareceria como ochoque entre atitude belicosa e preceitos cristos se deve, em boa parte, filiao estica de Ccero. A tica estica, fundada na concepo do mundocomo um organismo idealmente bom e impregnado pela razo divina, centradano princpio de que s a virtude boa e s o vcio mau, propunha uma vidaprogressivamente adequada natureza, em direo felicidade e justia.6
Com o intuito de reforar a importncia da benevolncia para a constituio dasociedade, Ccero fez aluso a Empdocles (495-435):
Houve mesmo, em Agrigento, um sbio que, em poemas escritos em grego,proclamava que tudo o que existe e se move na natureza unido pelaamizade e desagregado pela discrdia (CCERO 2001, p. 34).
Mais uma vez, o contraponto entre amor e dio aparece como aspectodecisivo na discusso sobre a organizao poltica. Para Ccero, a foradesagregadora da natureza coexistia com a fora agregadora capaz de aproximaros homens e de elevar a amizade condio de virtude. A amizade, ademais,distinguia-se do investimento egosta. Essa hierarquia entre justia e fora bruta,virtude e utilidade, humano e animal, consistiria numa das bases da crenaerasmiana na possibilidade de que os reinos se unissem pela amizade. Elacorrespondia, via de regra, viso presente na paidia grega, e apropriadaposteriormente pelo cristianismo, segundo a qual, sendo sempre o homemigual a si mesmo, o desafio estava em subordinar o egosmo virtude e, dessaforma, gerar estabilidade poltica em meio instabilidade das aes humanas.
Paidia
Outra referncia central no pensamento de Erasmo foi a obra de SantoAgostinho (354-430), conhecido como o Ccero cristo. Agostinho, como afirmaSarolta A. Takcs, ao articular os ensinamentos cristos com a paidia grega,contribuiu para a institucionalizao da Igreja Catlica (TAKCS 2009, p. 107-12).
Marco Antonio Silveira
185
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
6 Para uma sntese do pensamento estico, cf. o verbete estoicismo do Dicionrio de Filosofia deCambridge (2006, p. 294): A tica estica est baseada no princpio segundo o qual s a virtude boa, e s o vcio mau. Outras coisas s quais se costuma atribuir um valor so indiferentes(adiaphora), embora algumas, como por exemplo a sade, a riqueza e a honra, sejam naturalmentepreferidas (proegmena), enquanto os seus opostos so dispreferidos (apoproegmena). Ainda que asua posse seja irrelevante para a felicidade, desde o nascimento estes indiferentes servem comotema apropriado de nossas escolhas, sendo cada escolha correta uma funo adequada (kathekon) mas inda no um ato moralmente bom, mas apenas um passo na direo do nosso objetivo final(telos) de viver de acordo com a natureza.
-
Guerra e doutrina
186
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
Werner Jaeger definiu a paidia como a formao do homem grego, amodelagem dos indivduos pela ao educadora. O conceito de homem a quese referia a paidia no implicava o eu subjetivo do mundo burgus, mas sim para se utilizar de um termo que aparece em Ccero - a humanitas:
Significou a educao do Homem de acordo com a verdadeira forma humana,com o seu autntico ser. Tal a genuna paidia grega, considerada modelopor um homem de Estado romano. No brota do individual, mas da idia.Acima do Homem como ser gregrio ou como suposto eu autnomo, ergue-se o Homem como idia. A ela aspiram os educadores gregos, bem comoos poetas, artistas e filsofos. Ora, o Homem, considerado na sua idia,significa a imagem do Homem genrico na sua validade universal e normativa.Como vimos, a essncia da educao consiste na modelagem dos indivduospela norma da comunidade (JAEGER 1989, p. 10).
Takcs esboou o perfil de Agostinho sublinhando seus esforos no sentidode conciliar o cristianismo com essa proposta de modelagem do homem ideal:
Ao criar uma estrutura comportamental crist, Agostinho recuperou oentendimento da repblica romana acerca da virtude, da glria e da honra.Seu guia foi Ccero, que estabeleceu que a verdadeira glria (e honra)resultava primeiramente da virtude e secundariamente do louvor emitidopor um juiz competente. Ccero no definiu esse juiz, mas para Agostinhoele era, claro, Deus. O Estado tambm se beneficiava das virtudes dohomem, pois o cristo ainda tinha de agir dentro, e trabalhar para, umasociedade composta de companheiros. A fim de avanar rumo glria dacidade de Deus, Agostinho exorta seus leitores a despertarem suas virtudes.[...] As virtudes antigas, uma vez exercidas a servio do Estado, eincorporadas nos heris mticos romanos que se auto-sacrificavam, eramagora apropriadas como exemplo autoritrio de comportamento virtuosoque conduzia vida eterna com Deus, onde a verdadeira glria residia. Avida humana era transitria e toda ao dependia de circunstncias variadas(TAKCS 2009, p. 111).
O filsofo de Hipona, dessa maneira, associou a virtude pblica ciceroniana,expressa no conceito de amizade, a um modelo imperial cuja transitoriedadeapontava para Deus. Apropriando o estoicismo numa chave de leitura crist,Agostinho chegou a um resultado paradoxal: valeu-se de uma tica vinculada ao poltica no mundo lembremos que Ccero, seguindo a tradio grega,pensava a virtude num sentido marcadamente poltico com o intuito decorroborar a mensagem de Cristo, para a qual a salvao achava-se no interiorde cada um e no encontro com Deus. A aproximao entre cristianismo epaidia lhe permitiu usar um vocabulrio blico que, remetendo antiga aretgrega, adequava-se tambm idia de luta do bem contra o mal, de Deuscontra o diabo. Sublinhando a necessidade da prtica da arte oratria, SantoAgostinho afirmou:
um fato que pela arte da retrica possvel persuadir o que verdadeirocomo o que falso. Quem ousaria, pois, afirmar que a verdade deveenfrentar a mentira com defensores desarmados? Seria assim? Ento, essesoradores, que se esforam para persuadir o erro, saberiam desde o promioconquistar o auditrio e torn-lo benvolo e dcil, ao passo que os defensores
-
da verdade no o conseguiriam? Aqueles apresentariam seus erros semconciso, clareza, verossimilhana e estes apresentariam a verdade demaneira a torn-la inspida, difcil de compreenso e finalmente desagradvelde ser crida? Aqueles, por argumentos falaciosos, atacariam a verdade esustentariam o erro, e estes seriam incapazes de defender a verdade erefutar a mentira? Aqueles, estimulando e convencendo por suas palavrasos ouvintes ao erro, os aterrorizariam, os contristariam, os divertiriam,exortando-os com ardor, e estes estariam adormecidos, insensveis e friosao servio da verdade? Quem seria to insensato para assim pensar? Vistoque a arte da palavra possui duplo efeito (o forte poder de persuadir sejapara o mal, seja para o bem) por qual razo as pessoas honestas noporiam seu zelo a adquiri-la em vista de se engajar ao servio da verdade?Os maus pem-na ao servio da injustia e do erro, em vista de fazertriunfar causas perversas e mentirosas (SANTO AGOSTINHO 2002, p. 208-9).7
Assim, Agostinho se valeu da retrica greco-romana, profundamenterelacionada luta poltica das cidades-Estado, para expressar no somente adisputa entre a mentira diablica e a verdade de Deus, mas tambm para lidarcom uma natureza humana corrompida pelo pecado.
O peso da retrica em Santo Agostinho, porm, teve evolues aindamais significativas. Como lembrou Carlo Ginzburg, Ccero, em nome do princpioretrico da adequao cada discurso deve adequar-se estilisticamente scircunstncias em que proferido e ao pblico a que se destina -, chegou adefender a existncia de estilos individuais. A noo de adequao foi utilizadamais tarde por Agostinho, que, respondendo questo sobre por que Deuscondenara os sacrifcios antigos e no os novos, distinguiu o pulchrum e oaptum, isto , o belo e o adequado. Dessa forma, era possvel considerar oAntigo Testamento ao mesmo tempo verdadeiro e superado, dado que, emboraa verdade de Deus fosse nica, os homens variavam com o tempo. O conceitode adequao retirado de Ccero por Agostinho possibilitou que o ltimorelacionasse imutabilidade divina e variao histrica, a cidade de Deus e a cidadedos homens (GINZBURG 2001, p. 139-75). Tal paradigma, fundamental para ahistoriografia crist, teve vida longa, sendo, por exemplo, como o prprioGinzburg mencionou, indispensvel nas estratgias jesuticas de catequizao(GINZBURG 2002, p. 80-99). A noo de accomodatio, adaptao, ajustando-se s palavras do Apstolo Paulo Para os judeus, fiz-me como judeu, a fimde ganhar os judeus8 -, explicava o tipo de atuao esperada de um missionriono combate contra a barbrie. Contudo, para os jesutas a barbrie significavaatitudes contrrias verdade imutvel e uniforme do Evangelho, e por isso podia
Marco Antonio Silveira
187
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
7 Santo Agostinho. A doutrina crist, trad. Nair de Assis Oliveira, So Paulo: Paulus, 2002, p.208-9.Takcs, comentando o mesmo pargrafo, afirma: A lgica de Agostinho era impecvel. Em seu Adoutrina crist, o professor tornado bispo argumentou que o poder da fala aberto a todos e,porque usado por aqueles que servem falsidade (os no-cristos), os defensores da verdade(os cristos) devem empreg-la tambm com o fim de servir a verdade. Para defender essa teseAgostinho escolheu termos militares. Os cristos eram e ainda so, como proclama o hino Soldadocristo, os soldados sob a liderana de Cristo e a servio de Deus. (TAKSC 2009, p. 108).8 A referncia completa, retirada da I Epstola aos Corntios, cap. 9, v. 19s, a seguinte: Ainda quelivre em relao a todos, fiz-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior nmero possvel. Para osjudeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que esto sujeitos Lei se bem queno esteja sujeito Lei -, para ganhar aqueles que esto sujeitos Lei. Para aqueles que vivem sem
-
Guerra e doutrina
188
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
ser encontrada em qualquer lugar, mesmo na Europa (GINZBURG 2002, p. 90-1). A unidade na diversidade da barbrie, como sugeriu Agostinho em A cidadede Deus, adviria da natureza humana:
Ora, a sociedade dos mortais, embora espalhada por toda parte sobre aterra e em quantos e variados lugares se queira, ata-se pela comunhode, em certa medida, uma nica e mesma natureza, buscando cada umseus interesses e desejos, enquanto o que desejado no suficientepara ningum ou no o para todos, porque no se trata do mesmo. Essasociedade divide-se contra si mesma na maior parte do tempo e a parteque prevalece oprime a outra. Assim, a vencida sucumbe vitoriosa,preferindo, evidentemente, dominao ou mesmo liberdade qualquertipo de paz ou salvao, tanto que gozaram de grande admirao os quepreferiram perecer a servir. Em quase todas as naes, com efeito, decerta forma retumbou este grito da natureza: devem preferir submeter-seaos vitoriosos os que porventura foram vencidos, antes que ser aniquiladoscom uma devastao guerreira total. Por isso, no sem a Providncia deDeus, de cujo poder depende que algum seja subjugado ou subjugue naguerra, aconteceu que alguns fossem dotados com um reino e outrossujeitados aos que reinavam (HARTOG 2001, p. 259).
A natureza humana, assim, clamava tanto pelo interesse prprio quantopela submisso aos vitoriosos discurso que, a um s tempo, explicava aexistncia da guerra e legitimava a submisso ao imprio. Ao articular paidia ecristianismo, Agostinho desenvolveu um discurso sobre a soberania,subordinando a guerra ao imprio do mesmo modo que o corpo deveria sesubordinar alma, o egosmo virtude, e a barbrie civilizao. Asconsequncias dessa operao filosfica e historiogrfica so inmeras. SegundoJean Delumeau, ela, por um lado, acarretou uma representao complexa detempo interferindo a noo de ciclo na de um vetor dirigido para aconsumao dos sculos (DELUMEAU 1989, p. 230) e, por outro, alimentouo fluxo de correntes milenaristas, fossem pessimistas ou otimistas:
Porque o mundo era velho, tudo ia mal e logo iria ainda pior. E quandoguerras, crimes, pestes e fomes acrescentavam-se corrupo e sdiscrdias da Igreja, ao esfriamento da caridade, multiplicao dos falsosprofetas, ao surgimento j efetivo ou iminente do Anticristo, podia-seduvidar da morte prxima de um mundo a uma s vez decrpito e pecador?Ou ele ia dar lugar, aps dramticas convulses, a um paraso terrestreque duraria mil anos era a esperana dos quiliastas, ou ento hiptesemais provvel ia desabar aos ps do Grande Justiceiro descido do cupara a suprema prestao de contas (DELUMEAU 1989, p. 232).9
a Lei, fiz-me como se vivesse sem a Lei ainda que no viva sem a lei de Deus, pois estou sob a leide Cristo -, para ganhar aqueles que vivem sem a Lei. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganharos fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E, isto tudo, eu o fao porcausa do evangelho, para dele me tornar participante - trad. Estvo Bettencourt (A Bblia de Jerusalm1981, p. 1499).9 Algumas pginas antes, Delumeau (p. 206), referindo-se ao Anticristo e ao fim do mundo, afirma:Uma e outro sempre foram considerados pelos cristos como certezas e Santo Agostinho consagroutodo o livro XX de A cidade de Deus demonstrao de que esses dois prazos so inelutveis poisanunciados por inmeros textos sagrados embora no se possa de modo algum prever seu momento.
-
DualismoO debate sobre as diferentes espcies de governo teve em Plato (428-
347) uma referncia capital. Embora Herdoto, atravs do dilogo entre Otanes,Megabises e Dario, houvesse mencionado as vantagens e as desvantagens detrs distintas formas, foi Plato quem estabeleceu as bases da classificaosxtupla que apareceria posteriormente em autores como Aristteles (387-22), Polbio (c.210-c.120) e Maquiavel (BOBBIO 1985). Como vimos acima, opensador florentino reforou a tese de que monarquia, tirania, aristocracia,oligarquia, democracia e anarquia no apenas constituam as seis formas degoverno conhecidas, como tambm se apresentavam ciclicamente, uma espciepositiva degenerando em outra negativa. Para Plato, aristocracia e monarquiaconsistiam em duas formas perfeitas, s quais acrescentou, como espciesexistentes e corrompidas, a timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania.Se as duas primeiras correspondiam repblica ideal, as demais implicavam,pela ordem, modos que iam do menos ao mais imperfeito. A timocracia (detim, honra), identificada pelo filsofo com o Estado espartano, denotava ummodelo de transio entre as formas ideais e as corrompidas.
A apropriao da paidia grega pelos pensadores cristos nos conduz ssemelhanas entre Plato e Santo Agostinho. Atravs das teorias platnicas afilosofia catlica pde transformar determinadas noes judaico-crists nodualismo entre esprito imaterial e corpo material. Essa operao permitiu, pelomenos, quatro movimentos: que a nfase na bondade natural como meio desalvao fosse deslocada para a capacidade intelectual; que o pecado original,entendido como orgulho e abuso da auto-afirmao, pudesse ser tratado emtermos sexuais; que o Deus transcendente e interventor do cristianismo seapresentasse como lgos; e que a relao com esse Deus, de cartermarcadamente pessoal, fosse tambm repensada em termos de comunidadepoltica (STEVENSON & HABERMAN 2005, p. 96-123). O dualismo de corpo ealma em Plato, visto como conflito interior e necessidade de busca de harmonia,complexificou-se com sua teoria da alma, segundo a qual esta se comporia detrs partes: a razo, o esprito e o apetite ou, se preferirmos, o intelecto, aemoo e o desejo corporal. Essa anlise de fundamental importncia porquelevou Plato a indicar no somente a existncia de trs tipos de pessoas asfilosficas, as amantes da vitria e as amantes da riqueza, voltadasrespectivamente ao conhecimento, reputao e ao benefcio material -, masainda a ocorrncia das formas diferentes de governo. Assim como a justia nohomem dependeria do equilbrio daquelas trs partes sob o comando da razo,as sociedades deveriam ser governadas pelos indivduos aptos a dirigir os demaisracionalmente e em nome do bem comum. Para isso, uma educao apropriada,a paidia, assumia papel capital tanto para a formao do carter individualquanto para a estabilidade social (STEVENSON & HABERMAN 2005, p. 127-57).O contraponto aos modelos idealizados de indivduo e de sociedade apresentadospor Plato estava, portanto, na percepo de que ambos eram historicamenteimperfeitos.
Marco Antonio Silveira
189
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
-
Guerra e doutrina
190
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
A concepo platnica de histria, como demonstra a hierarquia de suasformas de governo, era, de modo geral, pessimista e associada ao regresso.Para Plato, compreender a sociedade como um organismo semelhante aocorpo humano significava afirmar que as trs classes que compunham o Estadocorrespondiam s trs almas individuais: a racional, a passional e a apetitiva.Como lembra Norberto Bobbio:
O tema no foi perfeitamente desenvolvido, mas se no h dvida de quea constituio ideal dominada pela alma racional, indubitvel que aconstituio timocrtica (que exalta o guerreiro, mais do que o sbio) dominada pela alma passional. As outras trs formas so dominadas pelaalma apetitiva: o homem oligrquico, o democrtico e o tirano so todoseles cpidos de bens materiais, esto todos voltados parra a terra emboraapresentem aspectos diversos (BOBBIO 1995, p. 32).
Essas trs ltimas formas diferenciavam-se ainda pela natureza dos desejose das necessidades a que se ligavam, isto , se essenciais (como no homemoligrquico), suprfluos (no democrtico) ou ilcitos (no tirano). A hierarquiaentre o espiritual e o mundano, bem como a natureza corrupta deste ltimo,ajudam a entender a leitura que Agostinho fez de Plato na defesa do imprio ena constatao do fim do mundo. Os tipos timocrtico, oligrquico, democrticoe tirnico formulados por Plato e que implicavam, respectivamente, o desejoda honra via atividade blica, o amor pela riqueza, a licenciosidade e o apreopela violncia explicitavam uma natureza humana corrompida pelo apetite. Adescrio platnica do tirano, nesse sentido, no apontava exclusivamente parauma forma extrema de governo, mas tambm para um modo de se relacionarcom os outros. Sobre o tirano, afirmou o filsofo grego em A Repblica:
O governante, vendo que a multido est pronta a obedecer, no sabeevitar o derramamento de sangue dos cidados; com falsas acusaes,usando os meios preferidos pelos que agem assim, arrasta as pessoas aostribunais; macula-se com o homicdio, provando com a lngua, e os lbioscelerados, o sangue do prximo. A outros exila, promove sua morte. Deoutro lado, prev a remisso de dvidas e a redistribuio de terras. Porisso no ser necessrio, inevitvel mesmo, que esse homem morra pelamo dos seus inimigos ou se faa um tirano, transformando-se de lobo emhomem? (BOBBIO 1995, p. 49)
A metfora do lobo nos remete quase diretamente a Thomas Hobbes(1588-1679). Ainda que as diferenas entre a Escolstica e o jusnaturalismomoderno no possam ser desconsideradas, a leitura de Plato possibilita quese perceba a presena de elementos hobbesianos em Santo Agostinho e nasteorias corporativas do Estado. A esse respeito, comentando o agostinianismopoltico, o antroplogo Marshall Sahlins afirmou:
Agostinho tambm tinha reservas em relao ao banditismo autorizado doEstado, mas, apesar disso, era a violncia institucionalizada exercida pelospoderes estabelecidos que os tornava indispensveis humanidade cada.Agostinho podia assim endossar no apenas os poderes do rei, mas a penade morte do juiz, a foice farpada do carrasco, as armas do soldado e ainda
-
a severidade do deus-pai. Enquanto todos eles forem temidos, concluiu,os perversos sero mantidos dentro dos limites e o bom viver pacificamenteentre os maus (SAHLINS 2008, p. 53-4).
Bobbio ressalta que um dos grandes temas da filosofia poltica de todosos tempos o da discrdia ou, em outras palavras, o tema da manuteno daunidade do Estado em relao diversidade dos indivduos:
Da discrdia nascem os males da fragmentao da estrutura social, aciso em partidos, o choque das faces, por fim, a anarquia o maior dosmales -, que representa o fim do Estado, a situao mais favorvel instituio do pior tipo de governo: a tirania (BOBBIO 1995, p. 51).
A discrdia para Plato, fosse no interior da classe dirigente ou entre estae a classe dirigida, era comparvel doena do organismo. Uma vez que oscritrios de julgamento de um Estado eram, portanto, a violncia e o consenso,a ilegalidade e a legalidade, Plato definiu o consentimento e as leis comoparmetros dos melhores governos. Se tais elementos tornaram-se decisivospara Agostinho e Toms de Aquino, tambm o foram para Maquiavel. Destaquem-se, de todo modo, trs perfis da imperfeio humana e social traados porPlato. O tirano caracterizava-se por ser ele mesmo tiranizado isto , tiranizadopelos apetites. A timocracia e a oligarquia, por seu turno, ao basearem-se nogoverno de poucos dirigentes voltados, respectivamente, ao amor pela fama epela riqueza, contrapunham-se aristocracia, cujo fundamento no consistiano sangue, mas no talento. Nesse sentido, as reflexes platnicas abriam espaopara que seus futuros leitores pudessem criticar os tiranos, o uso apetitoso daeconomia do dom e a nobreza dirigente incapacitada do ponto de vista meritrio(STEVENSON & HABERMAN 2005, p. 144-9).
Direito naturalDiscutindo os efeitos perniciosos do ceticismo moderno e procurando
demonstrar que a prova parte da retrica, Carlo Ginzburg retoma duaspassagens bastante conhecidas referentes Atenas clssica. A primeira consistena narrativa tucidideana relativa ao debate entre mlios e atenienses durante aGuerra do Peloponeso. Tendo os ltimos vencido os primeiros, o cerne da questoestava em saber se eram justas a destruio dos homens derrotados e aescravizao de mulheres e crianas. A segunda o dilogo entre Clicles eScrates, descrito no Grgias, sobre se pior sofrer uma injustia do que pratic-la. Segundo Ginzburg, Tucdides (471-c.395) e Plato buscavam compreendero desastre ateniense na Guerra do Peloponeso, culpando a democracia e aretrica pelo fracasso. A defesa da destruio dos mlios apresentava-se sob oargumento de que a imposio do forte sobre o fraco era natural. O pressupostodefendido por Clicles, por sua vez, era o de que a lei fora criada pela maioria defracos contra a minoria de fortes. Nos dois casos emergia a noo de direitonatural como direito dos mais fortes, uma maneira, segundo o historiador italiano,de articular nomos e physis (GINZBURG 2002, p. 13-46). O conceito de direitonatural, ao transformar a natureza em lei, tornou-se apto a justificar vises
Marco Antonio Silveira
191
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
-
Guerra e doutrina
192
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
bastante distintas de domnio e soberania. De uma forma ou de outra, oentendimento de que a natureza humana caracterizava-se, pelo menos emparte, por elementos egostas geradores de luta e anarquia, tendia a legitimarmodelos soberanos fossem pautados pela lei ou pela fora atravs daconstatao do conflito generalizado.
Ginzburg dedicou seu livro Relaes de fora ao historiador ArnaldoMomigliano, certamente pela maneira como este colocou o problema do pontode vista historiogrfico. Comparando as perspectivas judaica e grega de histria,Momigliano ressaltou sua principal diferena frente aos relatos persas: arealizao de uma histria poltica expressando a vida de sociedades quedeliberavam com propsitos claros sob a liderana de homens de viso(MOMIGLIANO 2004, p. 36). Porm, enquanto a histria grega narrava exemplosque servissem de lio para os desenvolvimentos futuros dos negcioshumanos, a judaica, essencialmente sagrada, consistia numa narrao deeventos a partir do incio do mundo (MOMIGLIANO 2004, p. 38 e 39). Refletindoespecificamente sobre Tucdides, Momigliano sintetizou seu trabalho da seguintemaneira:
Tucdides tinha a mesma mente questionadora de seus contemporneossofistas, mas concentrava-se somente na vida poltica. O passado erapara ele apenas o incio da situao poltica que existia no presente; e opresente era a base para a compreenso do passado. Se compreendssemoso presente, compreenderamos o funcionamento da natureza humana.Experincias presentes poderiam ser postas para trabalhar para o futuro(ainda que os detalhes deste uso tenham ficado um pouco incertos) ou,alternativamente, constituiriam a chave para o passado. Tucdides assumeque as diferenas entre pocas diferentes eram mais quantitativas do quequalitativas. A natureza humana permanecia fundamentalmente a mesma.[...] Os homens querem o poder e podem alcan-lo apenas no interior doEstado. Disto resultam feudos internos e guerras externas. Meras biografiasficam, por definio, excludas: as aes humanas ou so polticas ou sonada. Mas as aes humanas no so invariavelmente cegas. Em temposde revoluo, as paixes podem alcanar um ponto em que os homens jno so capazes de responder por suas aes. [...] Com efeito, responsabilidade especfica do lder poltico mostrar seu controle da situaoem discursos que convencem a multido sem fazer concesses s suaspaixes cegas (MOMIGLIANO 2004, p. 68-9).
A abordagem historiogrfica de Tucdides tem sido uma das bases dorealismo poltico mesmo em nossos dias, sendo geralmente contraposta filosofia de raiz platnico-aristotlica. Haveria aqui, em linhas gerais, a distinoentre uma perspectiva determinista de sociedade e um modelo de ordemfundado na submisso do corpo alma. Embora Tucdides tambm buscasseum conhecimento da natureza humana que conduzisse ao justa, suacompreenso das relaes polticas como necessidade histrica o levou aconsiderar a tenso entre fora e direito. O historiador grego, tributrio dasanlises mdicas, separou as razes da guerra de sua causalidade natural,fundada na dinmica da fora combatida pela fora. A avaliao de que a Guerrado Peloponeso fora causada pelo medo espartano diante da expanso ateniense
-
equivalia definio de uma lei imanente caracterizada pela repetio. Que essaleitura constituiria mais tarde um problema para as doutrinas ancoradas nolivre-arbtrio algo que fica claro atravs das seguintes palavras de WernerJaeger:
O conceito de causa [em Tucdides] provm do vocabulrio da Medicina[...]. Foi ela que pela primeira vez estabeleceu a distino cientfica entrea verdadeira causa de uma enfermidade e o seu sintoma. A transfernciadeste pensamento naturalista e biolgico para o problema do nascimentoda guerra no era um ato puramente formal: significava a total objetivaodo assunto, separando-o da esfera poltica e moral. A poltica assimdelimitada como um campo autnomo da causalidade natural. A luta secretaentre foras opostas conduz finalmente crise aberta da vida poltica daHlade. O conhecimento desta causa tem algo de libertador, pois colocaaquele que o possui acima das odiosas lutas dos partidos e do espinhosoproblema da culpa e da inocncia. Mas tambm tem algo de opressivo, poisfaz aparecer como resultantes de um longo processo, condicionado poruma mais alta necessidade, acontecimentos que tinham sido consideradoscomo atos livres da conscincia moral (JAEGER 1989, p. 312).
Dessa forma, a investigao tucidideana abria-se para uma leiturafuncionalista dos conflitos, as aes dos Estados sendo percebidas comofunes da dinmica repetitiva do jogo de foras. As relaes entre Estados,marcadas pela predominncia do mais forte, constituiriam um reino parteem relao ao mundo da plis regulado pelo direito. Se as lutas partidriasinternas eram, por isso, consideradas uma molstia poltica, nos embatesexternos vigoraria o direito do mais forte. No dilogo envolvendo os mlios,estes so advertidos, como lembra Jaeger, de que o herosmo da ticacavalheiresca no cabia diante da fora de uma potncia (JAEGER 1989, p.317-8).
Apesar dos contrastes entre determinismo natural e livre-arbtrio,funcionalismo e teleologia, a distino entre as perspectivas tucidideanas eplatnico-aristotlicas somente em parte justificada. Basta citar determinadaspalavras de Maquiavel nos Discorsi:
Como demonstram todos os que escreveram sobre poltica, bem comonumerosos exemplos histricos, necessrio que quem estabelece a formade um Estado, e promulga suas leis, parta do princpio de que todos oshomens so maus, estando dispostos a agir com perversidade sempre quehaja ocasio [...].[...] os homens s fazem o bem quando necessrio; quando cada um tema liberdade de agir com abandono e licena, a confuso e a desordem notardam a se manifestar. Por isto se diz que a fome e a misria despertam aoperosidade, e que as leis tornam os homens bons. Quando uma causaqualquer produz boas consequncias sem a intervenincia da lei, esta intil; mas quando tal disposio propcia no existe, a lei indispensvel(MAQUIAVEL 1994, p. 29).
Ainda que Maquiavel no estivesse distante do naturalismo tucidideano, aimportncia da lei no controle da instabilidade era algo que partilhava com Plato.Desse ponto de vista, a oposio entre histria e filosofia, entre Tucdides ePolbio, de um lado, e Plato e Aristteles, de outro, deve ser relativizada.
Duas questes cruciais podem, ento, ser levantadas a partir da recuperao de
Marco Antonio Silveira
193
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
-
Guerra e doutrina
194
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
aspectos concernentes noo de natureza humana herdada pelo AntigoRegime. A primeira que no era preciso ler Maquiavel para conhecer aperspectiva maquiavlica; Tucdides, Polbio e outros historiadores permitiam aelaborao de modelos explicativos de matriz diferente da aristotlica. A segundaquesto que, embora subjugado por princpios autoritrios e legitimadores dasoberania, o conflito de todos contra todos tambm estava presente nopensamento catlico, visto que este se constituiu como resultado da fusoentre o cristianismo e a paidia. Mesmo Ccero disponibilizava munio ao afirmarque a amizade implicava benevolncia, e no utilidade. O conflito se apresentavasob a forma da aret aristocrtica, da maldade da natureza humana ou da lutade deus contra o diabo. Nesse sentido, para pensar nele bastava ler Toms deAquino.
SoberaniaThomas Hobbes tornou-se, assim como Maquiavel, um dos pensadores
mais controversos da filosofia poltica. Ele tambm geralmente associado viso realista da natureza humana e da sociedade civil: sendo os homensintrinsecamente maus, o Estado deveria se instituir como um Leviat. Contudo,ainda que o modelo de Estado proposto por Hobbes no se mostrassehistoricamente vivel durante boa parte do Antigo Regime, a idia de que ohomem o lobo do homem no era, como temos visto, propriamente indita.Hannah Arendt, em Origens do totalitarismo, classificando Hobbes como onico grande filsofo de que a burguesia pode, com direito e exclusividade, seorgulhar, fixou, porm, uma distino fundamental de sua teoria:
O Leviathan de Hobbes exps a nica teoria poltica segundo a qual oEstado no se baseia em nenhum tipo de lei construtiva seja divina, sejanatural, seja contrato social que determine o que certo ou errado nointeresse individual com relao s coisas pblicas, mas sim nos prpriosinteresses individuais, de modo que o interesse privado e o interessepblico so a mesma coisa (ARENDT 1990, p. 168-9).
A crtica da autora indicava a especificidade de Hobbes em relao filosofiapoltica desenvolvida desde Plato, ou mesmo s experincias vividas na plisgrega. Seja como for, a questo central era que, enquanto autores comoAgostinho e Toms de Aquino haviam incorporado a guerra em suas anlisescom o intuito de subordin-la a ideais e a leis soberanas, Hobbes buscara comporum modelo poltico que transformava o egosmo em lei:
A profunda suspeita alimentada por Hobbes em relao a toda a tradioocidental de pensamento poltico no nos surpreende, se lembrarmos queele procurava nada menos que justificar a Tirania, que, embora houvesseocorrido muitas vezes na histria do Ocidente, nunca havia sidohomenageada com um fundamento filosfico. Hobbes confessaorgulhosamente que o Leviat realmente um governo permanente detirania: a palavra Tirania significa nem mais nem menos que a palavra
-
Soberania (...) Acho que tolerar o dio declarado Tirania tolerar o dio comunidade em geral (ARENDT 1990, p. 174).
A anlise arendtiana de Hobbes importante, dentre outras razes, porqueassinala indiretamente um dos cernes do debate em torno do Estado durante oAntigo Regime. Talvez, mais do que referir a distncia entre o modelo escolsticode pluralidade de poderes e o absolutismo, H. Arendt contribua para que seentenda como Hobbes e Toms de Aquino, debruando-se sobre o mesmoproblema crucial da soberania e do controle da natureza humana, formularamsadas diferentes. Mais ainda, a especificidade hobbesiana desempenhava umpapel decisivo na diferenciao estabelecida pela filsofa alem entre imprio eimperialismo. Segundo Arendt:
Contrariamente s verdadeiras estruturas imperiais, em que as instituiesda nao-me se integram de vrias maneiras s do imprio que criam, caracterstico do imperialismo permanecerem as instituies nacionaisseparadas da administrao colonial, embora se lhes permita exercer ocontrole (ARENDT 1990, p. 167).
Nesse sentido, os modos diversos pelos quais Aquino e Hobbes, porexemplo, resolveram teoricamente o problema da soberania expressavam-se,para H. Arendt, na distncia entre imprio e imperialismo. Tal distncia noconsistia, entretanto, numa oposio estereotipada, como se imprio significassesimplesmente integrao e lei, e imperialismo, o uso da fora:
O novo enfoque dessa filosofia poltica, j imperialista, no est no destaqueque ela dava violncia, nem na descoberta de que a fora uma dasrealidades polticas bsicas. A violncia sempre foi a ultima ratio na aopoltica, e a fora sempre foi a expresso visvel do domnio e do governo.Mas nem uma nem outra constituram antes o objetivo consciente do corpopoltico ou o alvo final de qualquer ao poltica definida. Porque a forasem coibio s pode gerar mais fora, e a violncia administrativa embenefcio da fora e no em benefcio da lei torna-se um princpiodestrutivo que s detido quando nada mais resta a violar (ARENDT 1990,p. 167).
Certamente, o principal exemplo em que se baseou Hannah Arendt paraavaliar o imperialismo com a medida do imprio foi a Roma antiga. Em parte, aautora remontava criticamente busca de consenso e legalidade por parte depensadores to diversos como Plato, Agostinho e Maquiavel. Arendt abominavaos conceitos de natureza humana e soberania, pois era profundamenteconsciente de suas consequncias. Sabia, porm, de sua importncia para adiversificada reflexo filosfica que almejava subordinar a violncia autoridade.A percepo de que o uso sem limites da fora gerava instabilidade e revoluesno era atributo exclusivo da tradio catlica, que, todavia, procurou contrapor-se idia de dominao. Michel Senellart indica a coexistncia crtica entre osconceitos de governo (governar para o bem comum) e de domnio (conservaro poder). Segundo o autor:
Marco Antonio Silveira
195
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
-
Guerra e doutrina
196
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
Todo o pensamento medieval, a partir de Santo Agostinho, atravessadopela oposio entre regere (dirigir, governar, comandar) e dominar, quesubjaz anttese do rex e do tirano. Regere, a atividade de reger, deconduzir um povo, , portanto, o contrrio da dominao (SENELLART2006, p. 20).
Mais uma vez, a questo no pode ser tratada em termos de oposioestereotipada. Quando comparamos as anlises de Hannah Arendt e de MichelSenellart, percebemos que, a despeito das importantes circunscries filosficas,governo e domnio se fundiam na tarefa de controlar a fora, e no de elimin-la. Senellart, discutindo as mudanas ocorridas no interior do pensamentocatlico, deixa esse aspecto claro:
Como se deu a passagem, em alguns sculos, desse governo doce, pacientee benevolente, noo de um regimen poltico que recorre fora paraassegurar a boa ordem da sociedade crist? Esse um dos problemas quecoloca o desenvolvimento do Estado durante a primeira metade da IdadeMdia. Proponho-me mostrar [...] de que maneira a Igreja, no podendoabster-se da coero, adaptou-a aos poucos s regras ticas do governo.Quase sacerdotalizao da espada, na falta de poder desarmar o sacerdcio(SENELLART 2006, p. 29-30).
Esse seria o paradoxo criticado por Erasmo no sculo XV: as palavras deAristteles se tornavam mais importantes que as de Cristo. Mas Hobbes fezalgo distinto da operao que fundiu governo e domnio, pois ele na verdadecriou as condies para uma nova separao - a que forjaria a diferena, depoispresente em Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), entre constituio econservao, governo e Estado, administrao e soberania. Nas palavras deHobbes, evocadas por Senellart, sobre a relao entre o rei e seus ministros:
E nessa conjuntura, na qual o direito e o exerccio so coisas separadas,o governo dos Estados muito se parece com o do mundo, em que Deus,primeiro motor, geralmente deixa agir as causas segundas e no altera aordem dos efeitos da natureza (SENELLART 2006, p. 41).
Nessas circunstncias, trs questes devem ser retomadas. A primeira a de que, no fundo, trabalhar com uma oposio categrica entre governar edominar na anlise das sociedades de Antigo Regime dificulta compreender queos pensadores da poca tinham bastante clareza do duplo carter blico epoltico da existncia dos imprios. A segunda que constitui um problemahistrico capital avaliar se sociedades inteiras estavam dispostas a partilhar aconcepo de que, em ltima instncia, a alma podia exercer controle sobre ocorpo, a virtude sobre a necessidade, a doutrina sobre a guerra. A descrioque Plato fizera do tirano encaixava-se num sem-nmero de personagensannimos do cotidiano, sendo comum o uso da palavra tirania para expressarcomportamentos violentos, a usurpao dos fracos e a ao desordenadorados demnios. A terceira tem a ver com o fato de que, no decorrer no tempo,a soberania assumiu novos significados, conferindo noo de razo de Estadoum sentido explicitamente maquiavlico. Essa evoluo histrica, contudo, no
-
significa que at o sculo XVIII, mesmo na Pennsula Ibrica, no fosse possvelpensar o problema da dominao como componente de um contextocaracterizado pela correlao de foras.
Prudncia e crticaA obra do filsofo Michel Foucault trouxe contribuies que tornaram o
debate sobre o exerccio do governo ainda mais complexo. Alm da importnciade seu pensamento para a compreenso do mundo moderno, Foucault nosinteressa aqui em especial pela maneira como foi apropriado por Antnio ManuelHespanha, o historiador luso que marcou a historiografia brasileira com seusestudos sobre as relaes entre a doutrina escolstica e a dinmica social einstitucional do Portugal seiscentista (HESPANHA 1994).10 Foucault, no livro Emdefesa da sociedade, parte de um problema terico e metodolgico decisivo.Sublinhando a relao entre direito e verdade, afirma o filsofo:
O papel essencial da teoria do direito, desde a Idade Mdia, o de fixar alegitimidade do poder: o problema maior, central, em torno do qual seorganiza toda a teoria do direito o problema da soberania. Dizer que oproblema da soberania o problema central do direito nas sociedadesocidentais significa que o discurso e a tcnica do direito tiveramessencialmente como funo dissolver, no interior do poder, o fato dadominao, para fazer que aparecessem no lugar dessa dominao, que sequeria reduzir ou mascarar, duas coisas: de um lado, os direitos legtimosda soberania, do outro, a obrigao legal da obedincia. O sistema dodireito inteiramente centrado no rei, o que quer dizer que , em ltimaanlise, a evico do fato da dominao e de suas consequncias(FOUCAULT 1999, p. 31).
Dessa forma, se a questo da soberania, como indicado anteriormente,implicou para os diversos filsofos da Idade Moderna o esforo de compreensode como governo e domnio deviam se articular, Foucault props que o estudoda dominao precisava ser feito de baixo para cima, desfocando a figura real:
Em suma, preciso desvencilhar-se do modelo do Leviat, desse modelode um homem artificial, a um s tempo autmato, fabricado e unitrioigualmente, que envolveria todos os indivduos reais, e cujo corpo seriamos cidados, mas cuja alma seria a soberania. preciso estudar o poderfora do modelo do Leviat, fora do campo delimitado pela soberania jurdicae pela instituio do Estado; trata-se de analis-lo a partir das tcnicas etticas de dominao (FOUCAULT 1999, p. 40).
O modelo escolhido por Foucault para efetuar a investigao das tticas,das estratgias e dos dispositivos de dominao foi aquilo que na Antiguidade jse apresentara por vezes como contraponto aos discursos sobre o governo, isto
Marco Antonio Silveira
197
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
10 Antnio Manuel Hespanha. As vsperas do Leviathan, Coimbra: Almedina, 1994. Conforme se disseno incio deste artigo, no se pretende aqui reconstituir o debate historiogrfico brasileiro referente colonizao da Amrica portuguesa o que demandaria destrinchar as especificidades de diversosautores. O objetivo deste texto consiste em discutir determinados pressupostos presentes nasapropriaes do trabalho de Hespanha. Sobre o debate historiogrfico, cf., a ttulo de exemplo,FRAGOSO, BICALHO & GOUVA 2001; BICALHO & FERLINI 2005; SOUZA 2006.
-
Guerra e doutrina
198
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
, a guerra.11 Nesse sentido, o tema das relaes de fora, que at entoabrigavam as diferenas entre governo e domnio, entre governar para o bemcomum e conservar o poder, desdobrou-se tambm na questo das estratgiascotidianas de controle e autocontrole, a microfsica do poder. Foi o que Foucaultfez ao estudar a loucura, a sexualidade, o panptico e a governamentalidade.Um exemplo de como esses trs aspectos governo, conservao e microfsica se associavam intimamente j no sculo XVII encontrado no Brevirio dospolticos, de 1684, atribudo ao cardeal Mazarin, sucessor de Richelieu comoprimeiro-ministro francs (MAZARIN 1997). As diversas mximas apresentadasnesse pequeno livro tm como ponto de partida a proposio socrticaconhece-te a ti mesmo. Hannah Arendt conferiu ao mtodo utilizado porScrates, a maiutica, um lugar crucial para a compreenso do que deveria serum espao pblico plural fundado no choque de opinies. Para a filsofa, acondenao de Scrates aguou a crtica de Plato plis democrtica,incentivando a adoo de um modelo no qual as coisas do mundo e da histriaapareciam subordinadas filosofia como o corpo alma (ARENDT 2008).Foucault, por sua vez, explorou o que o conhecimento de si significou emtermos de tticas de poder: a investigao metdica de si mesmo, fosse atravsda confisso catlica, da administrao ou da cincia, implicava um outro tipode soberania, marcadamente ligada emergncia da individualidade moderna.O Brevirio de Mazarin demonstra esse aspecto de modo interessante aoprescrever cinco preceitos: simula; dissimula; no confies em ningum;fala bem de todo o mundo; reflete antes de agir (MAZARIN 1997, p. 203).Bolvar Lamounier, analisando o livro de Mazarin, destaca dois aspectosfundamentais referentes microfsica do poder. O primeiro diz respeito historicidade das formas institucionais do perodo.
Importante entender que o termo absolutismo designa a hipertrofia dopoder de alguns monarcas individualmente, ou de suas respectivas dinastias,e no a plenitude institucional daquela grande estrutura que fomos aospoucos identificando como o Estado moderno. Na verdade, a importnciaque Mazarin atribui a pequenos expedientes de manipulao e a espantosameticulosidade com que os decifra so sintomas da debilidade, no darobustez institucional do Estado francs, ou de qualquer Estado europeu,em meados do sculo XVII. O absolutismo uma das formas ideais doEstado moderno, no o Estado moderno plenamente configurado(LAMOUNIER 1997, p. 11-2).
O diagnstico de Antnio Manuel Hespanha bastante prximo do descritoacima, como o prprio ttulo de seu livro indica: A vspera do Leviathan.Entretanto, seu diagnstico bastante prximo do descrito acima, como oprprio ttulo de seu livro indica:
11 Yvon Garlan (1991, p. 15), por exemplo, assinalou esse aspecto ao lembrar a presena da metforablica na anlise foucaultiana das relaes amorosas. Para Garlan, a guerra servia de modelo a todoo campo social: Mais amplamente, toda a vida moral dos gregos que assume um carter militante:sob a forma de confronto, descrito em termos militares, entre as exigncias mais nobres e as paixesmais vis pelo comando da alma.
-
A vspera do Leviathan. nessa vspera que Mazarin escreve. Ainda queHespanha e Lamounier possam se afastar no que concerne avaliao dasformas e extenso, no perodo, de mecanismos de acomodao no-beligerante dos conflitos (LAMOUNIER 1997, p. 13), ambos nos fazem pensarsobre o peso de estratgias de simulao e dissimulao nos Estados do AntigoRegime. A despeito das diferenas entre o paradigma escolstico luso e oprovidencialismo francs, os conselhos de Mazarin tinham aplicao ampla.Explicando sobre o modo de se alcanarem as honrarias, disse o cardeal:
No vs imaginar que so tuas qualidades pessoais e teu talento que tefaro obter um cargo. Se achas que ele te caber pela simples razo deseres o mais competente, no passas de um tolo. Conscientiza-se de quepreferem sempre confiar uma funo importante a um incapaz do que a umhomem que a merea. Age portanto como se teu nico desejo fosse deverteus cargos e prerrogativas apenas benevolncia de teu senhor (MAZARIN1997, p. 137).
As complexas redes patrimonialistas vigentes no Antigo Regimedemandavam que sditos e magistrados aplicassem cotidianamente dispositivosbeligerantes, sujeitando-se tambm a eles. A violncia fragmentada no dia-a-dia de palcios, tribunais e escritrios multiplicava-se ainda nas variadas instnciasda vida dos sditos. As sugestes de Mazarin sobre como pr fim a umasedio caberiam, por exemplo, a doutores e militares presentes nas vriaspartes da Amrica portuguesa:
No aceites receber vrios revoltosos ao mesmo tempo para negociar.Exige que designem um deles para falar em nome de todos. As sediesso com frequncia causadas pelos filsofos, mas se teus sditos se revoltamporque tm dvidas, decreta uma moratria.Promete uma recompensa aos que contriburem para restaurar a paz civilsuprimindo os mentores ou ajudando-te a det-los.Se a populao sublevada por uma onda de violncia incontrolvel, tomapor porta-vozes homens de bem que traro de volta teus sditos razo e submisso lembrando-lhes o temor de Deus e o dever de piedade somente esses sentimentos podem apaziguar um povo insurreto. Faztambm correr o boato de que os chefes da insurreio agem apenas emseu interesse pessoal e pretendem reinar como dspotas s custas dainfelicidade e do sangue de seus seguidores, e que tm a inteno de nadapartilhar (MAZARIN 1997, p. 167-8).
Por certo, a literatura escolstica tambm teve de lidar incansavelmentecom o problema dos diferentes tipos de conflito. Toda uma tradio, por assimdizer, calcada na investigao da natureza humana e na proposio da existnciade uma guerra generalizada, evoluiu na anlise das maneiras de conservao edissimulao do poder. Como foi dito anteriormente, no era preciso ler Maquiavelou Hobbes e nem mesmo Mazarin - para se pensar a questo, pois, deformas diferentes, ela estava presente na literatura antiga e na prpria experinciacotidiana.
O segundo aspecto relativo microfsica do poder destacado por BolvarLamounier refere-se ao fato de que prescries como as de Mazarin deslocavam
Marco Antonio Silveira
199
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
-
Guerra e doutrina
200
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
a dinmica da soberania para a busca individual de poder:
O que ele pretende demonstrar no apenas que o poder no fruto decausas transcendentes ou supra-individuais: que cada indivduo podeconstruir algum poder para si, visto que o poder brota direta econtinuamente de seus relacionamentos, como algo inerente multiplicidadede relaes interindividuais que constitui a vida de cada um. O tom coloquialconduz o foco do texto para situaes e relacionamentos facilmenteidentificveis, como se pretendesse demonstrar que essas interaescotidianas contm dentro de si o combustvel de que um indivduo precisapara se distinguir dos outros como um poderoso. Distinguir-se comopoderoso e preservar essa condio naquele ambiente o nico que Mazarinconhecia onde a guerra de todos contra todos parecia sempre prxima[,]mas sem chegar ao extremo de exercer ele mesmo diretamente a violncia.[...] Linguagem, como se v, que soa subjetiva e pessoal, mas que podeser plausivelmente interpretada como o reverso individual ou microssocialdaquele grande processo histrico a que chamamos de construo doEstado (LAMOUNIER 1997, p. 17-8).
Numa perspectiva especificamente foucaultiana, a questo assimcolocada:
O indivduo um efeito do poder e , ao mesmo tempo, na mesma medidaem que um efeito seu, seu intermedirio: o poder transita pelo indivduoque ele constitui (FOUCAULT 1999, p. 35).
A anlise de Hespanha, ancorando-se na historicidade das formasinstitucionais, abre-se tambm para a perspectiva das relaes de poder comomicrofsica e controle de si. Em linhas gerais, possvel afirmar que o quadro depluralidade de poderes vigente na sociedade corporativa lusa, caracterizadopela incapacidade da Coroa de impor-se como o Leviat, articulava-seintimamente com o desenvolvimento de mecanismos de autocontrole: onde asoberania do Estado no conseguia realizar-se, a soberania de si desempenhavaum papel fundamental. A doutrina corporativa e a prudncia como prtica polticaprocuravam moldar as relaes sociais e individuais atravs de um discursocapaz de dar sentido existncia da sociedade e de promover uma concorrnciaque exigia de cada um o domnio sobre si mesmo. J tivemos a oportunidadede questionar at que ponto estavam os indivduos dispostos a jogar o jogoimposto pela doutrina escolstica em detrimento, por exemplo, de concepespara as quais a natureza humana seria irremediavelmente egosta. Em outrostermos, preciso avaliar historicamente se essa concepo de autoridadetornou-se de fato autoritria na Amrica portuguesa. Outro ponto que o trabalhode Hespanha nos estimula a discutir, no entanto, a diversidade de apropriaespor ele suscitadas.
H, pelo menos, dois objetos bastante pertinentes focados peloshistoriadores que se dedicam ao estudo da Amrica lusa: de um lado, afragilidade institucional; de outro, os dispositivos simblicos de controle eautocontrole. Talvez o maior risco sofrido pela historiografia seja o de exagerara extenso e a eficcia desses dispositivos a ponto de obliterar os efeitos dafragilidade institucional e a possibilidade de ocorrncia de modos alternativos de
-
entendimento do mundo. Seja como for, seria tambm um equvoco compreendero paradigma tomista como dissociado da violncia. Numa perspectivafenomenolgica e, portanto, distinta da de Foucault, Hannah Arendt, referindo-se ao livre arbtrio, colocou esse problema de maneira expressiva:
Essa identificao de liberdade com soberania talvez a consequnciapoltica mais perniciosa e perigosa da equao filosfica de liberdade comlivre arbtrio. Pois ela conduz negao da liberdade humana quando sepercebe que os homens, faam o que fizerem, jamais sero soberanos -,ou compreenso de que a liberdade de um s homem, de um grupo ou deum organismo poltico s pode ser adquirida ao preo da liberdade, isto ,da soberania. Dentro do quadro conceitual da Filosofia tradicional, defato muito difcil entender como podem coexistir liberdade e no-soberania,ou, para express-lo de outro modo, como a liberdade poderia ter sidodada a homens em estado de no-soberania. Na verdade, to poucorealista negar a liberdade pelo fato da no-soberania humana como perigoso crer que somente se pode ser livre como indivduo ou comogrupo sendo soberano. A famosa soberania dos organismos polticossempre foi uma iluso, a qual, alm do mais, s pode ser mantida pelosinstrumentos de violncia, isto , com meios essencialmente no-polticos.Sob condies humanas, que so determinadas pelo fato de que no ohomem, mas so os homens que vivem sobre a terra, liberdade e soberaniaconservam to pouca identidade que nem mesmo podem existirsimultaneamente. Onde os homens aspiram a ser soberanos, como indivduosou grupos organizados, devem se submeter opresso da vontade, sejaesta a vontade individual com a qual obrigo a mim mesmo, seja a vontadegeral de um grupo organizado. Se os homens desejam ser livres, precisamente soberania que devem renunciar (ARENDT 1972, p. 212-3).
Arendt, tomando a isonomia ateniense e a repblica romana como prticaspotencialmente crticas frente filosofia poltica de matriz platnica, identifica apluralidade da ao, ao lado do labor e do trabalho, como componentes dacondio humana e no da natureza humana. Se bem que se possa questionaro tipo de apropriao feita pela autora da experincia poltica greco-romana,bem como as consequncias de sua persistente vinculao ao pensamentoaristotlico, o fato que a problematizao de Hannah Arendt exige que oshistoriadores estejam atentos as suas prprias opes tericas (ARENDT1981).12
Na apropriao do trabalho de Hespanha, pensando numa dimensopropriamente epistemolgica, o mais problemtico seria, afastando-nos dasquestes fundamentais da historicidade institucional e da atuao de dispositivossimblicos, acreditar implicitamente na maldade da natureza humana e nainevitabilidade da soberania. Nessas condies, paradoxalmente, o tema daguerra seria constantemente reposto como fato natural, e no cultural. Estudar,portanto, a guerra como um modelo cultural que atravessa as sociedadescoloniais, longe de ser anacrnico, implica a possibilidade de desnaturalizar oprprio discurso soberano e de compreender como ele foi engendradohistoricamente.
Marco Antonio Silveira
201
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
12 Sobre a crtica s consequncias da persistncia do modelo aristotlico no pensamento de Arendt,feita na perspectiva da filosofia pragmtica, cf. SENNETT 2009.
-
Guerra e doutrina
202
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
Ser e dever serPaulo Csar de Souza, em posfcio traduo do livro Alm do bem e do
mal, chama a ateno para a crtica que Sigmund Freud fez a Friedrich Nietzsche:O que nos perturba ele ter transformado o em um deve (SOUZA 1999,p. 256). A observao relaciona-se ao fato de a filosofia nietzscheana serconsiderada uma espcie de inverso da perspectiva platnica caminho bastanteexplorado posteriormente por Foucault. Falando de modo esquemtico, seautores como Plato, Aristteles, Santo Agostinho e Toms de Aquinoidentificaram o que marcadamente conflituoso, procurando subordin-lo amodelos morais aptos a fixar o que deve ser, Nietzsche e Foucault denunciaramessa operao de poder focando, cada um sua maneira, a multiplicidade dascorrelaes de fora. A crtica de Freud adverte sobre a possibilidade de que dopensamento de Nietzsche resulte aquela associao entre nomos e physismencionada por Ginzburg, bem como a emergncia de um direito natural dosmais fortes. Quanto aos historiadores, so inmeras as armadilhas que noslevam a reificar tanto o quanto o deve.
Partindo do pressuposto de que o sculo XIX teve de se haver com a
corroso da autoridade fundada na filosofia tradicional, Hannah Arendt enxergouem obras como as de Nietzsche, Marx e Kierkegaard tentativas de articular umnovo pensamento capaz de dar conta da dinmica do mundo moderno, masdentro de certos limites:
Kierkegaard, Marx e Nietzsche so para ns como marcos indicativos deum passado que perdeu sua autoridade. Foram eles os primeiros a ousarpensar sem a orientao de nenhuma autoridade, de qualquer espcie quefosse; no obstante, bem ou mal, foram ainda influenciados pelo quadrode referncia categrico da grande tradio (ARENDT 1972, p. 56).
Para a autora, tais limites resultaram de certa inverso conceitual frenteao legado de matriz platnica:
O salto de Kierkegaard da dvida para a crena consistiu em uma inversoe distoro da relao tradicional entre razo e f. Foi a resposta moderna falta de f, inerente no omnibus dubitendum est de Descartes,com sua subjacente desconfiana de que as coisas poderiam no sercomo parecem e de que um esprito maligno poderia conscientemente epara sempre ocultar a verdade das faculdades humanas. O salto de Marxda teoria para a ao, e da contemplao para o trabalho, veio depois deHegel haver feito da Metafsica uma Filosofia da Histria e transformado ofilsofo no historiador a cuja visada retrospectiva o significado do devir edo movimento no do ser e da verdade revelar-se-ia afinal. O salto deNietzsche do no-sensvel das idias e da medida para a sensualidade davida, seu Platonismo invertido ou transvalorao dos valores, comodiria ele prprio, foi a derradeira tentativa de se libertar da tradio, eteve xito unicamente ao pr a tradio de cabea para baixo (ARENDT1972, p. 57).
-
As observaes de Arendt so decisivas, dentre outros motivos, porquenos alertam para a possibilidade de, mesmo escapando a reificaes,permanecermos presos armadilha da ltima instncia derivada da distinotradicional entre alma e corpo, lei e violncia. Por um lado, a guerra seria, emltima instncia, o motor da sociedade; por outro, seria a doutrina. Podemosencarar as sociedades coloniais ora afirmando que as normas jurdico-polticaseram capazes de subordinar e integrar as discrdias, ora asseverando que asltimas desagregavam qualquer possibilidade de ordem. Mais uma vez, osubstrato de tais anlises consistiria em determinadas concepes da naturezahumana, disputando-se se o homem seria mais afeito ao egosmo ou modelagem social. De uma forma ou de outra, ambas as tendncias resultamde apropriaes de temas j colocados na Antiguidade. A noo de luta declasses deveu muito ao conhecimento que Marx tinha da experincia e dopensamento greco-romanos. Esse um ponto crucial, pois sugere que oentendimento da sociedade como luta faccional era amplamente possvel duranteo Antigo Regime o debate sobre as formas de governo paradigmtico nessesentido. Em outras palavras, no era preciso ser marxista para se pensar a idiade que a guerra podia explicar a sociedade. No que diz respeito a Marx, HannahArendt, numa abordagem prxima da adotada em Origens do totalitarismo,afirma:
Ser a violncia a parteira da Histria significa que as foras ocultas dodesenvolvimento da produtividade humana, na medida em que dependemda ao humana livre e consciente, somente vm luz atravs de guerrase revolues. Unicamente nestes perodos violentos a Histria mostra suaautntica face e dissipa a nvoa de mera conversa ideolgica e hipcrita.Novamente, o desafio tradio evidente. A violncia , tradicionalmente,a ultima ratio nas relaes entre naes e, das aes domsticas, a maisvergonhosa, sendo considerada sempre a caracterstica saliente da tirania.(As poucas tentativas de salvar a violncia do oprbrio, principalmente porparte de Maquiavel e de Hobbes, so de grande relevncia para o problemado poder e extremamente esclarecedoras para a antiga confuso de podercom violncia, mas exerceram influncia notavelmente diminuta sobre atradio de pensamento poltico anterior nossa poca) Para Marx, pelocontrrio, a violncia, ou antes a posse de meios de violncia, o elementoconstituinte de todas as formas de governo; o Estado o instrumento daclasse dominante por meio do qual ela oprime e explora, e toda a esfera daao poltica caracterizada pelo uso da violncia (ARENDT 1972, p. 49).
A historiografia dedicada ao estudo da Amrica portuguesa, uma vez quese encontra profundamente mergulhada nos pressupostos desse debatefilosfico, gira em torno de si mesma, ora destacando a ordem, ora evocando adesordem. As leituras de Hannah Arendt contribuem para que se percebam asconsequncias advindas da transformao da guerra e da doutrina em filosofiasda poltica e da histria. Se o objetivo do historiador no o de desvendar ossupostos meandros da natureza humana, sempre pertinente tratar guerra edoutrina como modelos de compreenso e de ao social, e no como essnciasou instncias ltimas: a guerra est na doutrina e a doutrina est na guerra.Acima de tudo, como ensinam alguns antroplogos culturais, relaes desse
Marco Antonio Silveira
203
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
-
Guerra e doutrina
204
histria da historiografia ouro preto nmero 04 maro 2010 178-233
tipo no podem ser generalizadas como um problema da humanidade, vistoque parte expressiva das sociedades do passado e do presente no seestruturaram em torno da noo de polmos (SAHLINS 2008). Nossas prpriaspolmicas historiogrficas no fariam sentido em grande parte do mundo.
Maquiavel nos d um outro exemplo das condies que estruturam essatradio polmica em A arte da guerra. O texto apresenta um dilogo em queCosme Rucellai e Fabricio Colonna discutem sobre a importncia de seguir osexemplos dos antigos. O argumento de Fabricio que os prncipes deveriamaprender com a Antiguidade que a guerra no deve ser feita por soldadosmercenrios ou profissionais, mas por cidados. Para ele, a repblica romanateria degenerado quando a guerra deixou de ser movida em benefcio da ptriapara tornar-se refm dos interesses privados e faccionais (MAQUIAVEL 1982,p. 15-42). O dilogo demonstra que Maquiavel foi rejeitado em algumasmonarquias europias no apenas pelo suposto realismo, mas tambm porconsiderar que somente na repblica o perigo da guerra civil poderia ser superadopelo envolvimento dos cidados com a ptria. Assim, Maquiavel foi proscrito daPennsula Ibrica porque seu trabalho representava um ponto de vista crticoem relao monarquia escolstica. Para o pensador florentino, a organizaodas monarquias crists, ao reforar as distines polticas entre indivduos egrupos, achava-se vulnervel guerra faccional. Ademais, interessante retomaralgumas das regras gerais sobre a guerra que Fabricio Colonna apresenta:
O que favorece o inimigo me prejudica; o que me favorece prejudica oinimigo.Nenhum mtodo melhor do que aquele que o inimigo no percebe at oadotarmos.Na guerra, reconhecer a oportunidade e aproveit-la vale mais do quequalquer outra coisa.Na guerra, a disciplina vale mais que o mpeto.Dificilmente ser vencido quem souber avaliar suas foras e as do inimigo.Muda de deciso quando perceberes que o inimigo a descobriu.Convm nos aconselharmos com muitos a respeito das coisas que devemosfazer; depois devemos confiar a poucos aquilo que queremos fazer.Os acidentes repentinos so resolvidos com dificuldade; os que foramprevistos, facilmente (MAQUIAVEL 1982, p. 37-8).
H uma clara semelhana entre o que Maquiavel aconselhava a respeitoda guerra e o que Mazarin props como preceitos: simular e dissimular. Essaproximidade no exatamente surpreendente, visto que inmeras metforassempre transitaram entre os universos blico, poltico e religioso. Mas pelomenos duas observaes devem ser feitas. Uma delas se refere distinoentre o espao pblico da plis grega e o ambiente de corte experimentado porMazarin. A ameaa de que as multides fossem carregadas pelas armadilhasretricas no equivalia s tticas de instrumentalizao propostas pelo primeiro-ministro francs para o contexto do Antigo Regime. Simular e dissimular, comosabia qualquer ministro ou governador da Amrica portuguesa, implicavam, nolimite, uma espcie de guerra fragmentada e cotidiana. A outra reserva redundada prpria crtica de Maquiavel segundo a qual somente o amor ptria colocaria
-
o bem comum acima dos interesses faccionais: onde tais condies noestivessem dadas, a guerra no seu sentido externo invadiria a prpria sociedade.Desse ponto de vista, as mximas de Mazarin ensinavam como sobreviver numquadro velado de guerra civil. A relao entre a guerra cotidiana fragmentada e, portanto, distinta dos espaos pblicos tradicionais e o controle sobre si melhor entendida pelo panptico estudado por Foucault (1984). Se, para almde sua eficcia em escolas, prises, hospcios e quartis, tomarmos o panpticocomo a vigilncia de si mesmo, as palavras de Mazarin tornam-se mais fortes.Simular e dissimular, produzir uma representao que oculte intenes e vciosdos indivduos, demandam a elaborao paulatina de um olhar que vigia e puneas prprias aes. Nesse caso, porm, a tirania do apetite descrita por Plato substituda pela tirania da razo. E essa tirania do panptico, como conjuntoheterogneo de tticas e dispositivos, identifica-se com a soberania da razode Estado.
Existe uma especificidade francesa na fala de Mazarin, expressa emacontecimentos como os das guerras de religio do sculo XVI e os dos conflitosdo XVII. As Frondas (1648-1653) foram sofridas diretamente pelo cardeal.Hobbes, por sua vez, encontrava-se na Frana quando Henrique IV foiassassinado em 1610. Reinhart Koselleck descreveu com perspiccia a situaodo perodo, relacionando o pensamento hobbesiano e a evoluo histrica naFrana, marcada pela consolidao monrquica depois de vencidas as principaisameaas internas:
Para Hobb