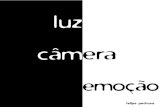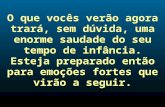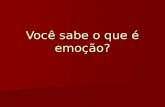Emoção e ternura a arte de ensinar
-
Upload
fatimalaranjeira -
Category
Education
-
view
1.165 -
download
1
Transcript of Emoção e ternura a arte de ensinar

Emoção e Ternura: a Arte de Ensinar
Profa Dra Maria Luiza Cardinale Baptista
Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (ECA/USP), Professora do Centro de Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS), Professora do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Diretora da Pazza Comunicazione, Brasil.
O presente texto apresenta algumas considerações a respeito do desafio
de agenciar a relação de ensino-aprendizagem, de modo terno e, ao mesmo
tempo, emocionante. Desafio que consome o cotidiano de educadores, no
sentido de enfrentar o encontro com os alunos. Estes são sujeitos, ao mesmo
tempo, ávidos de saberes do mundo e de desejo de orientação para a vida e
‘contaminados’ com uma espécie de metralhadora de outros desejos,
insatisfações e ansiedades, que os fazem dispersos, desatentos e, pior, muitas
vezes, desanimados. A proposta, então, é a composição do processo de
interações com os alunos, como a ‘arte’, no sentido de uma produção
cuidadosa, engendrada com esmero, para deleite de tantos quantos entrarem
em contato com ela. Arte de vida e de conhecimento, que só é possível se o
sujeito for mobilizado através da emoção. Assim, as ações ternas, os
movimentos suaves e ‘cuidadores’ podem nos ajudar a construir o processo,
conforme o Outro, conforme o desejo de movimento de nossos alunos.
Este texto, preparado especialmente para um encontro meu com
educadores, faz parte de um processo, de ensaio, eu diria, para a consolidação
de um livro com o que venho chamando “Oficinas Malucas”. Trata-se de um
texto maior, em que vou apresentar o conjunto das oficinas que venho
trabalhando com os alunos, durante anos. Há algo que desejo ressaltar, no
entanto. Algo que me contém. Não tenho, em absoluto, a pretensão de querer

ensinar a ensinar. Não queria, e não quero, apresentar minhas aulas como
manual, como modelo, mas como uma proposta de aproximação terna e de
acionamento dos afetos, do desejo de aprender, aprender para a vida.
Então, o que venho lhes propor é uma possibilidade do ‘fazer comunicar’
em que acredito. Não lhes ofereço uma resposta conclusiva à carência de
cuidado com o ‘outro’ (qualquer ser, ou sujeito). Entendo que, como pessoas e
Educomunicadores, hoje percebemos na área da Comunicação Social como
passível de contribuir para os processos de ensino-aprendizagem, a partir das
suas ingerências no cotidiano dos seres envolvidos nos processos. Mais que
isso, a contribuição pode existir, já que o próprio processo de interação com o
aluno é um processo comunicacional. Interação de subjetividades.
O convite é que nos lancemos nesse vôo juntos, mas que este seja
apenas o primeiro de uma série de outros, vôos cúmplices entre nós, através
de nossas próprias experiências empíricas e de saberes múltiplos, em relação
ao processo comunicativo. Neste sentido, o conteúdo de Psicom1 ajuda muito,
é verdade, mas penso que os pressupostos vivenciados podem orientar
bastante a prática de educadores, para que, cada um do seu jeito, com seus
saberes e suas idiossincrasias, possa construir propostas de interações
afetivas, que sejam fortes o suficiente para desacomodar os alunos do
chamado pacto da mediocridade – em que o professor finge que ensina, o
aluno finge que aprende e, no final do semestre ou do ano, ambos livram-se
uns dos outros e ninguém “se incomoda”.
1 O termo aqui é utilizado para se referir ao entrelaçamento Psicologia e Comunicação, abordagem que
tenho feito nas minhas pesquisas e conhecimento que vem sendo aprimorado, ao longo dos últimos 15
anos, no ensino da disciplina Psicologia da Comunicação, na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA),
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e, mais recentemente, no Seminário Psicologia e
Comunicação, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Parece interessante ressaltar, como ponto de partida, que o alcance do
êxito no processo comunicativo não é tarefa fácil. É um desprender-se de si, e
ir ao encontro do universo de um outro. E mais que isso, nas interações de
ensino-aprendizagem, tem-se a incumbência de contribuir para que esse
sujeito aluno produza sentido, a partir do processo comunicativo. No caso do
educador, para alcançar esse êxito, não é possível apenas irradiar seu
conhecimento. O que está em jogo é o agenciamento de envolvimento na
interação, de tal forma que, com cuidado, possamos estar ativando afetos,
desejos, conhecimentos devires nos nossos sujeitos interlocutores.
Algo que tem me orientado, neste sentido, é que comunicação e
educação são processos desencadeados a partir de relações afetivas,
intensas, vibrantes, que não podem, nunca, significar acomodação. Na
complexidade das interações entre os sujeitos, a informação é algo que dá uma
nova forma à existência, que ajuda e instaura o processo de reinvenção do
próprio ser que interage. Se não for assim... não tem sentido, não faz sentido,
não agrega valor à vida, é nada. Se o dado informacional não provocar a
reinvenção da trama informacional que é cada sujeito, ele não produz
comunicação, ação de tornar comum. Ele redunda e o sujeito paralisa ou, no
mínimo, não se movimenta, não produz vida.

Um pouco de teoria
Convém deixar claro que, quando falo de emoção, refiro-me ao conceito
trabalhado por MATURANA2 (1998), que não o opõe à razão, mas o coloca
como algo que está na essência do ser humano e de suas ações. Ele
apresenta o conceito de emoções da seguinte maneira: “… são disposições
corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação em que nos
movemos. Quando mudamos de emoção, mudamos de domínio de ação”
(MATURANA, 1998, p. 15). O autor questiona a desvalorização da emoção
pela nossa cultura e explica que isso faz com que não consigamos perceber o
entrelaçamento entre emoção e razão, “… que constitui nosso viver humano, e
não nos damos conta de que todo sistema racional tem um fundamento
emocional”. MATURANA ensina que todo o sistema racional é constituído a
partir de operações com premissas previamente aceitas, a partir de uma certa
emoção.
Os conceitos de MATURANA reforçam em mim a compreensão de
estreito vínculo entre a produção da pesquisa, da Ciência, e o viver e, mais que
tudo, o emocionar-se. E essa emoção como algo que, associado à linguagem,
distingue o ser humano em relação aos outros seres. Eu tenho dito muitas
vezes aos meus alunos e pesquisadores: “O conhecimento que vale é o que
corre nas nossas veias”. Refiro-me ao conhecimento, que, como nosso sangue,
conduz o oxigênio que nos põe vivos, que nos faz renascer a cada instante. E,
claro, isso só é possível como resultado da interação com o Outro, como
resultado da produção da linguagem. 2 Biólogo chileno, uma das principais referências da contemporaneidade. Autor da teoria que ele mesmo chama de Biologia do Conhecimento ou Biologia Amorosa. Abre a possibilidade de compreensão do entrelaçamento biológico e social ou cultural do humano.

O peculiar do humano não está na manipulação, mas na linguagem e no seu entrelaçamento com o emocionar (…) O humano se constitui no entrelaçamento do emocional com o racional. O racional se constitui nas coerências operacionais dos sistemas argumentativos que construímos na linguagem, para defender ou justificar nossas ações. Normalmente, vivemos nossos argumentos racionais sem fazer referência às emoções em que se fundam, porque não sabemos que eles e todas as nossas ações têm um fundamento emocional, e acreditamos que tal condição seria uma limitação ao nosso ser racional. Mas o fundamento emocional do racional é uma limitação? Não! Ao contrário, é sua condição de possibilidade […] (MATURANA, 1998, p.p. 18-19).
Para trabalhar o acionamento da emoção dos sujeitos no processo de
ensino-aprendizagem, fundamento-me, também, no conceito de desejo, com
base em Guattari (1981,1986,1987,1992) e Rolnik (1986,1989). Desejo como
movimento de acionamento da potência do sujeito, condição em que este
sujeito se coloca em busca do prazer, porque acredita que pode, que tem
chances de conseguir obtê-lo. A fala de Kehl (1990, p.366-367) ajuda a
esmiuçar o conceito:
A alegria de desejar depende de uma certa dose de confiança no real, uma certa quantidade de experiências de gratificação que permitam esperar que esse lugar externo ao psiquismo para onde se espraia a ‘fome do mundo’ seja um lugar de onde possa vir alguma espécie de prazer e alguma espécie de confirmação, de aplacamento, pelo menos temporário, de minhas indagações.
Pensar o desejo como potência é entender que isto envolve acreditar no
real e, neste sentido, são fundamentais experiências de gratificação. Para a
relação de ensino-aprendizagem, esta me parece uma pista importante. Os
alunos têm que vivenciar o conhecimento, têm que saboreá-lo, em experiências

prazerosas, associando-o a sua vida, a sua realidade. É preciso que o
processo os afete de alguma maneira, no sentido de tocar-lhes os afetos, de
sensibilizá-los para este tipo de conhecimento e da importância de se deleitar
com a busca da compreensão do mundo e de sistematização dessa produção.
A esquizoanálise ensina a compreender o sujeito como ser complexo
que se produz no entrelaçamento de muitos agenciamentos. Sujeito singular
que se constitui como decorrência de uma trama de relações. Essa produção
desejante pode ser compreendida através da observação das ‘linhas da vida’,
apresentadas por Rolnik com base em Guattari. A primeira linha é a dos afetos,
da sensibilidade. Esta linha resulta do movimento do encontro de corpos, no
processo de transformação das existências. Um encontro que não significa
equilíbrio ou destruição dos corpos que se encontram, mas aciona um trânsito
para fora da ordem. O sujeito perde o chão de si mesmo. Sai da condição
anteriormente conhecida, do seu território emocional, para lançar-se ao
desconhecido, resultante dos encontros de existências.
O processo de ensino-aprendizagem, então, pode ser interessante, na
medida em que conseguir produzir movimento desestabilizador, inquietante.
Quando o aluno rejeita o processo, o conhecimento, ele pode simplesmente
construir uma espécie de escudo protetor, refratário à informação, ao fluxo de
significados. Pode cristalizar a impotência ou, pior, negar-se ao envolvimento.
Resigna-se ao estudo como “entulho de currículo”, como chamei em outro texto
(BAPTISTA, 2003), e não deseja nada mais que o tempo passe, o semestre
termine e ele esteja mais perto do mundo do prazer, as férias, ou, no máximo,
as disciplinas práticas, relacionadas ao viver-fazer, e não apenas ao pensar,
elucubrar.

O acionamento do desejo implica, então, em construir a partir do mundo
dos alunos. Mundo das linhas de fuga do território, das linhas de simulação e
das linhas de retorno ao território. Linhas de fuga, aqui, representam não o
abandono, mas a busca de reinvenção. Algo como o vôo para fora da ordem....
a tentativa de reinventar a si mesmo e, ao mesmo tempo, o conhecimento do
mundo que se tem. O “território” é o ‘já conhecido’, uma condição em que as
pessoas se sentem acomodadas ao que é preestabelecido, em termos de
conhecimento e de modelos de interação, de aprendizagem. Eu poderia dizer,
de uma maneira simples, que o território é o ‘jeito de as coisas funcionarem
consolidado ao longo do tempo’. Neste sentido, sinto que é preciso
desacomodar os alunos dos seus territórios, das suas certezas e, com essa
inquietude, produzir movimento de construção de aprendizagem. Convidá-los,
intensa, mas ternamente, para a aventura humana do conhecimento. Esta, sem
dúvida, desestabiliza, mas tem, também, a potência da ressignificação de nós
mesmos. Ao final, se sabe, os riscos valem a pena.
Depois da desterritorialização, com o acionamento das linhas de fuga,
surgem as linhas de simulação. Estas são, igualmente, bastante interessantes,
pois representam a negociação entre o campo dos afetos e o dos territórios, da
consciência. É o momento em que o sujeito começa a propor, para si mesmo,
soluções para a desestabilização provocada anteriormente. Em seguida, ele vai
poder alegrar-se com a novidade, em si, com a condição diferente, por ter
compreendido algo novo, por ter aprendido. Percebo, assim, que é preciso
mobilizar o sujeito inteiro, fazer com que ele deseje colocar-se em movimento,
em um curso de conhecimento, muito mais que em uma ‘disciplina’. Curso de
vida, que produz vida.

Neste ponto, outro conceito é crucial, como pressuposto, para o trabalho
que realizo e que proponho: o de autopoiese. O elemento complementar
‘poiese’ vem do grego e significa criação. Então, temos, na composição da
palavra autopoeise, o significado de autocriação. Interessante que Guattari nos
fala da subjetividade maquínica, produzida por agenciamentos múltiplos e
Maturana, autor do conceito de autopoiese, também usa a metáfora da
máquina.
Uma máquina autopoiética é uma máquina organizada como um sistema de processos de produção de componentes concatenados de tal maneira que produzem componentes que: I) geram os processos (relações) de produção que os produzem através de contínuas interações e transformações, e II)constituem à máquina como uma unidade no espaço físico. [...]uma máquina autopoética continuamente especifica e produz sua própria organização através da produção de seus componentes, sob condições de contínua perturbação e compensação dessas perturbações (produção de componentes). (MATURANA e VARELA, 1997, p.71).
O conceito tem estreita relação com os processos desencadeados nos
processos de ensino aprendizagem a que me referi. Processos autopoiéticos
são agenciados, de tal forma que o aluno vai se reinventando, vai se recriando
nas interações múltiplas produzidas, constituindo-se um ser produtivo de
conhecimento e de si mesmo, diferente. Observo, nas vivências cotidianas, o
amadurecimento, a transformação de alunos que vão aprendendo a significar a
compreensão profunda da Comunicação, nos seus complexos processos, no
seu caráter sistêmico. A possibilidade de recriação e de participação como
sujeitos do processo muda tudo, muda o teor dos conceitos, muda a teoria. Ela
passa a fazer sentido nas práticas comunicacionais contemporâneas, pelo

modo como são percebidas pelos alunos e pela professora, em interações
parceiras.
A cumplicidade experenciada vai nos ensinando, também, que a
produção do ‘conhecimento-vida’, conhecimento vibrante e mobilizador, é algo
produzido nas interações afetivas, ternas. “O que nos caracteriza e diferencia
da inteligência artificial é a capacidade de emocionar-nos, de reconstruir o
mundo e o conhecimento a partir dos laços afetivos que nos impactam.”
(RESTREPO, 1998, p.18).
A fala do psicanalista colombiano, Luís Carlos Restrepo, neste sentido, é
encantatória. Em seu livro, intitulado O Direito à Ternura, ele reflete sobre o
que chamou de analfabetismo afetivo e cognição afetiva, noções tão
importantes, em particular, quando se pensa no ensino das Teorias da
Comunicação. No texto sobre a cognição afetiva, ele lembra, por exemplo, que
nem sempre houve dissociação entre a afetividade e o conhecimento
intelectual. Resgata um termo do original grego do Novo Testamento, quando
os evangelistas, ao se referirem à dimensão milagrosa de Cristo, utilizam a
palavra splacnisomai, “[...]que corresponde à conjugação de um verbo
desaparecido no século II e III de nossa era e que hoje poderíamos traduzir
literalmente como ‘sentir com as tripas’”. (RESTREPO, 1998, p.30).
Ensinar, assim, deixa de ser algo ligado à representação, à cognição no
sentido de reprodução do já existente e passa a ser o ato de promover enação,
a partir da intensidade das interações e dos processos autopoiéticos. Varela
ensina que a enação ultrapassa a dimensão de representação de um mundo
preexistente e implica em reinvenção. Associando o pensamento de Restrepo,
eu poderia dizer que o processo de enação resulta do movimento de

aprendizagem que se produz através de uma emoção visceral. Sentimos com
as tripas, enquanto reinventamos o próprio conhecimento.
A enação em seu sentido mais forte e inédito constitui-se em invenção de mundos. Neste sentido, é possível considerar que enação é uma forma de ir constituindo novos corpos, novos mundos na medida que os problemas vão se colocando. E, portanto, aprender é articular mente e corpo, fazer com que o organismo e o meio se sintonizem. Isto significa encarnar ou inscrever no corpo a aprendizagem. (FERREIRA, 1998, p.101).
Considerações finais
Ficam aqui, então, algumas provocações para início de conversa, já que
a proposta é sempre essa: agenciar comunicações ‘com-verso’, no sentido de
versos que se produzem com poesia, com a intensidade afetiva dos textos
poéticos. Autopoiese. Autopoiese decorrente de processos comunicacionais
ternos. Emoção de interagir com, cada vez mais, pessoas e sentir-se
provocado e mobilizado para aventurar-se a outros encontros, de saberes, de
saberes vida, como eu venho chamando. Então, eu espero vocês, para o ‘com-
tato”, [email protected] e www.pazza.com.br.

BIBLIOGRAFIA
BAPTISTA, Maria Luiza Cardinale. Disciplinas Teóricas: de entulho de currículo a campo do desejo e autopoiese. In: VI FÓRUM NACIONAL DE JORNALISMO, 2003, Natal. Anais eletrônicos CD ROM. FERREIRA, Lígia Hecker. O Mal-Estar na Escola. Uma Pragmática Ético-Estética. Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica. PUCSP, São Paulo, 1998. KEHL Maria Rita. O Desejo da Realidade. In: NOVAES, Adauto (org.). O Desejo. São Paulo-Rio de Janeiro: Companhia das Letras-Funarte, 1990. GUATTARI, Félix. Caosmose. Um Novo Paradigma Ético-Estético. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992. ______. O Inconsciente Maquínico. Campinas:Papirus,1981. ______. Revolução Molecular. Pulsações Políticas do Desejo. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. ______ e ROLNIK, Suely. Cartografias do Desejo. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1986. MATURANA, Humberto. Emoções e Linguagem na Educação e na Política. Belo Horizonte: UFMG, 1998. MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. De máquinas e seres vivos: autopoiese, a organização do vivo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. RESTREPO, Luis Carlos. O Direito à Ternura. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental. São Paulo: Liberdade, 1989.