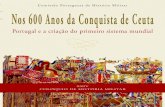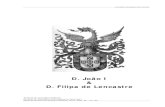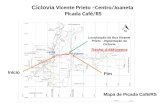Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etológicos, psicológicos e culturais dos...
-
Upload
aluysio-athayde -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etológicos, psicológicos e culturais dos...
-
8/10/2019 Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etolgicos, psicolgicos e culturais dos valores_Marina Prieto
1/10
ANTROPOlgicas2011, n 12, 9-18
Empatia, teoria da mente e linguagemFundamentos etolgicos, psicolgicos e culturais dos valores
Marina Prieto Afonso LencastreProfessora Catedrtica, UFP
RESUMODiscutem-se os valores relativamente s suas dimenses etolgicas, psicolgicas e culturais. A diversidade moral
associada distino entre humanos e no humanos entendida como o resultado de disposies etocognitivas,sociais e culturais condicionando a emergncia dos diferentes regimes culturais aplicados vida social e ambiental.As narrativas morais permitem o alargamento destas disposies aos contextos expandidos da actualidade.
PALAVRAS-CHAVE: empatia social, teoria da mente, diversidade cultural, narrativas, valores.
ABSTRACTValues are discussed in their ethological, psychological and cultural dimensions. Moral diversity, associated
to the distinction of humans and non humans, is understood as resulting from ethocognitive, social and culturaldispositions. These latter condition the emergence of different cultural regimes. Moral narratives allow the enlar-gement of these dispositions to contemporary extended social and environmental contexts.
KEYWORDS: social empathy, theory of mind, cultural diversity, narratives, values.
1. Introduo
As situaes contemporneas confrontam-nos comproblemas inditos na histria da humanidade: des-de as questes da biotica at aos novos problemassociais e ambientais, todos apelam conscincia de-liberativa no sentido de escolher o melhor bem. Masestas situaes levantam problemas de percepo e decompreenso a muitos nveis. Impem-se em cenriosdistantes no tempo e no espao, resultam muitas vezesde situaes complexas e no inteiramente claricadaspelos conhecimentos disponveis, no coincidem com
os nossos sistemas valorativos e de aco tradicionais.Pessoas distantes, em situaes de catstrofe, entramno nosso espao ntimo, a pobreza e o sofrimento, hu-mano e animal, aigem-nos, espcies em vias de extin-o do-nos o sentimento de uma perda fundamentalna natureza, ecossistemas ameaados, manipulaesgenticas e o desenvolvimento macio do tecnocos-mos pem-nos face a um mundo incompreensvel, oaquecimento planetrio pesa como uma ameaa. To-dos estes fenmenos colocam-nos face a um planetafrgil que acorda em ns sentimentos morais1. Estes
1 Distinguiremos os conceitos de tica, moral e valores. A tica cor-responde procura dos fundamentais (loscos, espirituais) dasnossas prticas morais. Moral corresponde aos nossos comportamen-tos baseados nos valores. Os valores constituem referncias emocio-nais e cognitivas que levam aco moral. Os valores sustentam-senas experincias sensveis e intencionais do corpo e nas culturas.
acompanham-se frequentemente de uma sensao deimpotncia face magnitude dos problemas que en-frentamos e, muitas vezes, rompem com hbitos com-portamentais, mentais e culturais que no permitemuma percepo directa sobre o seu grau de necessida-de moral e sobre a aco prtica que ela implica. Noentanto, a evidncia da ligao entre pessoas, socieda-de e ambiente nunca foi to bvia, e tambm nuncafoi to necessria a interveno colectiva e individualpara diminuir o impacto global sobre o ecossistematerra, e os seus habitantes. Como desenvolver uma ti-ca social e ambiental nos novos contextos expandidos,
complexicados e transformados do sculo XXI?Vivemos num mundo em que as questes ticasesto globalizadas, mas as condies psicoetolgicaspara a experincia da necessidade moral no so hojemuito diferentes daquelas que caracterizaram ummundo humano de mais pequena escala. Continuamosa escolher pertencer a pequenos grupos e as nossastendncias altrustas tendem a beneciar, em primeirolugar, os nossos familiares, de seguida o nosso grupoe s depois a comunidade mais alargada, incluindo,ou no, a biosfera. No entanto, a situao do planeta eda humanidade actual modicou drasticamente o ce-nrio evolutivo dos milnios anteriores. Confrontamo--nos hoje com um mundo de grande escala que nos apresentado quotidianamente atravs dos meios decomunicao social. O grupo de pertena alargou-se eidenticamo-nos hoje com os humanos que vivem nosantpodas quase tanto como nos identicamos com os
-
8/10/2019 Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etolgicos, psicolgicos e culturais dos valores_Marina Prieto
2/10
10
vizinhos que vivem ao nosso lado. Todos passarama fazer parte do grupo alargado da humanidade. Osmovimentos de solidariedade colectiva a que assisti-mos com frequncia e a reexo contempornea sobrea aldeia global reectem essa identicao.
A natureza, por sua vez, tambm entrou de vez nasnossas preocupaes e percebemos que o nosso bem--estar se obtm, muitas vezes, custa da beleza e daintegridade dos ecossistemas. Uma nova revernciacresce face natureza ameaada e os tempos actuaisassistem re-emergncia de tradies de pensamentoantigas, em que as dimenses emocionais, racionais ede aco se encontravam ainda ligadas entre si e aotodo. Grupos de prticas holistas crescem um poucopor toda a parte, procurando construir novas visesdo mundo e novos valores. Tradies espirituais mi-lenares revivicam-se e transformam as pessoas, nassuas relaes a si, aos outros e ao planeta. Mas esta
procura contempornea de referncias levanta umaquesto importante: como fundament-las em valoressucientemente robustos para apoiarem a aco colec-tiva e sucientemente plsticos para incluirem, sem secontradizer, a diversidade das prticas morais?
Hoje podemos sentir, organizar-nos e agir a partirda percepo de grande escala, mas passados os pri-meiros momentos de dinamizao e de participaosolidria, tendemos a esquecer e a perpetuar os hbi-tos de pequena escala, em que os problemas globaisse tornam invisveis. Uma das principais mudanasligadas globalizao social e ambiental contempor-nea consiste na expanso da tica face a face em queevolumos na maior parte do nosso tempo logenti-co e histrico, e a sua adaptao a situaes que sodistantes, no futuro ou noutros continentes, e que, porisso mesmo, convocam reaces potencialmente maisfracas e mais efmeras. Assim, face magnitude dosnovos contextos, como manter os nossos valores enrai-zados na nossa experincia pessoal e abri-los tambm dimenso alargada?
Sabemos hoje que o comportamento moral no cor-responde, em primeiro lugar, a uma escolha racional,mas envolve as dimenses emocionais e simblicas daexperincia humana. Pela linguagem, a experincia
sentida insere-se em complexos conceptuais mais alar-gados as narrativas justicativas para a nossa acomoral que so formas integradas de pensar o mundoe o nosso lugar no seio dele, e que nos inspiram a sen-tir, a pensar e a agir de determinadas maneiras. As cos-mogonias, os mitos, as histrias de guras exemplaresso o testemunho do modo como os valores se organi-zaram e fecundaram vidas individuais concretas, pro-duzindo vises do todo e as prticas correspondentes.A autenticidade com que estas tradies milenares seimpem mostram que estas carregam intuies e co-nhecimentos experienciados no corpo e na mente, eque so projectados mais alm, numa viso ampla doreal. Possumos hoje alguns dos conhecimentos neces-srios para compreender estas relaes. Os resultadosrecentes da etologia dos primatas superiores, associa-dos aos estudos sobre o desenvolvimento da empatiae a sua ligao linguagem, narratividade e reexi-
vidade da conscincia humana, permitem-nos avanarcom elementos que juntam os resultados das cinciasdo comportamento e da mente s milenares criaesda sabedoria humana. Nos dias de hoje, a compreen-so desta ligao essencial para percebermos o po-tencial de unicao do corpo, da mente e do esprito,
com os outros e com o mundo, que ela contm.
2. Os fundamentos etolgicos dos valores
Qualquer tradio ou teoria moral prtica funda-menta as suas exigncias a partir de uma ideia sobreo que as pessoas so, e sobre a maneira como pensame actuam.
O kantismo (Kant, 1803), por exemplo, est fundadona ideia de imperativo categrico apriori e pressupea capacidade para identicar as leis morais universais
que derivam da razo prtica universal.O utilitarismo, por sua vez, que corresponde a umadas correntes principais da tica ambiental (por exem-plo P. Singer, 1975) e sustenta a maioria das teses emdefesa dos direitos animais, pressupe a capacidadepara identicar o melhor bem, assim como a capacida-de para calcular racionalmente as probabilidades derealizao desse bem.
A tica da discusso (Habermas, 1987) pressupe,por sua vez, a capacidade para o acordo intersubjec-tivo dos sujeitos racionais atravs de procedimentosargumentativos.
H. Jonas (1979), outra referncia para a tica am-biental, baseia-se na responsabilidade e na capacidadepara agir em funo do mais frgil ou do que aindano existe.
No entanto, e em resposta aos requisitos do kantis-mo, investigaes no domnio da semntica cognitivae da categorizao mostraram que a maneira comoconstrumos conceitos se afasta das noes kantianastradicionais da sucincia e da necessidade. Roschmostrou, na dcada de 70, que os nossos conceitosapresentam uma estrutura radial em torno a elemen-tos prototpicos categoria, com fronteiras mveisrelativamente aos conceitos vizinhos (Rosch, 1981).
Segundo M. Johnson (1993, 1999), o raciocnio moralbasear-se-ia na relao e elaborao imaginativas en-tre diferentes prottipos de foro moral que, atravs deprocedimentos interpretativos baseados, entre outros,na metfora e na metonmia, concorrem para a justi-cao da resposta scio-moral. O autor d o exem-plo das categorias de mentira/meia verdade/menti-ra branca/mentira para ajudar, que correspondema conceitos cujas fronteiras no so estveis e podemoriginar respostas scio-morais muito diferentes.
Outras investigaes recentes mostraram que osclculos utilitaristas so falveis porque no contem-plam regras matemticas contra-intuitivas do dia-a.dia. Este o caso da regra do pequeno nmero quediz que, numa amostra pequena, as ocorrncias extra-ordinrias tendem a acontecer, mas quando a amostra grande, essas ocorrncias desviam-se pouco da m-dia. Nos nossos raciocnios espontneos tendemos a
-
8/10/2019 Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etolgicos, psicolgicos e culturais dos valores_Marina Prieto
3/10
11
referir-nos s ocorrncias extraordinrias do pequenonmero (Gazzaniga, 2000), e esta tendncia percep-tvel nos erros de previso a partir de ocorrncias decurto prazo, que so as mais caractersticas da vidaquotidiana.
Por sua vez, e no que respeita a tica da comunicao,a anlise etolgica do comportamento verbal mostrouque qualquer tica argumentativa baseada, teoricamen-te, na racionalidade e reversibilidade dos argumentos,dever interessar-se pelos elementos emocionais, me-tafricos e rituais dos discursos, que personalizam epolarizam a discusso em torno de certos sujeitos ou acertos temas dominantes (Eibl-Eibesfeldt, 1989).
A tica translocal e transtemporal da responsabilida-de de Jonas, que alguns apelidam de tica herclea porcausa dos contextos crescentes a que pretende aplicar-se(F. Ost, 1997), deve considerar os resultados das inves-tigaes sobre a importncia dos contextos prximos
para o comportamento moral, em que a reciprocidade,o reconhecimento intersubjectivo, a probabilidade dereencontro num futuro prximo, entre outros factoresde ligao ao grupo, condicionam a resposta scio-mo-ral (Axelrod, 1990; Axelrod & Hamilton)..
Assim, para realizar os requisitos prticos dos valo-res, parece necessrio associar universalidade postu-lada pela exigncia moral, uma teoria da compreensodo sujeito que nos permita aceder aos nveis de consti-tuio da conduta moral (Thins, 1993; Johnson, 1993,1999). Esta compreenso passa pelos factores etolgi-cos, psicolgicos e culturais dos valores (Lencastre,2004, 2010). Trabalhos recentes na etologia dos prima-tas e na etologia infantil, sobre a linguagem e a emo-o e, genericamente, sobre a relao entre o corpo,a subjectividade e a reexividade, ajudam a melhorcompreender como se articulam os diferentes nveise como emerge o sujeito moral. A compreenso desteprocesso poder ajudar a diminuir a distncia entre asexigncias scio-morais de um mundo progressiva-mente mais globalizado e mais complexicado, e assituaes vividas pelos sujeitos reais. Ao invs dos sis-temas dualistas da personalidade que radicam a esferaemocional a um nvel inferior (particularista) e a esferaracional a um nvel superior (universalista), mostrare-
mos que estes dois nveis se integram de modo maiscomplexo em competncias ticas capazes de respon-derem humanamente aos desaos da vida social eambiental contempornea. As observaes etolgicas,psicolgicas e antropolgicas permitem-nos lanar umolhar renovado sobre essas relaes.
A investigao actual na primatologia aponta paraa existncia de precursores do comportamento mo-ral nos primatas no humanos que so fundados naempatia social, no sentido da reciprocidade e no al-trusmo (Byrne, 1993; Byrne & Whiten, 1990; de Waal,1996, 2006). Os contextos de ocorrncia destes com-portamentos permitem associ-los a nichos eco-sociaisonde adquirem um signicado dinmico e extensivono seio dos grupos. Nos chimpanzs, os actos de altru-smo baseados na empatia social tendem a surgir as-sociados a interaces particulares em que possvelreconhecer a atribuio de intenes e certos nveis da
imaginao social (Byrne, op.cit). Os animais so ca-pazes de desenvolver uma teoria da mente i.e., umconhecimento intuitivo das intenes dos outros e acapacidade para agirem em funo desse conhecimen-to. Uma das mais recentes evidncias da observaoetolgica consiste na descoberta, em grupos de pri-
matas superiores, de empatia emocional e cognitiva ede uma grande complexidade na comunicao. Com-portamentos de entreajuda em situaes de aio, detratamento especial aos animais feridos ou decientes,comportamentos agressivos entre familiares na se-quncia de aces prejudicando outros familiares, soexemplos conjugados de empatia e de teoria da menteque apresentam um reconhecido valor afectivo ao n-vel humano
A primatologia mostra como intrincada a manifes-tao de comportamentos diferentes num indivduo,e como complexa a teia de relaes sociais entre os
primatas, particularmente entre os chimpanzs, queso os animais mais estudados talvez porque consti-tuem a espcie mais prxima do ser humano. Chamaa ateno para o modo como convivem, no seio de so-ciedades simultaneamente conservadoras e inovado-ras, comportamentos de agresso e comportamentosde reconciliao, comportamentos de dominncia ecomportamentos de proteco, alianas e rivalidades,compaixo e indiferena, medo e ousadia, amizadese inimizades, monogamia temporria, dominnciafeminina e dominncia masculina, etc. Esta enormepaleta de comportamentos sociais que remete, porhomologia, para a anlise do comportamento socialhumano, aponta para a hiptese de que na base docomportamento moral se encontram competncias ba-seadas na inteligncia social, na empatia e teoria damente, na imaginao e na comunicao intersubjecti-va (R. Byrne, 1993; de Waal, 1996, 2006).
As clssicas categorias antropolgicas complexi-caram-se face s revelaes da etologia: o bipedismoocasional, a fabricao de utenslios, a caa cooperati-va, a partilha de alimento, o altrusmo, o evitamentodo incesto, a existncia de famlias, a cpula face-a--face, a diviso sexual do trabalho, a comunicao, asalianas polticas, os cuidados parentais, a proto-peda-
gogia. Estas categorias encontram-se ao nvel dos pri-matas no humanos, e grande parte destas categoriasso tambm reconhecveis ao nvel dos mamferos ede outros grupos zoolgicos. possvel observar, noseio desta intrincada rede de condutas sociais, com-portamentos e atitudes que evocam alguns dos funda-mentos tradicionalmente imputados moral humana,nomeadamente a cooperao e a sua chave de ouro,a reciprocidade, o altrusmo intra e interespecco, asimpatia, a empatia, a obedincia a normas sociais, apacicao e o evitamento activo do conito, o trata-mento especial aos invlidos e aos doentes, o abati-mento face morte de um prximo, a indignao jus-ta quando uma expectativa social gorada (de Waal,1996, 2006).
Assim, apesar da reciprocidade humana e do sen-tido de justia se encontrarem extremamente desen-volvidos em algumas culturas humanas actuais, eles
-
8/10/2019 Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etolgicos, psicolgicos e culturais dos valores_Marina Prieto
4/10
12
no constituem novidades absolutas do ponto de vistaevolutivo, mas sim desenvolvimentos sociais e sim-blicos e reexivos de tendncias que j so reconhe-cveis nos outros animais. Os nossos antepassados jse orientavam pela empatia, a gratido, a obrigao, aretribuio, a indignao, muito antes de terem desen-volvido a linguagem e, portanto, muito antes de seremcapazes de traduzir esses sentimentos num discursomoral (Ibidem).
3. Empatia, teoria da mente e linguagem:condies para a moral humana
A empatia, que consiste na capacidade de sentir asituao emocional dos outros atravs das prpriasrepresentaes neurais e orgnicas, um mecanismoautomtico que nos permite identicar com as emo-
es e agir em funo disso. Segundo de Waal (2006),a empatia obedece a um mecanismo relativamentesimples que une a representao e a aco de formaimediata. Este mecanismo relaciona-se provavelmentecom os neurnios-espelho, identicados por Rizzolat-ti nos anos 1990 no crtex pr-frontal do macaco. Osneurnios pr-motores geralmente activam-se quandoo animal se prepara para agir; mas Rizzolatti e os seuscolegas mostraram que tambm se activam quando oanimal observa a aco ser executada por outros, oumesmo quando s observa a inteno de agir (Rizzolat-ti, 1996). Estes resultados apontam para a ideia de quea empatia tem uma base neurosiolgica, e que est naorigem da motivao para agir em favor dos outros.Trabalhos publicados em 2006 (Langford et al) mostra-ram que o mesmo mecanismo est activo nos ratos, queempatizam com a dor dos companheiros mas no coma dor de ratos estranhos, e vo no sentido de considerarque a empatia uma resposta emocional bastante di-fundida nos animais parentais. Quanto mais prximofor o objecto da empatia, tanto mais fcil ser activaras respostas motoras e autonmicas do sujeito. Inver-samente, objectos distantes e diferentes no evocaroa resposta emptica. Este parece ser um dos processospelos quais se lida com o que interno e com o que
externo famlia e ao grupo de pertena. empatia emocional acresce a empatia cognitiva,que a capacidade para avaliar as razes para a emo-o dos outros. Este tipo de empatia, que se encontrapresente nos primatas capazes de elaborarem uma te-oria da mente, mais avanada do que a empatia emo-cional e pressupe a sua existncia. Permite avaliara situao e prestar uma ajuda adequada. um dosfundamentos para a moral humana e adquiriu, com alinguagem, a possibilidade de se elaborar atravs denormas e de narrativas morais. A velha questo de sa-ber se o que preside s escolhas morais o afecto ou arazo, encontra novas evidncias com estes trabalhos:so os impulsos genuinamente generosos que nos mo-tivam a agir em favor dos outros e s depois intervma razo, para justicar narrativamente a aco.
No ser humano, os comportamentos positivos ba-seados na empatia so extremamente precoces (Mon-
tagner,,1993, 1998) e as emoes empticas aparecemcomo uma das bases principais para a compreenso epreocupao com os outros (Goldman, 1999). Os tra-balhos sobre vinculao e sobre sincronia afectiva pre-coce (Stern, 1985) apontam para a sua importncia nodesenvolvimento do sentido da bondade e da moral.
Sann (1993) mostrou, na mesma ordem de ideias, quea vinculao segura vai de par, na criana recm-nasci-da, com um efeito de benecincia sobre o adulto queparticipa na emergncia de sentimentos positivos. Ostrabalhos sobre teoria da mente nos humanos mostra-ram ainda que a capacidade para mentalisar com-preender o comportamento em termos dos estadosmentais associados, tanto em si como nos outros estligada qualidade da vinculao e essencial para aintegrao da experincia, interna e externa (Fonagy etal, 2004). A vinculao consiste na base segura para odesenvolvimento do sentido primrio de si e dos ou-
tros, mas tambm para o desenvolvimento das repre-sentaes simblicas (narrativas) e para a reexivida-de. Pais com reexividade elevada e com capacidadepara atenderem s experincias mentais dos lhos,facilitam a compreenso geral da sua vida mental ea dos outros (Fonagy et al, 2004), promovendo destemodo uma maior compreenso emptica e reexivado que se passa consigo e tambm com os outros. Pre-mack (1996) mostrou, por sua vez, que os recm-nasci-dos j apresentam certas expectativas sobre o que deveocorrer em situaes de interaco especcas, e estestrabalhos parecem consolidar a ideia de que, j muitocedo na ontognese, o ser humano apresenta expec-tativas e avaliaes que concordam com o que maistarde poder ocorrer como uma avaliao de justezada situao social. Os trabalhos de Hoffman (1987) porsua vez, apontam para a ideia de que a experinciaemocional precoce pode, atravs de mecanismos deimaginao emptica, impregnar o julgamento morale a elaborao de raciocnios mais abstractos, mostran-do a ligao entre a conceptualizao e a experinciaemocional precoce. Deste modo, possvel encontrarnas narrativas morais o trao de experincias emocio-nais antigas, e os modos como estas orientam o discur-so e a aco (M. Johnson, 1993, 1999).
Wyman & Tomasello (2007) propem que a capaci-dade dos bbs humanos para partilharem intencio-nalidade (estados mentais) e partilharem a ateno(seguindo o apontar do dedo, por exemplo) possvelpor causa da maior cooperao e conana no interiordos grupos altrustas. O mesmo no acontece com oschimpanzs, que carecem de ateno partilhada destaforma. possvel que tenha havido co-evoluo en-tre cooperao, mentalizao e linguagem, nos gruposindividualizados: a capacidade simblica surgiu en-to associada partilha de estados mentais (estadosdo mundo) em grupos onde prevalece a conana,fundada na vinculao. Assinalar um foco de atenopelo simples prazer de o partilhar com outro (e nopor uma razo instrumental) indica um alto nvel deproteco contra a competio social e, provavelmen-te, uma capacidade alargada para cooperar, internaaos grupos humanos individualizados (Lencastre,
-
8/10/2019 Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etolgicos, psicolgicos e culturais dos valores_Marina Prieto
5/10
13
2010). Em termos evolutivos, os nossos comporta-mentos pr-sociais desenvolveram-se, integrando asnossas tendncias agressivas, que so mais antigasem termos logenticos. Estas ligaram-se sobretudo discriminao contra os estranhos e serviram tambmpara a estruturao da vida social. A presso evolutivaque seleccionou a cooperao e o altrusmo no inte-rior dos grupos associou-se que leva a discriminarcontra aqueles que no pertencem a esse grupo e sopotencialmente seus inimigos (Eibl-Eibesfeldt, 1989).Esta capacidade tambm se prende com a vinculao:esta serve no s para ligar o beb e a criana guraparental protectora, mas est tambm na base do reco-nhecimento dos que pertencem famlia e dos que lheso estranhos (Erickson, 2000). Esta capacidade, que comum a todos os animais parentais e tambm a to-dos os animais que se ligam ao grupo por processosde imprinting (os insectos sociais, por exemplo), per-
mite um reconhecimento imediato da parentela e dosmembros do grupo, estando na origem da activaodos comportamentos familiares e cooperativos mastambm dos comportamentos competitivos e agressi-vos contra os estranhos.
Assim, nos humanos, o sentido da empatia e a preo-cupao com os outros desenvolve-se muito cedo e de-pende da herana logentica mas tambm, em gran-de medida, de condies ontogenticas que implicama proximidade e a constncia da gura de vinculao,o acesso ao afecto e benevolncia adulta, a traduodas emoes positivas na linguagem. Em termos evo-lutivos, a seleco estabilizou muitas formas diferentespara conseguir a sobrevivncia individual e do grupo.A cooperao social e o altrusmo so uma dessas for-mas que, nos humanos, adquiriram uma importnciapsicolgica e cultural crescentes (Boyd, 2003). Mas aempatia, o altrusmo e a cooperao apresentam-se es-sencialmente como um fenmeno familiar e intra-gru-pal. Alm de necessitarem de uma base ontogenticaslida para se desenvolverem o que s se conseguenum pequeno grupo familiar os humanos tendema desenvolver uma moralidade grupal, muitas vezescom excluso dos outros. A etologia humana e a psi-cologia mostraram que os humanos tendem a tratar os
de fora muito pior do que os membros do seu prpriogrupo. Eibl-Eibesfeldt (1989) por exemplo, mostrouque a socialidade aliativa (laos de pertena ao gru-po) que governa em grande parte as relaes grupaishumanas, decresce medida que o grupo aumenta.Parece haver um tamanho adequado para o funciona-mento espontneo dos laos de empatia, da recipro-cidade e do altrusmo benevolente ou bondade. Tra-balhos em etologia mostraram que o grupo humanonatural tende a ser aproximadamente de 100 a 150 in-divduos e que, acima desse nmero, o anonimato ten-de a estabelecer-se (Dunbar, 1992). No entanto, traba-lhos mais recentes sobre o altrusmo forte mostraram,por sua vez, que a conana na estabilidade contratualdos contextos alargados promove a cooperao, como o caso dos estudos sobre altrusmo e cooperao demercado (Gintis et al, 2007). Os humanos comportam--se altruistamente, mesmo quando parecem no retirar
benefcios imediatos disso. O altrusmo forte dependedos contratos assumidos pelos humanos, e estes as-sentam na capacidade para criar responsabilidades eobrigaes recprocas. O instrumento essencial destescontratos a linguagem.
4. Os fundamentos culturais dos valores
A evoluo humana acrescentou algo de essencials emoes sociais e racionalidade cognitiva. A lin-guagem e a capacidade para desenvolver argumentosracionais e simblicos sobre as nossas aces e as ac-es dos outros faz de ns a nica espcie verdadeira-mente moral (Thins, 1993; Lencastre, 2004, 2010). medida que o grupo humano cresceu e se complexi-cou, a territorialidade, a hierarquia e as normas sociaistcitas ligadas cooperao tornaram-se insucientes
para realizarem a coordenao grupal. A linguagempermitiu uma coordenao mais poderosa distncia,permitindo tambm a enunciao e o reconhecimentode normas sociais e morais que passaram a impor-secomo objectos mentais (Gibbard, 1996). As emoesassociadas a comportamentos com valor social passa-ram a ser coordenadas por conceitos que, por sua vez,se organizaram em narrativas fundadoras e exempla-res. Estas associam-se com as experincias extraordi-nrias dos humanos que mostram como a emergnciade Homo sapiens se acompanha de uma conscinciamais alargada da sua condio de ser vivo, que no selimita realidade imediata, mas produz um mundosimblico partilhado e reectido.. Jean Clottes (2003)mostra como as guraes de animais nas grutas pr--histricas que apresentam uma notvel unidadenas tcnicas e nas representaes durante um longoperodo de 35 000 a 10 000 anos no contam di-rectamente o quotidiano de caa dos humanos dessetempo, mas exprimem a seleco de animais extraor-dinrios ou raros, um bestirio de seres precisos que seinscrevem j numa histria imaginria e simblica queconta as experincias invulgares dos humanos. A rela-o entre a arte e o sagrado parece ter emergido quaseao mesmo tempo na pr-histria. Segundo este autor,
provvel que os artistas das grutas tivessem papissociais particulares (papis de comunicao xamnicacom seres simblicos) e que fossem mediadores entreo mundo real e o mundo espiritual. Outros trabalhos,ainda controversos (Jgues-Wolkiewiez, 2007), suge-rem mesmo que estes primeiros humanos modernosseriam j exmios observadores do cosmos, relacionan-do o movimento das estrelas e dos planetas, no cu,com as estaes do ano, os estados da natureza e coma projeco simblica da luz em locais particulares dascavernas pintadas. muito provvel que as primeirasnarrativas sobre a relao entre humanos, no huma-nos e o cosmos tivessem nascido nesta altura.
As imagens mentais que presidiram aos primeirostraos artsticos e religiosos humanos, e que posterior-mente se elaboraram a partir da complexicao davida material, social e simblica dos grupos, podemser entendidas como ligadas a experincias psicocor-
-
8/10/2019 Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etolgicos, psicolgicos e culturais dos valores_Marina Prieto
6/10
14
porais fundando estados particulares da conscincia,associadas observao do ambiente volta (Clottes,op. Cit.). As duas encontram-se na origem da comu-nicao de conjuntos simblicos que serviram paraconotar algumas das temticas antropolgicas funda-mentais ligadas organizao material e social da vidados indivduos e dos grupos. O nascimento, a morte,a doena, a sexualidade e o afecto, a ligao aos outrose natureza ganharam signicados e deniram os va-lores correspondentes. Os sentimentos sociais elabo-raram-se deste modo em trajectrias culturais que ostornaram prprios a essas culturas e distintos de cul-turas diferentes. Assim, certas culturas encorajam va-lores como o cime e o amor, porque estes contribuempara a estabilidade dos laos conjugais, outras cultu-ras encorajam valores como a vida em comunidade, oparentesco, a solidariedade, porque estes impedem atentao da autonomia e da posse face a uma natureza
escassa. Os sistemas de normas de conduta tornam-sedeste modo acessveis a um grande nmero e so sus-ceptveis de serem impostos por tradies mitolgicasexemplares (as tradies religiosas e espirituais, porexemplo) e por instituies que regulam as relaessociais (o direito, por exemplo).
Do ponto de vista antropolgico, ser til distinguirentre a tica, que se inscreve nas grandes tradies dis-cursivas, religiosas ou laicas, sobre o bem e o mal cons-tituindo, portanto, uma categoria histrica, e os com-portamentos fundados em valores sociais (morais)que se aplicam distino e normalizao dos cdigose suas infraces que, sob regimes antropolgicos di-versos, encontramos em todas as culturas. Assim, doponto de vista antropolgico, a projeco da moralenquanto categoria intelectual para fora do contextoocidental, onde nasceu, poder enviesar a percepoe a compreenso da dinmica social onde certos com-portamentos normativos fazem sentido. As variadascrenas e ritos sagrados que encontramos nas cultu-ras pr-modernas, por exemplo, afastam-se das preo-cupaes morais tais como as podemos conceber nanossa tradio grega e judaico-crist. A antropologiaactual considera que estas sociedades ditas tradicio-nais vivem em equilbrios funcionais relativos onde,
paralelamente manuteno da ordem social, podemocorrer conitos e tenses vrias (pelo prestgio e pelopoder, por exemplo) que ameaam esse equilbrio edinamizam as sociedades (de Heusch, 1993). nestescontextos conservadores que os cdigos sociais nor-mativos, e suas infraces, fazem sentido.
Os comportamentos morais, enquanto formaesinterpessoais, parecem exercer-se num quotidiano so-cial com interessantes homologias comportamentaisentre culturas e tambm com aspectos da vida socialdos antropides; no entanto, enquanto formaesculturais e nomativas, eles inscrevem-se em departa-mentos simblicos e prticos que podem fragmentaros comportamentos pr-sociais entre elementos domundo dos interditos, a esfera do controle social eas formaes discursivas e prticas diversas que ca-racterizam as grandes tradies de pensamento. Paracompreender esta diversidade cultural, Descola (2005)
sugere que a espcie humana dispe de uma estru-tura biolgica e psicolgica comum, que lhe conferecaractersticas universais na produo da diversidade:est genericamente equipada com uma determinadaestrutura corporal, uma particular intencionalidadeemocional e cognitiva, uma aptido para representar
mentalmente o estado das coisas e para exprimir esseconhecimento atravs da linguagem, uma propensopara distinguir entre as semelhanas e as diferenasentre ego (os humanos) e alter (os no humanos) epara fazer inferncias a partir dessas diferenas. Estascaractersticas, que parecem ser largamente comuns espcie humana, tornam signicativa a hiptese se-gundo a qual por trs da grande diversidade culturalse encontram estruturas gerais que podero estar naorigem de certos invariantes antropolgicos. Segun-do o mesmo autor, podemos estudar os esquemas dediferenciao entre humanos e no humanos, e estes
esquemas constituem disposies para estabelecer re-laes entre ego e alter em funo do que ego pensaque e do que pensa que os outros so.
Este mecanismo de discriminao elementar parecefundado sobre a imputao aos outros de interiorida-de e de sicalidade anlogas ou diferentes s queego atribui a si mesmo; as combinaes destas atribui-es permitem identicar quatro grandes sistemas declassicao antropolgica, que Descola chamou desistemas anmicos, totmicos, analgicos e naturalis-tas. Estas combinaes esto na base de diferentes te-orias da alteridade e determinam os valores culturaisque so aplicados a si e aos outros2.
Assim, e ainda segundo o mesmo autor, o sistemaanmico, que caracterstico por exemplo das socieda-des amaznicas e de certas sociedades africanas, inter-preta os humanos e os no humanos como dotados deinterioridades idnticas e de corporeidades diferentesEsta concepo implica que animais e plantas sejamtratados como os humanos e que as ideias sobre espa-o domstico e espao selvagem sejam muito diferen-tes das ocidentais. No sistema anmico, o espao sel-vagem semelhante ao espao social, humanos e nohumanos so pessoas. O sistema totmico de interpre-tao dos que so humanos e dos que no so humanos
atribui certas qualidades abstractas do totem (fora,esperteza) a todos os que participam da comunida-de totmica. So qualidades fsicas e espirituais quea diferenciam das outras comunidades e que exigemum tratamento dos animais ou dos objectos totmicoscomo iguais ou at superiores aos humanos. Este sis-tema prprio dos povos aborgenes australianos ede certos povos africanos, por exemplo. O sistema declassicao analgico, tpico do pensamento chins,de alguns aspectos do pensamento indo-europeu e decertas concepes em frica, consiste na inuncia re-cproca entre os dois mundos, espiritual e corporal. Os
2 interessante notar que estas combinaes se elaboram a partirde uma estrutura binria de oposies entre corpo e esprito queparece ser um universal antropolgico e que , portanto, comum atodas elas.
-
8/10/2019 Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etolgicos, psicolgicos e culturais dos valores_Marina Prieto
7/10
15
sintomas do corpo humano tero a ver com modica-es do sistema csmico mais vasto, e vice-versa. A in-uncia por analogia exige a distino dos termos dacomparao, mesmo que esta seja muito tnue; subjazao sistema analgico, no entanto, uma concepo con-tinuista da trama dos existentes que traz como ideal asua coincidncia (Descola, ibidem). Finalmente, o sis-tema naturalista considera que os corpos de humanose de no humanos (animais) so idnticos, mas que assuas interioridades so distintas. O naturalismo, tpi-co do pensamento ocidental, constituiu a base dualistapara o desenvolvimento da medicina (que lida com ocorpo) e da psicologia (que lida com a mente), assimcomo para a diviso entre o mundo natural (selvagem)e o mundo articial (construdo, tecnocientco). O na-turalismo fundou a concepo mecanicista dos corposanimais e, por extenso, humanos, permitindo a suaarticializao, e tambm fundou a imputao quase
exclusiva de mente/esprito ao ser humano. As cin-cias so os modos particulares de concretizao dosistema natural/articial. em torno da vulgarizaoda tecnocincia e da transformao macia da vidahumana e no humana que se desenrolam muitos dosdebates contemporneos sobre a renovao dos valo-res, na sua relao com o ambiente e a sociedade.
Apesar destas distines, possvel encontrar nasdiferentes culturas aspectos das outras combinaestpicas de outras culturas, o que parece demonstraruma certa unidade representacional da mente huma-na, paralelamente a fenmenos scio-histricos par-ticulares que promoveram certas representaes emdetrimento de outras. Assim, podemos pensar que,apesar da grande diversidade das tradies prticase espirituais, estas assentam em traos motivacionaisque so comuns aos humanos e que sustentam a ve-racidade e profundidade das suas experincias e doscomportamentos que lhes esto ligados. Como os hu-manos partilham mecanismos cognitivos comuns es-pcie, assim como experincias corporais homlogas, de esperar que mesmo nos casos em que a traduolingustica da experincia se revele insuciente (comonos casos em que no existe equivalncia denotativaem diferentes lnguas), tal no impea que se compre-
enda o que est a ser comunicado (Lakoff, 1987). interessante notar que, se a etnograa mostracomo so diversas as formas de actuao moral dosdiversos povos, a psicoetologia humana associada neurobiologia da aprendizagem e antropologia cul-tural permitem compreender como disposies emp-ticas bsicas podero diferenciar-se socialmente emfuno dos padres scio-culturais em que o indiv-duo cresce. Se for culturalmente inaceitvel protegeros mais fracos, a disposio equivalente ser refora-da negativamente nos indivduos que a apresentarem(apesar do seu eventual sofrimento), e o seu compor-tamento tender a organizar-se de outro modo am dese adequar ao padro dominante. deste modo que oscontextos scio-culturais fazem emergir as condutasmorais correspondentes.
5. Narrativas e interpretao:condies para o julgamento tico
Vimos no captulo sobre a empatia social nos pri-matas que existem disposies sociais muito fortes ar-rastando os seres vivos superiores para a entreajuda,o consolo, a compaixo, a simpatia, a cooperao. Asrecm-descobertas capacidades cognitivas e sociaisdos antropides revelam-se da maior importnciapara a compreenso da evoluo dos padres moraisno ser humano, na medida em que exprimem os est-dios pelos quais evoluiu a imaginao e a capacidadede empatia humanas. A empatia, a teoria da mente ea partilha de estados mentais promoveram, nos hu-manos, a cooperao, a mentalizao e a linguagem,que constituam, por sua vez, a base para o desenvol-vimento do sentido de si, dos outros e do mundo, etambm para o desenvolvimento das representaes
simblicas (narrativas) e para a reexividade. Estasdisposies elaboraram-se em experincias cosmog-nicas particulares que denem as relaes de liaoe de ligao atravs de narrativas, de rituais e de valo-res particulares s culturas. Sabemos, no entanto, quepor trs da grande diversidade simblica e prtica seencontram disposies comportamentais prvias queapresentam precocemente motivaes transculturais,como a oferta de presentes, o consolo aos magoados, ocontgio emocional, o sentido da reciprocidade, o re-conhecimento do prejuzo
H alguma evidncia de que a justicao para onosso agir moral frequentemente post hoc (de Waal,2006): reagimos emocionalmente e depois justicamo--nos pela linguagem. O reconhecimento de que as nar-rativas morais no so estticas, mas so dinmicas enos permitem remodelar a aco, torna-as particular-mente adequadas aos tempos incertos, expandidos ecomplexos que vivemos. Segundo Johnson (1993) anarrativa no meramente lingustica ou textual, mascaracteriza o carcter sinttico da experincia e estpregurada nas nossas actividades e projectos quoti-dianos. Como somos criaturas imaginativas e narrati-vas, podemos congurar as nossas vidas de novas ma-neiras. A competncia tica consiste assim em partir da
experincia emocional corporal para fundar domniosmais abstractos e menos estruturados, atravs das nar-rativas morais. No caso da tica global, por exemplo,experincias bsicas como a dor, o prazer, o prejuzo, obem-estar, a empatia, o sofrimento, a alegria, a bonda-de, a compaixo, podero fornecer uma base universalpara a construo da ideia abstracta de direitos hu-manos e animais (M. Johnson, 1993). A compreensodos conceitos mostra que estes carregam as dimensescognitivas e emocionais da experincia, permitindo aomesmo tempo a sua extenso imaginativa para forados contextos em que nasceram, de maneira a supor-tar deliberaes colectivas mais abstractas.
Mas no contexto contemporneo, nem sempre possvel recorrer intuio tica corrente como garan-tia colectiva da aco, porque os elementos disponibili-zados pela viso cientca do mundo no possibilitamuma interpretao directa sobre o grau de eticidade da
-
8/10/2019 Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etolgicos, psicolgicos e culturais dos valores_Marina Prieto
8/10
16
situao. Assim, o debate contemporneo, que levantaquestes ticas como o ambiente para as geraes fu-turas, o impacto econmico sobre outros povos, o esta-tuto dos animais e dos seus ecossistemas, a produode organismos geneticamente modicados, o direito manipulao da vida humana etc., rico em novasquestes cujo alcance e tecnicidade no contm, em simesmas, ncleos evidentes de textura moral, porquerompem os horizontes previstos para a denio dotico. Exigem uma literacia adequada face qual de-senvolver a interpretao tica mas tambm um senti-mento de realidade dos efeitos da aco moral. Comodecidir se, no caso da manipulao do genoma huma-no, ou de animais e vegetais transgnicos, ou no casoda energia nuclear, os argumentos a favor apontampara um futuro prometeano e os argumentos contraapresentam muitas vezes cenrios morais claramenteinsucientes para a complexidade de exigncias dos
dias de hoje?Jean Ladrire escreve (1997, p.13, 15): o decisio-nismo racional responde a esta questo apelando virtude da troca argumentativa... ento o acordo in-tersubjectivo que garante a racionalidade da deciso... denindo uma perspectiva puramente proceduralque o decisionismo pode propor uma base racional determinao de normas... a questo est em saberse possvel encontrar uma forma mais forte de ra-cionalidade, regressando ideia de interpretao...o que pode ser razoavelmente proposto reassumiresta compreenso numa compreenso alargada, capazde reter o que propunha a interpretao disponvel eacrescentar-lhe o que tornar possvel uma compre-enso existencial da situao, que se abrir ento signicao tica... o mundo construdo que foi pro-duzido pelo esprito cientco e pelo esforo tcnicocresce sobre o que Husserl chamou o mundo da vida, e esta relao do construdo ao vivido uma relaodinmica onde os signicados do mundo da vida e ossignicados do mundo construdo no param de se to-car... esta relao dinmica possibilita a reinscrio dacompreenso cientca do mundo numa compreensoexistencial... sob a forma de um regresso s condiesde possibilidade da cincia, da tcnica, e do mundo
construdo que engendram. No plano tico isto signica que face a situaes dis-tantes ou inteiramente novas, a interpretao narrativaem torno dessas novas situaes poder fazer emergirfragmentos de signicao mais antigos, e reencontra-dos por associao, que so reinjectados como novoselementos interpretativos na nova situao (Ladri-re, Op. Cit). dentro da narrativa e das suas vias deargumentao que emerge o sujeito moral, i.e., capazde uma valorao de eticidade de situaes distantesda sua mas cuja interpretao fornece elementos deaproximao simblica (metafrica, metonmica) comas situaes originais. A narrativa permite esta inter-pretao, pois fornece um quadro exploratrio ligadoa certas regras formais da construo da histria quecoloca o sujeito no seio de um enredo coerente, comprincpio, meio e m, no seio do qual ele emerge comosujeito que se encontra, e se produz, a si mesmo, na
reexo e na aco. Este processo consiste num esforode encontrar um fundamento moral natural que legi-time uma racionalidade forte face a uma situao mo-ral fracamente determinada, ou indeterminada. Este muitas vezes o caso das questes morais distantes(noutros pases, no futuro) e da tecnocincia contem-
pornea, que nos confronta com os efeitos inimagina-dos dos nveis de instrumentalizao biolgica, qumi-ca, neurolgica, ambiental etc..
Assim, claro que o debate tico contemporneonecessita recorrer de forma explcita no s a for-mas elaboradas de literacia (cientca ou outra) mastambm viso pr-cientca dos sujeitos, de modoa apoiar a argumentao numa certa perspectiva domundo da vida humana. A viso pr-cientca d amedida humanizada dos modos de vida contidos noscenrios tcnicos propostos isto , as implicaes deser (as ontologias) desejveis, ou no, para uma deter-
minada vocao teleolgica da vida, e da vida huma-na, sobre a terra. No de excluir, neste processo, quetanto no pensamento cientco como noutras formasde pensamento simblico intervenham poderosas for-mas de intuio cinestsica e imaginria que, em ra-ros momentos, restabelecem a ntima conexo em queconvivem no sujeito. Esta convivncia poder estar naorigem da recorrente associao intuitiva, operada nanossa cultura de raiz grega, entre o verdadeiro, o beloe o bom. Assim, sobre os ns que o debate tico de -ver centrar-se e no, como habitualmente, sobre osmeios tcnicos, e suas deontologias regionais.
Este debate est por fazer, porque est em grandeparte por fazer o reconhecimento da textura valora-tiva da prpria condio humana sobre a terra, tex-tura essa que cola muito de perto com as caractersti-cas corporais, espcio-temporais, sociais e simblicascondicionando as formas da vinculao existencial edo livre arbtrio. Uma das caractersticas principaisdas narrativas cosmognicas consiste justamente emfornecer quadros de referncia para a experincia deligao a si, aos outros e ao todo Ao relacionar a emo-o, o pensamento e a aco com o nvel cosmolgi-co (a base para o sentimento religioso)3, permite umaidenticao rpida do signicado pessoal com o sen-
tido global do mundo. Ao fornecer o testemunho deguras exemplares e de orientaes concretas para aaco espiritual e moral, convida a pessoa individuala reconectar-se com os outros, humanos e no huma-nos, numa base de interpretao existencial, em que osentido da aco reencontra o seu fundamento forte,face a um mundo indeterminado, distante e complexo.As histrias que a tradio oral ou escrita nos oferececorrespondem a relatos compreensveis de pessoas re-ais que, face a opes concretas, escolhem os caminhosda coragem, da bondade, da tolerncia e da sabedoria.Nestas escolhas esto contidos os diversos nveis daexperincia humana, corporais, emocionais, cogniti-vos, que tornam a inspirao para a aco real e tang-
3 A etimologia de religo latina. Re-ligare signica ligar o todo,ligar-se ao todo.
-
8/10/2019 Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etolgicos, psicolgicos e culturais dos valores_Marina Prieto
9/10
17
vel. a ligao destes nveis que fundamenta a acomoral e tambm a percepo do fundo comum quepartilha com os outros que torna a diversidade con-tempornea compatvel com a procura de uma ticaglobal. Ser do potencial imaginativo desta tica quedepender a criatividade das solues prticas parauma vida boa sobre a terra, e ser da bondade e sa-bedoria destas solues que surgir a forte evidnciacom que podero aparecer para todos.
Bibliografa
Axelrod, R. (1990). The Evolution of Co-operation. London,Penguin Book.
Axelrod, R. & Hamilton, W.D. (1981). The Evolution ofCooperation. In: Science, 211, 1390-96.
Boyd, R. (2003). Cultural Evolution of Human Cooperation.
In: Hammerstein, P. (Ed.). Genetic and Cultural Evolutionof Cooperation. MIT Press.Byrne, R.W. (1993). Empathy in Primate Social
Manipulation and Communication. In: Thins, G. (Ed.).volution Biologique et Comportement thique. Brux.,Acadmie Royale de Belgique.
Byrne, R.W. & Whiten, A. (1990). Tactical Deception inPrimates: the 1990 Database. Primate Report.
Clottes, J. (Dir.) (2003). Chauvet Cave: The Art of EarliestTimes. Salt Lake City, University of Utah Press.
Descola, P. (2005). Par-del Nature et Culture. Paris,Gallimard.
Dunbar R.I.M. (1992). Neocortex size as a constraint ongroup size in primates. In:J. Hum. Evol., 20, 469493.
Eibl-Eibesfeldt, I. (1989). Human Ethology. NY, A. de Gruyter.Erickson, M.T. (2000). The Evolution of Incest Avoidance:
Oedipus and the Psychopathology of Kinship. In:Gilbert, P. e Bailey, K.G. (Eds.). Genes on the Couch.Explorations in Evolutionary Psychotherapy, USA, Brunner-Routledge, 222-231.
Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. e Target, M. (2004).AffectRegulation, Mentalization and the Development of the Self.NY, Other Press.
Gazzaniga, M.S. (2000). O Passado da Mente. Como o CrebroConstri a Nossa Experincia. Lisboa, Inst Piaget.
Gibbard, A. (1996) Moralidade e Evoluo Humana. In:Changeux, J. P. (Ed.). Fundamentos Naturais da tica,Lisboa: Inst Piaget.
Gintis, H. et al (2007) Explaining Altruistic Behavior inHumans. In: Dunbar, R.I.M. e Barrett, L. The OxfordHandbook of Evolutionary Psychology. USA: OxfordUn. Press.
Goldman, A. I. (1993). Ethics and Cognitive Science. In:Ethics, 103, pp. 337-360.
Habermas, J. (1987). The Theory of Communicative Action 2.Cambridge, Polity.
Heusch, L. de (1993). La Piti et la Honte. In: Thins, G.(Ed.). volution Biologique et Comportement thique.Brux., Acadmie Royale de Belgique.
Hoffman, M. L. (1987). The Contribution of Empathy toJustice and Moral Judgment. In: Eisenberg, N. e Strayer(Orgs.). Empathy and its Development. NY, CambridgeUniversity Press, pp.215-240.
Husserl, E. (1954). Die Krisis der EuropischenWissenschaften und die TranszendentalePhnomenologie. In: Biemel, W. (Ed.). Husserliana. Haag,Martinus Nijhoff.
Jgues-Wolkiewiez, C. (2007). The Roots of Astronomy,or the Hidden Order of a Palaeolithic Work. In: Les
Antiquits Nationales. 37, pp.43-52.Jonas, H. (1979). Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt am
M., Insel Verlag.Johnson, M. (1993).Moral Imagination. Implications of
Cognitive Science for Ethics. USA, University ChicagoPress.
Johnson, M. (1999). Ethics. In: Bechtel,E. e Graham, G. (Ed.).A companion to cognitive science. Oxford, Blackwell Publ.
Kant, I. (1803). ber Pdagogik. Koniggsberg, D. FriedrichTheodor Rink.
Ladrire, J. (1997). lInterprtation dans le Jugementthique. In: Revue dthique et de Thologie Morale le
Supplment, 202.Langford, D. J., Crager, S.E., Shehzad, Z., Smith, S.B.,Sotocinal, S.G., Levenstadt, J.S., Chanda, M.L., Levitin,D.J. e Mogil, J.S. (2006). Social Modulation of Pain asEvidence for Empathy in Mice. In: Science, pp. 1967-1970.
Lakoff, G. (1987). Women, Fire, and Dangerous Things. WhatCategories Reveal about the Mind.USA, Chicago Un. Press.
Lencastre, M.P.A. (2004). Intencionalidade, Linguagem eValores. Contributos Interdisciplinares para a Questoda Universalidade e da Diversidade da Moral. In:Trabalhos de Antropologia e Etnologia, XLIV (1-2), pp. 15-28.
Lencastre, M.P.A. (2006). Fenomenologia Biolgica,Cognio e Linguagem. O Contributo de Tim Ingoldpara uma Ecologia Sensvel. In: Trabalhos de Antropologiae Etnologia,pp. 21-46.
Lencastre, M.P.A. (2010). Bondade, Altrusmo eCooperao. Consideraes Evolutivas para a Educaoe a tica Ambiental. In: Revista Lusfona de Educao, (15),pp. 113-124.
Montagner, H. (1998). LAttachement. Les Dbuts de laTendresse. Paris, Odile Jacob.
Montagner, H. (1993). La Prcocit de lEmergence desConduites Sociales Complexes, Fondement de la VieRelationnelle et des Valeurs Morales. In: Thins, G. (Ed.).
volution Biologique et Comportement thique. Brux.:Acadmie Royale de Belgique.
Ost, F. (1997).A Natureza Margem da Lei. Lisboa, InstPiaget.
Premack, D. (1996). Conhecimento Moral do Recm-nascido. In: Changeux, J.P. (Dir.). Fundamentos Naturaisda tica. Lisboa, Inst Piaget.
Rizzolatti, G. (1996). Premotor Cortex and the Recognitionof Motor Actions. In: Cognitive Brain Research, 3, 2, 131-41.
Rosch, E. (1981). Protype Classication and LogicalClassication: the Two Systems. In: Scholnik, E. (Ed.).New Trends in Cognitive Representations: Challenges toPiagets Ttheory. Lawrence Earlbaum Assoc., pp. 73-86.
Sann, L. (1993). Aspects thologiques de lEmergencethique chez lEnfant Prmatur. In: Thins, G. (Ed.).volution Biologique et Comportement thique. Brux.,Acadmie Royale de Belgique.
-
8/10/2019 Empatia, teoria da mente e linguagem_Fundamentos etolgicos, psicolgicos e culturais dos valores_Marina Prieto
10/10
18
Singer, P. (1975).Animal Liberation: A New Ethics for ourTreatment of Animals. New York, Random House.
Stern, D. (1985). The Interpersonal World of the Infant: a Viewfrom Psychoanalysis and Developmental Psychology. N.Y.,Basic Books.
Thins, G. (Ed.) (1993). volution Biologique et
Comportement thique. Brux., Acadmie Royale deBelgique.
Waal, F.de (1996). Good Natured: the Origins of Right andWrong in Humans and other Animals. USA, Harv.Un.Press.
Waal, F. de (2006). Primates and Philosophers. How MoralityEvolved. Princeton Un. Press.
Wyman, E. e Tomasello, M. (2007). The Ontogenetic Originsof Cooperation. In: Dunbar, R. e Barrett, L. (Eds). TheOxford Handbook of Evolutionary Psychology. New York,Oxford University Press.