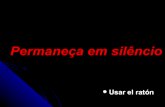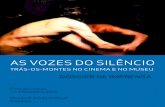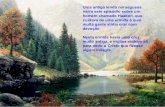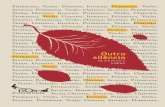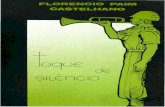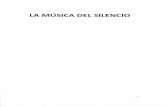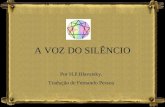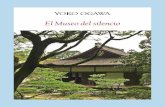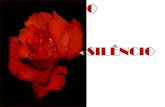Entre Vozes e Silencio o Jornalismo de a Tarde Durante o Regime Militar
description
Transcript of Entre Vozes e Silencio o Jornalismo de a Tarde Durante o Regime Militar
GT HISTORIA DO JORNALISMO
GT HISTORIA DO JORNALISMO
COORDENAO GERAL: MARIALVA BARBOSA (UFF)
MESA I: HISTRIA DO JORNALISMO IMPRENSA E AUTORITARISMO
1 DE JUNHO 14 S 16 HORAS
COORDENAO: MAURICIO PARADA (PUC-RIO)
Entre vozes e silncio: o jornalismo de A Tarde durante o regime militar (1968-1972)
Andra Cristiana Santos
No dia 15 de janeiro de 1972, nota do Comando de Operaes de Defesa Interna (CODI-6) sobre a priso de militantes do Partido Comunista do Brasil e da Ao Popular, ocorrida em agosto de 1971, era divulgada pelo A Tarde, jornal de circulao no estado da Bahia e regio nordeste do pas. Os militantes eram acusados de promover reunies para reestruturar a Associao Baiana de Estudantes Secundaristas, entidade vinculada s organizaes de esquerda clandestinas.
Com o ttulo Subverso no meio Estudantil: Alerta aos Pais, a nota comunicava a famlia baiana que seus filhos estavam sendo contaminados pelo germe do comunismo, veneno inoculado por falsos amigos e indivduos mais velhos que, face sua experincia subversiva, conseguiram manter-se fora da lei. Os pais deveriam manter sob viglia os seus filhos para que no fossem inocentes teis nas mos de experientes agentes da subverso comunista .
O comunicado no se tratava de um evento casual propagado pelo regime militar, mas evidencia o clmax do processo de institucionalizao da represso poltica no pas que, entre outras medidas, oficializou a censura imprensa e utilizou os meios de comunicao para divulgar a hegemonia da Doutrina de Segurana Nacional e Desenvolvimento. Formulada pela Escola Superior de Guerra e implementada aps o golpe militar de 64, a Doutrina visava justificar ideologicamente a imposio de um sistema de controle e dominao (ALVES, 1987:26). Utilizando-se da nfase da constante ameaa dos inimigos internos nao, ela incutiu na populao um clima de suspeio e medo que permitiria aos militares desencadearem campanhas repressivas que, de outro modo, no seriam toleradas (MAGALHES, 1997).
Para autores como Maria Aparecida Aquino, a poltica de censura institucionalizada, exercida de maneira contnua e constante, ocorreu em dois momentos distintos no pas: no primeiro governo de Getlio Vargas, durante o Estado Novo, e no regime militar instaurado aps 1964, iniciando com aes repressivas a jornalistas entre 1964 a 1968 at se consolidar com a presena de censores nas redaes (AQUINO, 1999: 205).
Porm, o marco da censura institucionalizada a partir de 13 de dezembro de 1968, data de edio do Ato Institucional n 5 (AI-5). A partir desse momento, veculos de comunicao, como Jornal do Brasil, Estado de So Paulo, passaram a receber visitas de censores para vistoriar a publicao. Quando no estiveram presentes, tornou-se comum a prtica de enviar bilhetes com recomendao de cortes em relao ao contedo publicado, alm de editoras necessitarem submeter censura prvia matrias das suas publicaes, como ocorreu com a revista Veja, da Editora Abril, e a imprensa alternativa, como Movimento.
Assim como ocorreu a censura prvia a publicaes, o mecanismo de autocensura tambm foi instaurado nas redaes, com o receio de jornalistas de publicarem assuntos que no eram tolerados, como eventuais referncias s aes das organizaes de esquerda. O jornal A Tarde e demais peridicos tambm vo se defrontar com os limites imposto por essa circunstncias histrica de cerceamento liberdade de imprensa e isto se refletir na cobertura jornalstica.
Neste artigo, interessa-nos analisar como A Tarde repercutiu os ideais do regime militar e silenciou questes importantes esfera pblica, como a participao da sociedade civil e, particularmente, dos segmentos estudantis. Face a um Estado autoritrio, o jornal exerceu um papel importante ora pelo silenciamento de questes inerentes vida pblica ora por divulgar atos e aes do regime militar.
Diante disto, analisamos como a construo jornalstica sobre as manifestaes estudantis de contestao ao poder poltico institudo, ocorridas no ano de 1968 em Salvador, e divulgadas abundantemente pelo A Tarde, foi silenciada aps a poltica de cerceamento liberdade de expresso.
Consideramos que a cobertura jornalstica sofreu ingerncias dos mecanismos de represso poltica, mas tambm refletiu a linha editorial que considerava o regime militar como restaurador da democracia. Os atos de exceo, como restrio ao Hbeas Corpus, a cassao de mandatos eletivos, a perseguio a organizaes polticas de esquerda, se no so aceitos integralmente pelo jornal, foram considerados como compreensveis no momento em que o outro, a ameaa do inimigo interno, estava representado pelos grupos de oposio ao regime.
A partir da nota abordada no inicio deste artigo, procuraremos demonstrar como a ideologia da Doutrina de Segurana Nacional e Desenvolvimento foi aceita pelo jornal e teve reflexos na construo jornalstica. O peridico que, anteriormente, repercutiu as manifestaes estudantis paulatinamente cedeu espao da cobertura jornalstica para notas oficiais que associavam os estudantes a terroristas; germe do comunismo, falsos amigos, peritos em subverso, inocentes teis.
Para tanto, trazemos breve histrico do jornal e anlise de contedo acerca da construo jornalstica no perodo entre 1968 e 1972, tendo como ponto de inflexo o AI-5, que impe barreiras ao trabalho jornalstico e a organizao da sociedade civil.
A empresa jornalstica A TardeErnesto Simes Filho criou A Tarde, em 1912, almejando praticar um jornalismo informativo e de interesse publico. No primeiro nmero, o jornal informa ao leitor que sua poltica editorial seria imparcial, contudo no seria indiferente aos embates do direito; neutra, mas sem se esquivar das controvrsias partidrias quando interessarem ao bem estar coletivo; ponderada, no provocar rixas pessoais, afeitos a barrear a honra alheira, mas no ceder um espao na reao enrgica e viril (CALMON, 1986: 67).
O manifesto seria um padro de conduta a ser seguido pelos profissionais que trabalhariam no vespertino. O jornal nascia para se contrapor ao Dirio da Bahia, fundado em 1856 e vinculado ao Partido Liberal, depois ao Partido Constitucional e, em 1901, passou a ser propriedade de Severino Vieira, governador do estado de 1900 a 1904. A vinculao com partidos polticos era tradio da imprensa baiana entre os anos de 1910 a 1930 (SANTOS,1985).
Quando foi criado, A Tarde procurava ir de encontro a esta tradio e desejava se instituir na esfera pblica como grande empresa jornalstica que utiliza a noticia como mercadoria. O jornal trazia inovaes como a publicao de clichs para ilustrao de notcias e disposio grfica, destacando com ttulos fortes as notcias pequenas e investigativas.
Ao longo de sua histria, contudo, o jornal vai assumir posicionamento poltico-ideolgico e participar da vida poltica, promovendo campanhas como a Revoluo Sertaneja, de 1920, em oposio ao governo de J.J. Seabra e vai se aliar aos coronis para se opor Revoluo de 30. Neste perodo, a sede do jornal foi ameaada de ser totalmente depredada pelos populares e aliados da Aliana Liberal, sofreu censura e Simes Filho foi preso, depois deportado para o exlio durante os primeiros anos do governo de Getlio Vargas.
As campanhas anticomunistas tambm foram uma constante no jornal. Em contrapartida, consolidou aliana com ideais do cristianismo, cuja presena ressoa at hoje, com a concesso de espao editorial dominical do caderno de opinio ao representante da Igreja Catlica e, historicamente, sempre teve boas relaes com a Associao Comercial da Bahia.
A postura de um jornal informativo que prioriza os fatos em detrimento da opinio nunca foi seguida rigorosamente pelo jornal. Simes Filho costumava referir-se ao jornal como independente, poltico e noticioso. Havia o espao para o noticirio, mas o jornal demonstrava posicionamento poltico e o desejo de interferir na opinio pblica. o que podemos observar no contexto da implantao do golpe militar de 1964.
A Cobertura jornalstica e o Golpe Militar de 64
No ms de maro de 1964, A Tarde vai repercutir no seu noticirio tanto a movimentao de grupos contrrios ao governo Joo Goulart como as aes e atos do governo a favor das reformas sociais de base, entre elas a possibilidade de fazer a reforma agrria em reas s margens das rodovias brasileiras. Contudo, a repercusso do Comcio da Central do Brasil, em 13 de maro, levou o jornal a inferir que um clima de intranqilidade dominava a nao.
O vespertino construiu um discurso de que a sociedade estava ameaada pela invaso de comunistas no governo de Goulart e utilizava justificativa, como as medidas de aumento da tributao sobre o papel, para alegar que o governo cerceava liberdade de imprensa. O horror ao comunismo, a ameaa liberdade de imprensa e garantia da democracia comandada por grupos polticos aliados ao status quo criavam as condies para que o peridico se colocasse contra o governo de Goulart.
A posio do jornal A Tarde no era muito diferente do pensamento de parte da sociedade baiana e brasileira. Para autores como Jacob Gorender (2004) a deposio de Goulart refletiu uma sociedade cindida e funcionou como contra-revoluo preventiva. Segundo o autor, o golpe militar no resultou apenas de manobra entre o crculo poltico-militar, mas teve apoio social: de um lado estariam, a favor do rumo progressista e democrtico, os trabalhadores. No lado contrrio, a classe mdia em peso.
A Bahia um exemplo desse processo de ciso na sociedade, cujas contradies foram refletidas pelo jornalismo de A Tarde. Nos primeiros meses antes da deposio de Goulart, o governador Lomanto Jnior era considerado um aliado do governo constitucional. No dia 1 de abril, o governador divulgou nota na imprensa a favor da legalidade democrtica, mas sem fazer meno ao governo Goulart.
Em Salvador, o Sindicato dos Trabalhadores da Indstria de Destilao e Refinao no Estado da Bahia (SINDIPRETO/Ba), que representava setores organizados da sociedade civil, teve a sede invadida, depredada e a diretoria presa e destituda (OLIVEIRA, 1996). O imediato ps-golpe de 64 teve reflexos na UFBa. Houve aceitao do golpe pelo reitor Alberico Fraga e do conjunto de professores por meio de medidas para investigar professores e funcionrios que, supostamente, foram reconhecidos como comunistas (BRITO, 2003).
Vitorioso o golpe de 64, o jornal passou a ser um defensor do novo regime em nome de uma normalidade democrtica, sem considerar que a destituio de um governo democraticamente eleito era um passo para a institucionalizao de um regime autoritrio. Para A Tarde, o golpe militar, que seria referenciado na linguagem jornalstica como Revoluo, propunha-se a restaurar o regime democrtico, compreendido como manuteno da integridade das instituies polticas, respeito ordem, s leis, poltica econmica liberal e o repdio ao comunismo. Em editoriais, o apoio ao regime militar se justificaria como uma medida necessria para evitar o caos e a influncia comunista, advinda com a Revoluo Cubana (1959).
Porm, no obstante, em concordar com a nova ordem poltica e econmica que se instaurava, o jornal, gradativamente, tambm vai repercutir as contradies internas que perpassavam a sociedade, como a posio de parlamentares ligados ao Movimento Democrtico Brasileiro (MDB) e as manifestaes de contestao ao regime militar como as passeatas estudantis ocorridas entre 1966 a 1968.
Os estudantes entram em cena
Nos anos de 1966 a 1968, A Tarde repercutiu as manifestaes estudantis que procuravam contestar o regime militar e solicitavam reformas sociais na educao bsica e no ensino superior. Os jovens, representados pelos estudantes, eram considerados segmentos sociais avanados na sociedade e, influenciados pelas mudanas sociais que assolavam o mundo na segunda metade da dcada de 60, reivindicavam maior participao poltica. As lideranas estudantis eram fontes contumazes do vespertino, convocadas para falar a respeito das mudanas polticas, culturais, estticas e comportamentais, como o rock in roll, Beatles, os hippies, o uso de jeans em substituio ao fardamento escolar, do cabelo comprido, do confronto de idias entre as geraes, a guerra do Vietn, entre outros.
O jornal tambm abordava a organizao estudantil por meio dos Diretrios Acadmicos e Unio Estaduais e Unio Nacional dos Estudantes que, embora extintas pelo regime, eram considerada representaes legtimas dos estudantes. Assim como os representantes do parlamento estadual e federal, os estudantes eram considerados fontes de matria poltica e protagonistas de reivindicaes legtimas da sociedade.
Desde 1966, quando surgiram as primeiras manifestaes estudantis contra o cerceamento encenao da pea Aventuras e Desventuras de um Estudante, de autoria de Carlos Sarno, estudante secundarista do Colgio Central, o jornal publicou reportagens referentes ao descontentamento juvenil. Em linguagem de cordel, a pea narrava as atribulaes de um interiorano que vem estudar na capital e se defrontava com a falta de liberdade poltica, o autoritarismo e a necessidade de se organizar politicamente por meio de suas entidades estudantis.
A pea foi proibida de ser encenada pelo diretor Walter Reuter, os alunos ameaavam declarar greve na instituio de ensino e reivindicavam a substituio do diretor. O resultado foi a suspenso da matrcula de sete alunos. O jornal se posicionou contra a punio aos estudantes, a censura pea e apelou para opinio pblica, por meio da divulgao de um manifesto de intelectuais baianos em apoio aos estudantes.
Em agosto de 1967, os estudantes voltam s ruas para protestar contra a aprovao da Lei Orgnica do Ensino, em tramitao na Assemblia Legislativa, que estabelecia a cobrana de anuidade pelas escolas de ensino mdio mantidas por fundaes. O jornal deu destaque aos protestos que comearam no dia 21 de agosto e terminariam cinco dias depois, aps uma intensa movimentao social. As manifestaes, que reuniram dois mil populares para exigir a revogao da lei, ganham as manchetes do jornal e se inserem na agenda pblica como reivindicao de setores da comunidade em favor da melhoria na qualidade de ensino.
Anteriormente, em maro de 1967, o jornal j agendava na esfera pblica a situao catica do ensino pblico. Em reportagem com fontes oficiais como a Comisso de Planejamento Econmico, revelava os baixos ndices de escolaridade da populao soteropolitana, constituda de 26% de analfabetos, 16% alfabetizados, 33% com instruo primria, 22% com nvel secundrio e uma pequena parcela, 3%, ostentava o curso superior (A TARDE, 06/03/67).
De modo que o jornal compreendia que havia problemas sociais emergentes na sociedade baiana. Assim como, o jornal procurava divulgar os acontecimentos baseados no interesse pblico, devido relevncia do tema educao.
No ano de 1968, o tema educao voltou cena, porm no contexto especfico de uma sociedade cindida entre o apoio ao regime militar e a reivindicao de segmentos contrrios, principalmente estudantis. No primeiro semestre do ano, o jornal vai repercutir as greves promovidas pelos estudantes na Universidade Federal da Bahia, a ocupao de unidades estudantis, embora ressaltando o carter pacfico das reivindicaes, os protestos contra a poltica educacional do governo de Costa e Silva e o corte progressivo de verbas.
Contudo, no segundo semestre do ano de 1968, ocorreu maior radicalizao tanto do regime militar quanto das passeatas estudantis. A conseqncia foi o aumento da represso policial, cujo desfecho seria a promulgao do AI-5 em 13 de dezembro. Nesse momento, as manifestaes estudantis e os conflitos com as foras policiais ganharam espao semelhante nas pginas do jornal, com nfase para a violncia contra os estudantes e a defesa dos rgos de segurana.
Quando as manifestaes redundaram em violncia, inclusive no episodio de priso de um agente por lideranas estudantis, os rgos de segurana foram fontes jornalsticas para agendar na opinio pblica a percepo de que havia um clima de subverso na cidade, inclusive de quebra da ordem poltico-social. Assim como, visavam contrapor-se ao discurso jornalstico que referenciava a participao estudantil como legtima.
O jornalismo de A Tarde refletiu os conflitos sociais, dando nfase tanto para a defesa dos estudantes quanto dos organismos policiais, o que demonstrava equilbrio na cobertura jornalstica. Nota-se, contudo, que o acirramento das tenses era uma preocupao latente do jornal, cuja inflexo na cobertura jornalstica tornou-se explcita a partir de 13 de dezembro de 1968.
O Silncio em favor do regime militar
Aps a promulgao do AI-5, A Tarde declarou, em editorial na primeira pgina, que suspendia seus editoriais por falta de garantia para expressar livremente sua opinio. Segundo o diretor de redao, Jorge Calmon, durante o regime militar ocorreram poucas situaes de censura explcita ao vespertino devido em grande parte ao respaldo com que ele sempre contou entre os baianos, embora o peridico tenha recebido apenas uma visita ocasional de um censor redao.
possvel inferir que a falta de visita de censores ocorreu devido ao posicionamento favorvel ao regime militar desde do golpe de 64, assim como pela linha editorial que silenciou acontecimentos jornalsticos referentes esfera pblica. Nos dias imediatos a promulgao do AI-5, o vespertino divulgou as cassaes de polticos, mas no emitiu comentrios em editorais nem realizou reportagens com fontes locais.
Gradativamente, com o decorrer do acirramento das organizaes de esquerda em realizar aes armadas e o confronto direto com os rgos de represso, o discurso do jornal passou a reproduzir a verso oficial do regime militar acerca da represso poltica. As matrias jornalsticas, como notcias e reportagens, progressivamente foram cedendo espao s notas e aos informes produzidos pelos rgos de segurana.
Para conformar essa construo jornalstica, o jornal ofereceu a sua viso sobre os acontecimentos por meio de notcias em que justificavam a adeso ao regime, posteriormente tambm fez a mesma defesa em editoriais. O jornal trazia noticirio com base em fontes oficiais, no qual procura associar o regime militar a um processo revolucionrio cuja finalidade deveria promover o desenvolvimento do pas. No discurso jornalstico, atos arbitrrios aplicados com base no AI-5 eram entendidos como desvios de condutas de alguns segmentos e no como uma prtica inerente ao regime.
Percebe-se tambm um esforo do regime militar em construir uma imagem pblica favorvel. As medidas restritivas, as cassaes polticas, sanes administrativas, a censura instaurada se apresentavam discursivamente como uma ao necessria restaurao de uma autntica democracia.
comum encontrar notcias e reportagens fornecidas por agncias de noticias, como a Transpress, outras realizadas por correspondentes do jornal no Rio de Janeiro, com personagens da poltica nacional em que se posicionam a favor das medidas restritivas por considerar que o pas encontrava-se sujeitos a ameaa do inimigo interno s instituies, por meio de assaltos a bancos e assassinatos.
A imagem favorvel tambm era construda por meio da divulgao de notas que faziam referncia a uma memria que recorria aos eventos comemorativos, como as data de aniversrio do golpe militar, para associar o regime a representaes sociais como solidariedade, desenvolvimento, justia social e democracia. Ao utilizar de eventos comemorativos como datas, a memria entendida como um lugar de memria, pois nascem e vivem do sentimento de que no h memria espontnea, por isso os homens necessitam criar arquivos, museus, organizar celebraes, pronunciar elogios fnebres (NORA, 1993). O jornal servia como intermedirio para propagar os atos simblicos e ideais que o regime queria divulgar e no deixar entrever a insatisfao popular.
Paralelo construo jornalstica favorvel ao regime, ocorre a superficialidade das notcias referente participao estudantil e, principalmente, a represso poltica a opositores do regime. Os estudantes no foram considerados fontes para assuntos anteriormente comentados. A categoria que os estudantes passou a ocupar seria relacionada subverso.
Um outro aspecto a ser levado em considerao que as notcias sobre as causas da priso de estudantes foram ignoradas pelo jornal. Quando so mencionadas, aparecem em notas sobre processos na Justia Militar, sem que haja explicao e uma interpretao do fato. o que aconteceu em matria sobre violao dos direitos humanos, na qual o MDB solicitou ao Conselho de Defesa dos Direitos Humanos apurar denncia sobre a morte de um estudante de agronomia ocorrida no Hospital da Polcia Militar em Pernambuco. O leitor fica sem saber quem o estudante e o que teria acontecido.
A censura poltica aos meios de comunicao no justifica to-somente o posicionamento poltico adotado pelo jornal e mesmo a possvel autocensura, uma vez que o noticirio abandonou a interpretao dos fatos e a averiguao de determinada informao para o leitor. Se o jornal temia se comprometer ao investigar informao sobre questes como a adoo da pena de morte no pas, aplicada contra militantes, o mesmo no acontecia quando o noticirio se referia a interesses econmicos advindos com o regime militar. O jornal no receava propagar os benefcios da modernizao econmica, como a abertura do pas ao mercado de capitais.
Tambm visvel o posicionamento poltico do jornal em relao s organizaes de esquerda ao condenar suas prticas polticas. Nesses casos, utilizava nas notcias da objetividade jornalstica como ritual estratgico para demonstrar neutralidade sobre a priso de estudantes e de opositores do regime. Porm, a objetividade era utilizada apenas quando lhe era conveniente.
O jornal no media esforos para se posicionar sobre a questo do asilo poltico a militantes expulsos do pas em troca dos embaixadores seqestrados por organizaes de esquerda. Para A TARDE, os asilados que se apresentavam como idealistas e vitimas hediondas de perseguio poltica no passavam de comunas a servio da mais desabusada e repelenta ao subversiva desencadeada no Continente. De forma paternalista, o jornal recomendava que, ao invs de roubarem avies em solo mexicano para ir morar na ilha de Cuba, os asilados deveriam procurar vida honesta. Evidencia-se no jornal uma tradio de posicionar-se politicamente contra o comunismo.
As crticas s punies sumrias, como julgamento por atos de subverso, s ocorriam se atingiam representantes de uma elite poltica de Salvador, como ocorreu com Navarro de Brito, secretrio estadual e ex-chefe da casa civil do governo Castelo Branco. Acusado de estar comprometido com movimentos de subverso, foi processado em primeira instncia na Justia Militar e inocentado. Nesse caso, o jornal veio a pblico para alertar que um homem inocente tinha sofrido dissabores, e que este acontecimento deveria servir de lio para que atos semelhantes no voltassem a ocorrer.
Porm, quando se referem a personalidades pblicas ligadas a movimento oposicionistas em nenhum momento o jornal veio a pblico pedir clemncia. o que pode se depreender do editorial em que o jornal criticou o assassinato do sargento Walder Xavier de Lima, pelo militante Teodomiro Romeiro dos Santos, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionrio, ocorrida em 1970. Para o jornal, atos de derramamento de sangue semelhantes no encontravam aceitao na sociedade baiana que sempre se pautou pelos ideais cristos e democrticos.
A divulgao de atos que desabonavam a conduta de grupos de esquerda era comum no jornal, em compensao o vespertino silenciava a respeito de prises ocorridas desde de 1969 que atingiram organizaes polticas e militantes estudantis. Excees eventuais e uma humanizao do relato jornalstico relacionado aos estudantes foi possvel identificar no jornal, porm ficaram restritas a editoria Estudantil, assinada pelo jornalista Victor Hugo Soares, ex-militante estudantil e ex-militante poltico. Percebe-se, nos textos, o uso de estratgias para driblar a censura e usar procedimentos do jornalismo interpretativo para fazer crtica realidade social.
Em meados de 1972, o jornal tambm passou a dar destaque aos estudantes vinculados Universidade Federal da Bahia, envolvidos em atividades culturais. O posicionamento poltico, de crtica e de reivindicao de direitos, tinha perdido espao. Em seu lugar, encontravam-se notas oficiais, como a relatada no incio deste artigo, nas quais os rgos de segurana solicitam aos pais cuidado e vigilncia sobre os filhos, que poderiam estar sendo contaminados pelo germe do comunismo.
Consideraes Finais
Assim como o regime militar tambm esteve perpassado por interesses conflitantes, A Tarde, em alguns momentos, usou o poder de grupo de presso miditico para exigir correo em algumas medidas polticas tomadas pelo governo, como a restrio representatividade dos partidos polticos que teriam se transformados em colgios eleitorais em panacias que melhor seriam no existissem. Porm, ao tecer algum comentrio crtico, no era para contrapor-se aos desmandos, pois era consenso, como o jornal propagava, de que o regime era legalista e restaurador da democracia.
A censura poltica interferiu para que determinados assuntos no se tornassem pblicos, mas sem dvida a poltica editorial do jornal conciliava com o regime militar em aspectos como modernizao da economia, a defesa da Revoluo e o combate ao comunismo. O posicionamento de A Tarde esteve de acordo com o pensamento de uma sociedade de classe cindida entre os que percebiam o golpe militar como necessrio para preservar o status quo e os que se opunham ao regime militar como cerceador da liberdade poltica e de expresso.
Podemos observar que o jornal, ao dar visibilidade a informaes que os militares procuravam agendar na sociedade brasileira, construa no imaginrio social a aceitao ao regime. possvel compreender o silncio em relao aos atos de exceo que atingiam representantes de grupos de esquerda e aos militantes estudantis ao receio do jornal de se encontrar isolado, pois, segundo a teoria Espiral do Silncio, os agentes sociais tendem a evitar expressar opinies que no coincidam com a opinio dominante (BARROS, 2003).
Em relao ao discurso jornalstico, possvel inferir ainda que podem ter havido mecanismos de autocensura e submisso ideologia da Doutrina de Segurana Nacional, pois o regime, embora autoritrio, imps-se como uma contra-revoluo modernizadora, que ofereceu condies para o crescimento das empresas capitalistas (RIDENTI, 1993).
A aceitao ao regime militar no foi deciso exclusiva de A Tarde. Instituies como universidade, empresas e setores da sociedade civil tiveram um papel conciliador, seja porque temiam ser cerceada ou porque usufruam benefcios instaurados pelo regime militar. possvel questionar, contudo, que o pblico que lia o vespertino no era homogneo, nem todos os grupos sociais existentes na sociedade baiana pensavam e agiam como defensores do regime militar.
Havia grupos polticos que, diretamente, se opuseram ao regime militar e estiveram mais suscetveis a sanes, prises e assassinatos. Outros preferiram manter-se em silncio, alguns temerosos, receosos ou se organizando em movimentos sociais de base.
Ao priorizar o discurso oficial, o vespertino contribuiu para construir uma viso dos militares, como legalistas, e os seus oponentes como inimigos internos da nao. A conseqncia foi que a cobertura jornalstica de A Tarde deixou de fornecer informaes que pudessem permitir populao criar um juzo de valor autnomo sobre o regime militar e instituir mecanismos de autogovernana.
RefernciasALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposio no Brasil 1964-1984. Petrpolis: Vozes, 4ed. 1987.
BARROS, Clvis. tica na Comunicao. 4 ed. So Paulo: Summus, 2003.
BRITO, Antonio Mauricio F. Captulos de uma histria do movimento estudantil na UFBA (1964-1969), Salvador: Dissertao de Mestrado em Histria, Programa de Ps-Graduao em Histria, FFCH/UFBA, 2003.
CALMON, Jorge. A censura durante o regime militar. A Tarde. Salvador: 25/10/2005.
CALMON, Pedro. A vida de Simes Filho, Salvador: Empresa Grfica da Bahia, 1986.
GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas a esquerda brasileira: das iluses perdidas luta armada. (Edio Revista e Ampliada). So Paulo, tica, 5 ed. 1999.
GORENDER, Jacob. A Sociedade Cindida. Revista Teoria e Debates. So Paulo. n57 maro/abril, 2004.
MAGALHAES, Marionilde Dias B. A lgica da suspeio: sobre os aparelhos repressivos poca da ditadura militar no Brasil. In: Revista Brasileira de Histria, vol. 17, So Paulo: 1997.
NORA, Pierre. Entre Memria e Histria: a problemtica dos lugares. Projeto Histria, So Paulo, (10), dez.1993.
OLIVEIRA JR, Franklin. A Usina dos Sonhos- sindicalismo petroleiro na Bahia 1954-1964. EGBA, 1996.
RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revoluo brasileira. So Paulo, Edit. da UNESP, 1993
SANTOS, Andra. Ao entre Amigos: histria do Partido Comunista do Brasil em Salvador (1965-1973). Salvador: Dissertao de Mestrado em Histria, Programa de Ps-Graduao em Histria, FFCH/UFBA, 2004.
SANTOS, Jos Weliton Arago. Formao da Grande Imprensa na Bahia. Salvador, 1985. Dissertao apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Cincias Sociais, da Universidade Federal da Bahia.
SILVA, Sandra Regina Barbosa. Ousar Lutar, Ousar Vencer: histrias da luta armada em Salvador (1969-1971). Salvador: Dissertao de Mestrado em Histria, Programa de Ps-Graduao em Histria, FFCH/UFBA, 2003.
TRAQUINA, Nelson. Jornalismo: questes, teorias e estrias. Lisboa: Veja, 1993.
A IMPRENSA BRASILEIRA E A POLTICA NOS ANOS 1960 E 1970: ESVAZIAMENTO POLTICO OU LUGAR DE DESCOBERTA DA MEMRIA SOCIAL?
ARAJO, Angela de Aguiar (MESTRANDA / UNIRIO-RJ / CAPES)
RESUMO
Este artigo analisa as condies de produo do discurso jornalstico durante a ditadura militar, nos anos 1960 e 1970, no Brasil. Todo discurso institucional tem sua legitimidade construda atravs de longos processos scio-histricos de significao na linguagem, pela ideologia (ORLANDI, 2003). A partir do referencial terico-metodolgico da anlise de discurso, buscou-se verificar a relao entre a implantao do regime militar e a produo do discurso jornalstico. Para atingir as metas de segurana e desenvolvimento, os militares instalaram aparelho repressor, utilizando a comunicao para integrar o Pas e para apagar as marcas da violncia e do arbtrio praticados pelo governo. A imprensa, por sua vez, foi marcada pelo processo de expanso dos meios de comunicao de massa e pela substituio do perfil opinativo com a implantao da tcnica jornalstica que privilegia a informao. As alteraes na poltica e na imprensa podem aparentemente indicar um esvaziamento poltico do discurso jornalstico. Percebe-se, entretanto, que o posicionamento de neutralidade, de silenciamento ou de contestao revelam o confronto entre o poltico e o simblico na disputa pela construo de sentidos. O discurso jornalstico emerge, de forma privilegiada, como lugar de descoberta da Memria Social.
Palavras-chave: Jornalismo, Memria Social, discurso, poltica, regime militar, Brasil
UMA PRIMEIRA PALAVRA
Tornou-se natural reconhecer o papel fundamental da imprensa como veculo de transmisso da informao. As mdias jornalsticas conquistaram um lugar privilegiado como instrumento de difuso de representaes sociais. Essa instituio se legitimou na modernidade com uma modalidade de discurso onde se destaca a neutralidade tcnica. A liberdade de imprensa, associada liberdade de expresso, considerada um dos requisitos para as sociedades democrticas.
Mas o que se esquece quando se afirma a metfora do mito da informao jornalstica? Como a imprensa se discursivizou e se institucionalizou a partir de uma imagem de neutralidade na representao da realidade? Como, ao comunicar ou no, ela evidencia o carter poltico e simblico do discurso, bem como da memria? Quais restries ao poder de poder dizer limitaram e marcaram a profissionalizao jornalstica, no Brasil, na segunda metade do sculo XX?
Ao propor esses questionamentos pretende-se compreender as transformaes que marcaram a atividade jornalstica brasileira durante o regime militar nos anos 1960 e 1970. Acredita-se que as mudanas tcnicas impulsionadas pela modernizao dos meios de comunicao e pela profissionalizao da imprensa se traduziram em prticas discursivas que podem ser consideradas como lugar de descoberta da Memria Social.
No h a inteno de apresentar aqui resultados j consolidados de uma pesquisa, mas antes consideraes preliminares obtidas em projeto desenvolvido no Programa de Ps-Graduao Mestrado em Memria Social e Documento da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), no Brasil.
H aqui um esforo de compreenso das condies de produo do discurso jornalstico no Brasil e dos pressupostos terico-metodolgicos da anlise de discurso. Para isso, foi realizada reviso da literatura sobre a Memria Social, anlise do discurso, linguagem, imprensa e histria poltica brasileira.
I. ENTRE O MESMO E O DIFERENTE: A CONSTRUO DOS SENTIDOS
O dizer tem histria. Os sentidos no se esgotam no imediato.
Eni Orlandi, 2003
Para pensar as condies de produo de um discurso, preciso estabelecer a relao entre memria social, linguagem e instituio. O trabalho ideolgico de construo dos sentidos nas sociedades sinaliza a existncia:
a) dos eixos da memria e da atualidade;
b) dos processos de estabilizao (parfrase) e de ruptura (polissemia);
c) do confronto entre o simblico e o poltico.
Todo discurso institucional no existe sem uma historicidade. A instituio resulta de longos processos em que prticas discursivas se legitimaram. A legitimidade, por sua vez, construda atravs da linguagem, que gera normas e regras. Como demonstra Mariani (1999) em anlise sobre o discurso jornalstico, a institucionalizao organiza as direes dos sentidos e as formas de agir no todo social, bem como as adaptaes s transformaes histricas.
Em cada poca e grupo, repertrios de formas discursivas so traados na comunicao scio-histrica. Os sentidos so tecidos por fios ideolgicos. O lugar privilegiado para a manifestao da ideologia e das transformaes sociais, como considera Bakhtin, a palavra:
(...) o meio no qual se produzem lentas acumulaes quantitativas de mudanas que ainda no tiveram tempo de engendrar uma forma ideolgica nova e acabada. A palavra capaz de registrar as fases transitrias mais ntimas, mais efmeras das mudanas sociais (VOLOSHINOV, 1929: 41).
O trabalho ideolgico tece, ao longo do processo histrico, a legitimidade das prticas discursivas. Dois eixos so fundamentais para a realizao de um discurso: o da memria e o da atualidade (ORLANDI, 2003). A memria discursiva sustenta cada palavra atravs do j-dito, ou seja, aquilo que fala antes e em outra situao. J a atualidade marca o contexto imediato, a situao em que produzida cada enunciao.
A confluncia dos dois eixos - memria e atualidade - se d no contexto scio-histrico. Ocorre a a tenso entre a parfrase e a polissemia (ORLANDI, 2003). Os processos parafrsicos representam aquilo que se mantm, a estabilizao e o retorno aos mesmos espaos do dizer. Ao contrrio, a ruptura, o deslocamento e o diferente acontecem nos processos polissmicos.
A linguagem se alimenta dos dois movimentos: estabilizao e desestabilizao. Por um lado, no h sentido sem repetio. Por outro lado, a fonte da linguagem est justamente na diferena de sentidos. Se eles no fossem mltiplos, no haveria necessidade de dizer. Alm disso, para que haja a criatividade (ou ruptura), preciso que o j-dito entre em conflito possibilitando outras direes.
A iluso de origem de sentido pode fazer crer, entretanto, que se fala a partir de uma vontade imediata ou de um lugar neutro. Isso ocorre pois ao mesmo tempo em que a ideologia permite uma interpretao emergir, ela apaga o mecanismo que insere os sujeitos nas prticas histrico-discursivas de construo da significao. Interpreta-se e, ao mesmo tempo, nega-se a interpretao (ORLANDI, 2003).
O sujeito interpelado pela ideologia, podendo falar a partir de determinadas posies. No se pode falar qualquer coisa em qualquer posio, pois toda sociedade constri seus procedimentos de controle e de delimitao dos discursos (FOUCAULT, 2004).
O trabalho ideolgico se d no confronto entre o simblico e o ideolgico. O simblico visto como o efeito de imaginao. A significao no est em um lugar preexistente, como uma essncia, mas resulta sempre da interpretao do mundo pela linguagem. A face poltica a disputa pelo sentido que revela as relaes de poder nas prticas discursivas.
Os fios ideolgicos inscrevem os sentidos na Memria Social. Ela produz o efeito imaginrio de continuidade entre as pocas ou a coerncia narrativa em determinado grupo social:
Entendemos por memria social (...) um processo histrico resultante de uma disputa de interpretaes para os acontecimentos presentes ou j ocorridos, sendo que, como resultado do processo, ocorre a predominncia de uma de tais interpretaes e um (s vezes aparente) esquecimento das demais. Naturaliza-se, assim, um sentido comum sociedade, ou, em outras palavras, mantm-se imaginariamente o fio de uma lgica narrativa. Isto no quer dizer, porm, que o sentido predominante (anule) os demais ou que ele(s, todos) no possa(m) vir a se modificar. Muitas vezes os sentidos esquecidos funcionam como resduos dentro do prprio sentido hegemnico (MARIANI, 1998: 34-5).
preciso ressaltar que a ideologia, como est sendo empregada nesta reflexo, no representa uma ocultao da realidade, mas uma prtica significante onde sujeitos e sentidos se significam na interao social. A partir desta perspectiva, abre-se uma possibilidade de anlise da linguagem como lugar de discurso, lugar de descoberta da Memria Social (ORLANDI, 2003).
Ao aproximar linguagem e ideologia, atribui-se outro sentido para lugar de memria, termo j utilizado por Pierre Nora (1984). Para esse autor, a expresso significa um atributo que marca a mudana da memria espontnea e viva, tpica das sociedades tradicionais orais, para a memria arquivstica e artificial, na modernidade onde impera a tcnica. Diferentemente, o sentido que se pretende neste artigo outro: o lugar da memria discursiva - ou os lugares das memrias discursivas - onde se materializa o mecanismo de significao na linguagem, pela ideologia.
Assim, das sociedades primitivas tradicionais modernidade, das transformaes tcnicas da oralidade at os meios de comunicao de massa, diferentes contextos marcaram a Memria Social. H, entretanto, algo que atravessa a histria, se conformando e se transformando a cada contexto: o discurso, ou melhor dizendo, a memria discursiva.
II. O PODER DE PODER DIZER: O MITO DA INFORMAO JORNALSTICA
Um ponto de partida importante para a anlise do discurso jornalstico o fato de que a imprensa tem como vocao natural a informao. O mito da informao jornalstica enfatiza o relato mais fidedigno dos fatos. Instaura-se, dessa forma, uma linha fictcia entre opinio e informao, separando espaos distintos para cada uma.
O trabalho ideolgico de construo dos sentidos pela imprensa nas sociedades ocidentais implica o reconhecimento:
a) da iluso de neutralidade versus a interpretao presente em toda representao do mundo;
b) dos procedimentos de controle do dizer da sociedade jurdica ocidental;
c) da dicotomia Bem / Mal da moral ocidental crist.
O jornalista projeta para si a imagem de observador imparcial ao narrar / descrever um acontecimento singular, estabelecendo sua relao com um campo de saberes j reconhecido pelo interlocutor (MARIANI, 1998: 60). A imprensa destaca-se como uma modalidade neutra de discurso sobre o mundo. Tem-se a a iluso referencial da linguagem pela verdade-de-informao, que apaga a interpretao presente em qualquer processo scio-ideolgico.
Justifica-se normalmente a legitimidade da imprensa como instituio pela iseno baseada na separao entre informao e opinio. Outro fator importante a possibilidade de controle interno e externo - sendo este ltimo realizado pelo Estado e pelo sistema jurdico. Entretanto, percorrer o processo histrico em que o discurso desta instituio se institucionalizou permite desnaturalizar o mito da informao jornalstica.
As leis de censura sero responsveis pelo surgimento das imagens da informao jornalstica no perodo que vai do sculo XV ao XIX. Passando pelo controle religioso e depois pelo controle jurdico, a liberdade para a escrita chegou a uma legislao prpria sobre o poder de poder dizer algo. A possibilidade de comunicar e de informar afastou-se da opinio e do dizer sem limites. O poder de poder dizer algo ficou ligado censura.
O discurso jurdico estabeleceu regras e punies aos envolvidos na prtica jornalstica. A lei de imprensa ao mesmo tempo em que institui a atividade jornalstica, tambm regula a liberdade que a fundamenta. O discurso de neutralidade tcnica da imprensa resultou de um longo processo histrico de assujeitamento s exigncias do poder religioso, poltico e jurdico, que segundo Mariani, tem o intuito de preservar o status quo de uma elite dominante.
A primeira lei de imprensa de Portugal (1821) - depois copiada pelo Brasil - descrevia quatro tipos de abusos ou delitos cometidos pela imprensa: contra a religio catlica romana, contra o Estado, contra os bons costumes e contra os particulares. Se vislumbrava neste perodo que os jornais deveriam defender o cristianismo, o Estado, os bons costumes e as propriedades. No caberia somente Igreja vigiar e punir, mas a qualquer cidado tornando-se natural vigiar tudo o que fosse dito / escrito contra a Igreja, o Estado, a Moral e a Propriedade (MARIANI, 1999: 57).
No sculo XIX, a imprensa j havia se institucionalizado a partir de um discurso jurdico. Um processo que fez do jornal um lugar de afirmao da imagem do sujeito ocidental. Ao limitar as condies da comunicao e da informao, regulamentou-se a textualizao dos acontecimentos. A limitao do poder de poder dizer visou ao impedimento de se ferir as bases do imaginrio ocidental cristo. A imprensa esquece que se discursivizou a partir desse processo:
O discurso jornalstico est permanentemente evocando um modelo imaginrio de sociedade e de sujeito de direito (...) contrapondo-se a qualquer acontecimento que possa desestabilizar tal modelo. Assim, se na instituio jornalstica, em funo de sua constituio histrica, se espelha a imagem do sujeito de direito, ou melhor, um compromisso com a defesa do Bem, de se esperar que se encontre a impossibilidade de uma absoro do outro (MARIANI, 1998: 85).
A dicotomia Bem / Mal vai ao encontro da moral ocidental crist. A filiao essa moralidade o Bem, o mesmo. O outro, o diferente, representa o Mal, a imagem de qualquer possvel ameaa: Igreja, ao Estado, moral e propriedade. Assim, o trabalho ideolgico apaga o mecanismo que insere os sujeitos nas prticas histrico-discursivas. Resulta da a iluso do jornalismo-verdade, ou seja, iluso de que os jornais so apenas testemunhas, meios de comunicao ou veculos informativos (MARIANI, 1999: 59).
III. IMPRENSA BRASILEIRA (ANOS 1960 / 1970): ESVAZIAMENTO POLTICO?
Se h procedimentos de controle e de delimitao na base de produo de todo discurso e se h uma limitao ao poder de poder dizer na sociedade jurdica ocidental, no de se estranhar que os primeiros atos da imprensa no Brasil tenham sofrido censura do Estado.
A corte portuguesa levou para a colnia a primeira prensa quando se transferiu para o Rio de Janeiro fugindo dos exrcitos de Napoleo. Toda publicao passava pelo exame dos censores reais e eram proibidas declaraes contra o governo, a religio ou os bons costumes. Aps a independncia em 1822, o governo publicou medidas para proteger-se de doutrinas incendirias e subversivas e de princpios desorganizadores e desprezveis (SMITH, 2000: 22).
As regras de censura presentes no sculo XIX so, como descreve Smith (2000: 23), semelhantes s proibies presentes na segunda metade do sculo XX: Desde o Imprio at os tempos da Repblica, dos primeiros pasquins at a criao da imprensa industrializada, no houve um perodo em que o Estado no tentasse controlar e moldar a imprensa de alguma forma.
O controle pelo Estado no se deu somente pela legislao que regulava a atividade da imprensa, mas tambm atravs dos financiamentos dos bancos oficiais, das isenes fiscais, da publicidade oficial, da concesso dos canais (rdio e televiso) e da distribuio das cotas de papel - matria-prima importada fundamental para os jornais.
A imprensa brasileira, que at os anos 1960 teve forte perfil opinativo, se dividiu ao longo de muitas dcadas entre a defesa do governo, como estratgia de sobrevivncia, e a oposio pelas reivindicaes e contestaes. Em qualquer um dos dois lados, o que se percebe uma imprensa marcada pelo posicionamento poltico-partidrio.
Somente na segunda metade do sculo XX, houve alterao do perfil da imprensa brasileira com:
a) a comunicao como estratgia de integrao nacional e apagamento do arbtrio e violncia praticados pelo governo militar;
b) a modernizao da comunicao que passou a ser vista como setor empresarial economicamente vivel;
c) a profissionalizao das redaes.
Quando a democracia foi interrompida em 1964, os meios de comunicao estavam em plena fase de transio. Os jornais avanavam num processo de profissionalizao e empresariamento. A televiso se expandia.
A imprensa de maior prestgio e circulao, como descreve Abreu (2002), teve ao estratgica na instalao do governo militar - tambm chamado de regime militar-civil pelo consentimento civil. Proprietrios da maioria dos grandes jornais se identificava com a Unio Democrtica Nacional (UDN), partido que atuou na deposio do presidente Joo Goulart. Abreu ressalta que entre esses proprietrios estava a famlia Mesquita (O Estado de S. Paulo), Roberto Marinho (O Globo) e Hebert Levy (Gazeta Mercantil).
O contexto poltico da poca era de exaltao contra o comunismo. Havia o temor de que o presidente Joo Goulart realizasse reformas de base. Jornais, polticos, Igreja e empresrios acabaram associando a imagem de Goulart ao comunismo. Isso levou organizao do movimento Marcha da Famlia com Deus pela Liberdade que pedia seu impeachment. Manifestaes semelhantes foram realizadas em vrias cidades do Pas. Jornais chegaram a disseminar a existncia de caos administrativo, o fantasma do comunismo e a necessidade de restabelecer a ordem / disciplina por meio da interveno militar (ABREU, 2004: 15).
O apoio aos militares foi dado para impedir a subverso ou ascenso dos grupos de esquerda ao comando do Pas. O editorial Fora! do jornal Correio da Manh, publicado no dia seguinte ao golpe, trouxe a seguinte afirmao: A nao no mais suporta a permanncia do Sr. Joo Goulart frente do governo. No resta outra sada ao Sr. Joo Goulart seno entregar o governo ao seu legtimo sucessor. S h uma sada a de dizer ao Sr. Joo Goulart: saia (ABREU, 2002: 14).
O setor de comunicao foi chamado a participar e a contribuir disciplinadamente no projeto dos militares que previa, entre outras coisas, a integrao do territrio nacional via telecomunicaes. O apoio do empresariado miditico veio em resposta publicidade oficial, ao financiamento direto ou modernizao tcnica do parque produtivo do setor.
O controle da imprensa no se deu apenas pelo financiamento. Houve a institucionalizao do aparelho repressor que executou, entre outras aes, a censura. As medidas autoritrias se apoiaram no discurso de que era preciso aperfeioar a democracia cumprindo duas metas: a segurana e o desenvolvimento. No discurso dos militares, se a liberdade de imprensa era condio necessria para a democracia, para a democracia aperfeioada seria fundamental uma imprensa aperfeioada, sob a tutela dos militares.
A censura se instalou nas redaes sob as formas de censura prvia ou de auto-censura. Muitos censores / policiais eram jornalistas. A represso e censura silenciou redaes pela morte, pela demisso dos jornalistas que insistiram na posio de combate ao regime ou pela aceitao do pacto de silenciamento.
O jornalista Bris Casoy, que na ocasio ocupava a funo de editor no jornal Folha de S. Paulo, afirmou que por uma questo de sobrevivncia, o Grupo Folha no tinha censor. Tinha decidido no enfrentar o regime. Fez autocensura (KUSHNIR, 2004: 80). Entretanto, alguns jornais de grande circulao chegaram a oferecer uma resistncia substituindo as reportagens censuradas por figuras de demnios, receitas, etc. Lattman-Weltman (2003: 139) ressalta que as funes polticas mais imediatas e tradicionais do jornalismo impresso - a clara exposio da luta pelo poder, a denncia dos desmandos e abusos dos poderosos e do Estado, a defesa dos direitos e liberdades mais fundamentais - inviabilizadas no espao da grande imprensa, foram de certo modo absorvidas pela chamada imprensa alternativa.
Os militares atuaram no somente na tentativa de despolitizao da imprensa, mas tambm no impedimento da ao da Justia e no fechamento da via poltica oposio civil. Decretos do executivo - atos institucionais, atos complementares, instrues, leis de segurana nacional e decretos secretos - permitiram a estruturao do aparelho repressor que realizou cassaes, suspenses de habeas corpus e fechamentos do Congresso Nacional. O controle do aparelho repressor era realizado pelo SNI (comunidade de informao) e pelo sistema Codi-Doi (comunidade de segurana). Como avalia Smith (2000: 37), a histria do regime pode ser deduzida da oportunidade, alcance e linguagem justificativa desses atos.
Foram realizadas ainda auditorias em empresas com funcionrios suspeitos de atuar na resistncia ao regime militar, j que eles eram proibidos de participao nos negcios ou nas redaes. Havia tambm a possibilidade de cassao do registro no caso de dvidas tributrias. O governo poderia suspender a publicidade, negar emprstimos, recusar licenas de importao de equipamento ou papel e confiscar tiragens. Os militares no se limitavam aos veculos de comunicao j que ameaavam fornecedores, prestadores de servios e anunciantes.
A substituio do noticirio poltico pelo econmico e internacional, considerados espaos de menor risco, acabaram favorecendo o governo. Os militares utilizaram as agncias oficiais, consideradas instrumentos eficientes na divulgao da poltica econmica. A estratgia, aliada aos impactos do milagre econmico, ajudaram a legitimar, atravs da imagem do progresso, o governo que se mantinha pela fora (ABREU, 2002: 22).
O governo militar utilizou ainda a propaganda para trabalhar as idias de transformao e construo como estratgia para negar a relao entre a sociedade e poder. Afirmou-se o elo entre as pessoas e o Pas. Personificou-se a figura do Brasil e a figura do brasileiro atravs de smbolos que clamavam uma identidade nacional, a brasilidade. Com essa retrica negou-se que a ditadura estava fazendo propaganda poltica (FICO, 1997: 61). Para os militares, o governo era responsvel por conduzir a reconstruo de uma imagem mais otimista do Brasil.
A Assessoria Especial de Relaes Pblicas (Aerp) e a Assessoria de Relaes Pblicas (ARP), rgos ligados Presidncia da Repblica e responsveis pela propaganda, elaboraram o Plano de Comunicao Social cujo objetivo era afirmar a democracia e a idia de civilizao crist, atenuar as divergncias sobre a imagem do pas no exterior, mobilizar a juventude, fortalecer o carter nacional, estimular o amor ptria, a coeso familiar, a dedicao ao trabalho, a confiana no governo e a vontade de participao (FICO, 1997: 94).
A propaganda militar no se apoiou em manifestaes pblicas, em cartazes, jornais e revistas, mas em adesivos com slogans e em filmes educativos - o que coincide com a modernizao dos meios de comunicao de massa, em especial a televiso. A grande campanha Este um pas que vai pra frente teve incio em 1976. A exibio na TV totalizava um espao dirio de dez minutos. No cinema, eram trs pequenos filmes por sesso. A veiculao era gratuita, j que havia um acordo de cavalheiros. Mas se fosse cobrada, corresponderia ao dobro do valor gasto pelo maior anunciante brasileiro da poca.
O projeto militar para transformar o Brasil numa grande potncia, que incluiu a integrao do Pas pela telecomunicao, contribuiu para a disseminao da TV e inserir a imprensa na era da comunicao de massa. A presena de aparelhos de TV nas residncias brasileiras evoluiu de 9,5%, em 1960, para 75%, na metade dos anos 80. Os efeitos desse veculo de comunicao de massa foram percebidos atravs da propaganda eleitoral gratuita, que contribuiu para a vitria da oposio nas eleies legislativas de 1974. A televiso veio, de acordo com Fico (1997: 112), cobrir o espao deixado vazio pela destruio do sistema poltico-partidrio dos anos 50.
A acelerao do processo industrial a partir dos anos 50 contribuiu para mudanas no cenrio da imprensa brasileira. Em pouco tempo, 80% das receitas dos veculos de comunicao passaram a ser dos anncios. Os jornais comearam a adotar tcnicas de comunicao de massa e gesto empresarial mais racional para atrair anunciantes. Houve modernizao do parque industrial, inovaes grficas e editoriais. Assistiu-se tendncia de concentrao dos meios de comunicao e de crescimento da viso de que as empresas jornalsticas, como qualquer empreendimento, deveriam ser economicamente viveis:
Em um artigo intitulado Nossos jornalistas e seus negcios, publicado em 1976 na revista Viso, foram analisados dados sobre as finanas, a importao de equipamento novo e a construo de novas sedes, com a concluso de que a imprensa, como negcio, estava indo relativamente bem no Brasil. Verificaram-se ndices de lucro de 15% e uma demanda estvel por parte dos anunciantes, apesar da concorrncia da TV e do rdio (SMITH, 2000: 57).
Duas consideraes so importantes. A primeira que a evoluo da distribuio das verbas publicitrias mostra uma inverso no incio da dcada de 1960, quando a TV e o rdio passaram a atrair maior volume, indicando predomnio do mercado audiovisual. Isso implicava, segundo Lattman-Weltman (2003), que o consumidor seria atrado antes pela informao ou entretenimento do que pela pea publicitria. No se pode esquecer ainda o peso da publicidade oficial que era, geralmente, aplicada nos veculos de maior circulao. No por acaso, muitos veculos no resistiram s crises poltico-econmicas por que passou o Pas e outros conseguiram contabilizar positivamente as condies do perodo.
A profissionalizao das redaes tambm contribuiu para alterar o perfil panfletrio dos veculos de comunicao. Nos anos 1960, a imprensa vivia o auge do jornalismo poltico. A linguagem era pouco objetiva e opinativa. Havia forte influncia do modelo jornalstico francs, marcado pelo posicionamento poltico-ideolgico. Um processo lento substitui a referncia francesa pelo modelo norte-americano. Este ltimo tem como um dos pilares principais a separao entre informao e opinio, privilegiando a informao impessoal e a transmisso.
Menos partidrios, os veculos de comunicao adotaram os manuais de redao, que padronizaram a construo textual. Os jornalistas passaram a validar a informao atravs de especialistas e tornaram-se os transmissores do conhecimento especfico de tcnicos que ocupam os altos escales da administrao pblica e privada (ABREU, 2002: 42).
As alteraes tecnolgicas dos meios de comunicao de massa proporcionaram novas possibilidades de impresso e registro audiovisual. Alterou-se a perspectiva de coleta, produo e distribuio da informao. O marketing introduziu pesquisas de mercadolgicas para adequar o produto do veculo de comunicao ao pblico-consumidor-leitor-ouvinte-telespectador. No se disputava mais o leitor-eleitor dos diferentes partidos, mas o leitor-ouvinte-telespectador cliente.
O diploma passou a ser exigido e houve uma progressiva separao entre os setores comercial, administrativo e jornalstico. Isso foi afastando o escritor e o intelectual da redao e construindo a separao entre cronistas / colunistas e reprteres. A profisso, antes vista somente como uma forma de prestgio e um bico - a maioria dos jornalistas tinha vrios empregos -, passou a ser mais bem remunerada.
A comunicao social, e de forma destacada a televiso, assumiu papel fundamental na construo de identidades, imagens, afetos, conhecimentos comuns, sociabilidade, interesses, necessidades, opinies e saberes. Para Gregolin (2003: 106), a imagem - metonmia da realidade uma lembrana materializada que tem, ao mesmo temo, o aspecto testemunhal (testis, testemunho) e o aspecto de reconstruo do real (textum, tecido). Verdadeiras mquinas memoriais, as mdias criam a iluso de referencialidade atravs das tcnicas.
A anlise das condies de produo do discurso jornalstico brasileiro nos anos 1960 e 1970 revela uma importante mudana na relao entre imprensa e poltica, ou entre a imprensa e sociedade. A alterao no se resume substituio do jornalismo opinativo para a profissionalizao tcnica o que poderia indicar um esvaziamento poltico do discurso da imprensa. Tampouco se restringe ao arbtrio / violncia do regime militar que silenciou a voz poltico-partidria de redaes e que se escondeu sob a comunicao vista como aliada para atingir os objetivos de integrao e desenvolvimento do Pas.
A expanso dos meios de comunicao de massa aponta para o que Martinez-Pandiani (2002) chama de mudana do paradigma da Centralidade Poltica da Comunicao para a Centralidade Comunicacional da Poltica. O esvaziamento poltico da imprensa no representou apenas a adaptao estratgica a condies impostas pelo regime militar ou a profissionalizao atravs da incorporao de uma frmula de discurso neutro sobre a realidade.
preciso relembrar que a imprensa se legitimou com o discurso de neutralidade tcnica apagando o longo processo de assujeitamento s exigncias dos poderes religioso, poltico e jurdico. A tcnica da comunicao de massa permitiu que a imprensa assumisse lugar privilegiado na construo e na preservao da Memria Social da sociedade contempornea. No h como simplesmente afirmar o esvaziamento poltico da imprensa em prol de uma tcnica ou pela ameaa de um aparelho repressor do Estado. preciso perceber o poltico (a)onde ele sempre esteve, na disputa pelo sentido que se inscreve na linguagem pelo trabalho ideolgico: entre a memria e a atualidade, entre a estabilizao e a desestabilizao...
Como ressalta Lattman-Weltman (2003), preciso avaliar no s o que os meios tornam visvel, mas tambm como o permitem. Dessa forma, preciso uma pesquisa das suas linguagens e suas especificidades como objeto central e inescapvel de investigao da sociedade contempornea.
Concluso
Em toda poca, desenhado um pano de fundo que legitima as instituies. O discurso jornalstico transformou-se, ao longo do tempo, e a trajetria da imprensa brasileira mostra como esta instituio estabeleceu relao como poder e com os demais poderes na sociedade. Nota-se que a imprensa, para constituir-se como um poder representativo e representante da / na sociedade industrial moderna, adaptou seu discurso a estratgias que visavam sua sobrevivncia e sua legitimidade. por isso que, ao se constituir como mquina de memria ou lugar de memria, ela pode revelar as disputas para a construo de significados / sentidos na sociedade. Ao contrrio do que se pode imaginar, a mudana tcnica que atravessou o jornalismo brasileiro nos anos 1960 e 1970 no representou simplesmente o esvaziamento poltico da instituio, mas um indicativo de que o poltico se aloca na linguagem atravs da construo ideolgica das representaes.
BIBLIOGRAFIA
ABREU, Alzira Alves. Modernizao da imprensa (1970- 2000). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002.
___________________ A participao da imprensa na queda do Governo Goulart. IN: 1964-2004 40 anos do golpe. Ditadura militar e resistncia no Brasil. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004, pp. 15-25.
ARAJO, Maria Paula Nascimento. A utopia fragmentada. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000.
BAKHTIN (Voloshinov, 1929). Marxismo e filosofia da linguagem. So Paulo: Editora Hucitec, 2002.
FICO, Carlos. Reinventando o otimismo. Ditadura, propaganda e imaginrio social no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1997.
FIGUEIREDO, Marcus. Mdia, mercado de informao e opinio pblica. IN: Informao e democracia. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2000.
FOUCAULT, Michael. A ordem do discurso. So Paulo: Edies Loyola, 2004.
GOMES, Wilson. Transformaes da poltica na era da comunicao de massa. So Paulo: Paulus, 2004.
______________ Opinio pblica poltica hoje. Uma investigao preliminar. Porto Alegre: Comps, 2000.
GREGOLIN, Maria do Rosrio (org.). Discurso e mdia: a cultura do espetculo. So Carlos: Claraluz, 2003.
KUSHNIR, Beatriz. Entre censores e jornalistas: colaborao e imprensa no ps-1964. IN: 1964-2004 40 anos do golpe. Ditadura militar e resistncia no Brasil. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004.
KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionrio nos tempos da imprensa alternativa. So Paulo: Editora Universidade de So Paulo, 2003.
MANIN, Bernard. As metamorfoses do governo representativo. IN: Revista Brasileira de Cincias Sociais, no 29, ano 10, out/1995.
MARIANI, Bethnia. O PCB e a imprensa: os comunistas no imaginrio dos jornais. Rio de Janeiro: Revan, Campinas, SP, UNICSMP, 1998.
________________ Discurso e instituio: a imprensa. Rua: Revista da Unicamp - Nudecri, Campinas, SP, no. 5, maro/1999.
MARTINEZ-PANDIANI, Gustavo. La irrupcin del marketing poltico en las campaas electorales de Amrica Latina. Site: http://www.incep.org/dip-nl/irrupcion-marketing.html, em 04/11/2002.
NORA, Pierre. Entre a memria e a histria: a problemtica dos lugares. IN: Projeto de Histria, Revista do Programa de Ps-graduados em Histria e Departamento de Histria, PUC-SP, dez./1993.
ORLANDI, Eni. Anlise de discurso: princpios e procedimentos. Campinas: Pontes, 2003.
SMITH, Anne-Marie. Um acordo forado. O consentimento da imprensa censura no Brasil. Rio de Janeiro, FGV, 2000.
LATTMAN-WELTMAN, Fernando. Mdia e transio democrtica: a (des) institucionalizao do pan-ptico no Brasil. IN: Mdia e poltica no Brasil: jornalismo e fico. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
Os 30 anos da morte de Wladimir Herzog nas revistas brasileiras
Autores:ESCUDERO, Camila Graduada em Jornalismo pela Universidade Metodista de So Paulo (UMESP); ps-graduada em Jornalismo Internacional pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP); e atual aluna do Mestrado em Comunicao Social da UMESP.
FREITAS, Leninne Graduada em Relaes Pblicas pela Universidade Metodista de So Paulo (UMESP); e atual aluna do Mestrado em Comunicao Social da UMESP.
MLLER, Karin Graduada em Comunicao Mercadolgica pela Universidade Metodista de So Paulo (UMESP); e atual aluna do Mestrado em Comunicao Social da UMESP.
TEIXEIRA, Nayara Graduada em Publicidade e Propaganda pela Pontifcia Universidade Catlica de Minas Gerais (PUC-MG); e atual aluna do Mestrado em Comunicao Social da UMESP.
Resumo:O presente trabalho faz uma reflexo crtica sobre o tratamento das principais revistas brasileiras (impressas e on-line) poca, Veja, Isto, Carta Capital, Caros Amigos, Primeira Leitura, Problemas Brasileiros e Carta Maior dado aos 30 anos da morte de Wladimir Herzog, lembrados em 2005. Para isso foi feita uma anlise de contedo qualitativa nas edies de todos os ttulos veiculados na ltima semana de outubro (data que coincide com a morte do jornalista). Acatando intimao feita pelo DOI-CODI/SP para que se apresentasse naquele departamento, Wladimir Herzog na ocasio, diretor de Jornalismo da TV Cultura foi preso no dia 25 de outubro de 1975, acusado por possveis ligaes com o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Nesse mesmo dia, o jornalista morreu em conseqncia das torturas sofridas. Segundo a verso oficial, Vlado, como era conhecido, teria se enforcado com o cinto do macaco de presidirio que vestia desde sua entrada no DOI/CODI. Porm, a histria mostrou que, na verdade, o ele foi assassinado sob torturas.
Palavras-chave1) Histria do Jornalismo, 2) Wladimir Herzog, 3) Tortura e represso.
1. A Trajetria de Vladimir Herzog
Vlado Herzog, como era seu nome originalmente antes de vir para o Brasil, nasceu no ano de 1937, na Iugoslvia. Em 1942, sua famlia resolveu vir para o Brasil fugindo do nazismo que tomava conta de pases europeus. Tempos depois, Herzog j instalado na cidade de So Paulo resolve comear o curso de Filosofia na Universidade de So Paulo e consegue seu primeiro emprego no incio da dcada de 60, como jornalista do jornal O Estado de S. Paulo.
Com o Golpe de 1964, Herzog resolve passar uns tempos com sua esposa na Inglaterra at o perodo mais crtico passar. Logo no incio, conseguiu um emprego na BBC de Londres, na qual trabalhou no servio brasileiro at voltar para o pas, j com dois filhos, no final de dcada de 60 quando o seu contrato de trabalho tambm acabaria. E em uma viagem a Itlia, o jornalista soube pelo seu amigo Fernando Birri e pelos jornais italianos sobre a assinatura do AI-5.
Antes de voltar para o Brasil, Vlado j tinha uma garantia de contrato com a TV Cultura, j que o curso que estava fazendo na Europa exigia a contratao imediata aps o curso em alguma emissora de televiso. Porm, na sua volta ao pas o emprego no foi dado, pois algum o havia denunciado como comunista. Ento, Herzog comea a trabalhar com produo publicitria, voltando imprensa em 1970 na revista Viso. Alm disso, tambm trabalhou na redao da TV Educativa e lecionou na Faap, em So Paulo.
Em 1975, saiu da revista e comeou a trabalhar como chefe da sucursal da cidade de So Paulo do jornal Opinio. Nesta poca tambm dava aulas da Universidade de So Paulo, na Escola de Comunicao e Artes. No mesmo ano, Herzog recebeu um convite para trabalhar na TV Cultura, assumindo o seu cargo em setembro. No seu primeiro dia de trabalho, foi exibido um documentrio sobre Ho Chi Minh, lder comunista. O jornalista chegou a tirar o programa do ar e demitiu o editor, mas mesmo assim as denncias foram feitas sobre Vlado.
A partir da, Vladimir Herzog comeou a ser perseguido pelos agentes do DOI-Codi (Destacamento de Operaes de Informaes / Centro de Operaes de Defesa Interna). Outros 11 jornalistas e amigos dele, como Paulo Markun e sua esposa j estavam presos. O pai de Markun chegou a avisar Vlado sobre as perseguies, mas ele continuou a levar a sua vida normalmente.
Algum tempo depois, em 24 de outubro de 1975, Herzog foi intimado a se apresentar no DOI-Codi, pois queriam que ele esclarecesse as suas supostas ligaes com o Partido Comunista Brasileiro. Seus companheiros Rodolfo Oswaldo Konder e George Benigno Duque Estrada, j estavam l quando Vlado foi se apresentar. Inicialmente, ele negou ligaes com os comunistas, mas depois acabou assumindo-as. Aps uma hora de sua declarao, feita em prprio punho, o jornalista foi encontrado morto. E no dia seguinte, sua morte foi anunciada na Folha de S. Paulo.
No dia 26 de outubro os comandantes do II Exrcito anunciaram que Vladimir Herzog havia se suicidado utilizando o cinto do macaco que usava quando foi preso. Algumas fotos foram publicadas na poca, mostrando o jornalista enforcado.
Um dos mdicos legistas da Diviso de Criminalstica do Instituto de Polcia Tcnica de So Paulo ao fazer o laudo registrou que conforme a posio do corpo e da descrio do local, Vlado Herzog tinha de fato se enforcado. Porm, quando o corpo do jornalista foi mandado para Shevra Kadish (comit funerrio judaico) por ser de religio judaica, o rabino que fez a percia confirmou que havia marcas de espancamento, tortura e que tudo apontava para um assassinato. E mesmo assim, trs anos depois o mdico legista Harry Shibata reafirmou a verso de suicdio sem ao menos examinar o corpo do jornalista. Ainda diz que freqentava as instalaes do DOI-Codi e que nunca constatou nenhum caso de tortura ou agresses, apenas gripes e micoses. O fato que no dava para se acreditar na verso oficial.
Segundo Almeida Filho (1978, p.15), no dia seguinte de sua morte cada pessoa, ao ouvir a notcia da morte de Vlado, sentia-se como que atingida por uma bomba de medo, perplexidade!. Na mesma semana no dia 31, foi realizada uma missa celebrada pelo bispo D. Paulo Evaristo Arns, pelo Rabino Hhenry Sobel e pelo Reverendo James Wright. na Catedral da S, em So Paulo, para homenagear Herzog com a presena de oito mil pessoas que permaneceram em silncio durante toda a cerimnia. Foi um culto para a memria do jornalista, mas tambm um manifesto de todos contra os acontecimentos da poca.
Em 1978, a Justia culpou a Unio pelo assassinato de Herzog, dizendo que as confirmaes de suicdio eram falsas. Quase 20 anos depois, a Comisso Especial dos Desaparecidos Polticos reconheceu o crime praticado e resolveu indenizar a famlia do jornalista.
E ainda em 2004, quando a sua morte completava quase 30 anos, o Correio Braziliense publicou algumas fotos inditas que seriam de Vlado Herzog, pouco tempo antes de ser morto. A publicao causou polmica pois Nilmrio Miranda, secretrio dos Direitos Humanos, declarou que as fotos no eram do jornalista. E logo depois, comandantes do Exrcito declararam que a morte de Herzog teria sido justa, pois era isso que acontecia com quem no permitia um dilogo sincero na poca da ditadura.
O presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva, no gostou da declarao e exigiu uma reformulao da nota pelos militares, dizendo que a postura por eles tomada foi equivocada. O general Francisco Albuquerque se retratou em sua declarao, afirmando que lamentava a morte do jornalista e que no queria mais levantar assuntos passados.
Depois de sua morte, algumas obras foram sendo feitas como livros escritos por Paulo Markun, Fernando Jordo, assim como dissertaes e teses. A tese mais recente sobre o assunto de Mario Sergio de Moraes, sob o ttulo Endereos da Cidadania: o caso Herzog, realizada em 2005 na Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo.
2. Prmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos
O prmio foi idealizado e implantado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de So Paulo, pela Comisso dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (seo de So Paulo), pelo Comit Brasileiro pela Anistia e Federao Nacional dos Jornalistas, alm do apoio da famlia do jornalista dois anos de sua morte. A primeira edio foi realizada na data de sua morte, 25 de outubro, e teve como um de seus primeiros ganhadores o jornalista Antonio Carlos Fon, que tambm foi presidente do Sindicato dos Jornalistas no perodo entre 1990 e 1993.
O objetivo da premiao reconhecer todos os trabalhos que tenham como foco a luta pela cidadania e aqueles que denunciam a excluso social e atos contrrios aos Direitos Humanos. O prmio j foi concedido a grandes nomes do jornalismo como Carlos Tramontina, Caco Barcellos, Chico Pinheiro e Carlos Dornelles.
A premiao dividida em onze categorias, sendo elas: livro-reportagem, arte, fotografia, jornais, literatura, rdio, revista, teatro, TV documentrio ou especial, jornalismo dirio e imagem de TV. Segundo o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de So Paulo, Fred Ghedini, o prmio carrega uma importncia singular pois alm de reconhecer o trabalho de profissionais do jornalismo, perpetua historicamente o nome de Vladimir Herzog, um dos maiores cones da defesa de direitos humanos para as novas geraes" (MaxPress, 2004).
No ano passado, a premiao coincidiu com os 30 anos de morte do jornalista e contou com uma programao especial de mostras e palestras. Foi realizado no dia 25 de outubro, no Memorial da Amrica Latina, no bairro da Barra Funda em So Paulo. Tambm em 2005, foi includo no evento o Prmio Vladimir Herzog de Novos Talentos do Jornalismo.
3. Lembranas do episdio Vlado no cenrio da linha dura
Naquele outubro de 1975, os agentes da ditadura faziam campana para apanhar os indivduos que tinham ligao direta ou indireta com grupos de esquerda, ou mesmo os que simplesmente no concordavam o despotismo instaurado. Em decorrncia, pessoas desapareciam com grande constncia.
A situao no era diferente nas redaes dos jornais. Mesmo regulando todo o material divulgado pelas publicaes e impossibilitando a veiculao de matrias ditas subversivas, o II Exrcito repreendia jornalistas com a justificativa de serem, eles, agentes do PCB infiltrados na imprensa paulista. O Sindicato da classe, por sua vez, se mobilizava e promovia aes que visavam a integridade fsica das pessoas que colocava sob sua guarda; mas, ainda que tivesse uma reao firme frente represso, o rgo no conseguia impedir inmeras barbries.
Jornalistas presos na poca ajudam a visualizar as circunstncias, relembrando a situao de Vlado e a fase da linha dura.
A ditadura militar no prendia. Seqestrava. Inclusive quando a vtima se apresentava aos janzaros. Como Vlado. Ao refm se negavam as mais elementares garantias previstas na legislao. Todo o processo era criminoso. Sob as garras dos rgos de segurana desaparecamos. Ao menos por um tempo. Com maior freqncia o sumio se dava fora do local de trabalho ou de outro, onde a pessoa fosse conhecida. Na residncia, o delito ocorria altas horas da noite. Eventuais testemunhas eram ameaadas. A priso era oficializada (dias, semanas e at meses depois) no DOPS, o brao legal da represso (...) Se os suplcios fsicos e psicolgicos no quebrassem a resistncia da vtima, no raro seus familiares eram seviciados em sua presena. Minha mulher sofreu isso. Outros tiveram filhos, pais e irmos barbarizados sob seus olhos. Centenas foram assassinados. Como Vlado (FREDERICO PESSOA).
Alguns vo parar no olho do furaco por vontade prpria. Outros chegam l por fora das circunstncias. Foi o que aconteceu com Vladimir Herzog e comigo. Desde o seu primeiro dia de trabalho na TV Cultura onde assumira a direo de jornalismo, me entregando a chefia de reportagem , Vlado tornou-se o alvo preferencial de uma campanha que procurava apresentar a emissora como estando sob o perigoso controle dos comunistas, a servio da subverso internacional (PAULO MARKUN).
Cad todo mundo? Naquela manh, at hoje uma data indefinida em minha memria, no vi ps no caminho da cela sala do Capito. Quando me retiraram o capuz, olhei em volta. Tudo deserto. Tudo silncio. S o Capito, sentado diante de mim. Foram todos ao enterro do Vladimir Herzog. Ao enterro do Vladimir Herzog? O Vladimir Herzog morreu? Morreu. Mas como, quando, morreu de qu? Ontem, de cncer na garganta. Foi assim que eu soube da morte de Vladimir Herzog. Lembro de ainda ter comentado algo como: nunca soube o Vladimir tinha cncer... A verdade, s descobri ao ser solta. No fazia idia de que Vlado havia sido preso e executado ali bem perto de mim (...). No conheci Vladimir Herzog. No entanto, a raiva surda ainda presa no peito, a lembrana mais odiosa, mais insuportvel daqueles dias de horror e gritos esse calmo e civilizado dilogo, pelo que encerra de cinismo, de impudncia e desfaatez pela cara-de-pau desse cretino (MARINILDA CARVALHO).
difcil mensurar as atrocidades cometidas pelos rgos de censura, at porque, ainda hoje, proibido o acesso grande parte dos documentos do perodo da ditadura. O que se sabe, entretanto, que as truculncias foram alardeadas principalmente com a repercusso do episdio da morte de Vladimir, que fez reunir na Catedral da S, oito mil pessoas em homenagem e em protesto aos acontecimentos. A reunio destas pessoas, pertencentes aos mais diversos setores da sociedade, constituiu um marco na histria da resistncia ditadura militar e colaborou, posteriormente, para que a democracia passasse do campo da utopia para o campo da realidade.
4. A cobertura do fato 30 anos depois
Trs dcadas depois da morte de Vladimir Herzog, em outubro de 2005, jornais, sites, rdios, revistas e emissoras de TV de todo o pas relembram o fato, sua trajetria e importncia para a volta da democracia no Brasil. Analisar o contedo destes relatos, reportagens e demais materiais pode ser um indicativo de, alm da preservao da memria do Brasil, uma forma de interpretar como os meios de comunicao analisam sua histria, uma vez que o episdio aborda jornalistas, censuras, imprensas etc.
Neste trabalho, no entanto, nos concentramos, como forma de recorte da grande quantidade de material divulgado por todos os veculos, na anlise apenas do contedo sobre o tema das revistas de atualidade e informaes gerais de circulao nacional (on-line e impressas), durante o ms de outubro de 2005. Assim, procuramos o assunto nas seguintes publicaes: poca, Veja, Isto, Carta Capital, Caros Amigos, Primeira Leitura, Problemas Brasileiros e Carta Maior.
RevistaEditoraModalidadePeriodicidadeTiragem / AcessoAno de fundaoVeiculao
Caros AmigosCasa AmarelaImpressa e On-lineMensal50 mil exemplares1997Nacional
Carta CapitalConfianaImpressa e On-lineSemanal58 mil exemplares1994Nacional
Carta MaiorGrupo Folha / JBOn-lineSemanalNo informado2001Nacional
pocaGloboImpressa e On-lineSemanal520 mil exemplares1998Nacional
IstoTrsImpressa e On-lineSemanal430 mil exemplares1976Nacional
Problemas BrasileirosSesc/SenacImpressa e On-lineBi-mensalNo informado1962Nacional
VejaAbrilImpresso e On-lineSemanal1.105.487 exemplares1968Nacional
Fonte: Anurio de Mdia 2005 e sites das publicaes
4.1. Carta Capital
O exemplar da Carta Capital referente terceira semana do ms de outubro (15/10 a 21/10) apresenta, na seo A Semana, um artigo de pouco mais de uma pgina dedicado memria da morte de Vlado.
O texto, escrito por Mino Carta, mostra-se um tanto potico e faz meno ao livro que Mino publicou h seis anos atrs, Castelo de mbar; que segundo ele, uma fico autobiogrfica de Vlado, onde o jornalista ganha o nome de Aldo Walder. Mino conta como o tema o envolveu, passando brevemente pela forma como soube da priso e morte do mrtire e citando as formas de esclarecimento e ajuda que sua angstia o fez procurar.
Conta ele, que ao saber da priso de Vlado procurou entrar em contato com chefe da Casa Civil da Presidncia da Repblica e com o governador de So Paulo, na tentativa de amenizar a situao. No entanto, suas iniciativas foram frustradas, o que o levou a apelar para o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns.
Evaristo Arns, por sua vez, conseguiu falar com o governador Paulo Egydio Martins, que aconselhou que Mino fosse at Santos procura do ento secretrio da Segurana, Erasmo Dias. Teria que lhe dizer a seguinte frase: Volte imediatamente para a capital e assuma o controle da situao. claro que, a seu ver, ir atrs do coronel no era a melhor coisa a fazer; afinal de contas, acreditava que o coronel estava envolvido com as questes da ditadura e seria capaz, at mesmo, de prend-lo. Mesmo assim, foi.
Acabou no se encontrando com Erasmo Dias e voltou para So Paulo. Ao chegar na capital fica sabendo da morte de Vlado e da verso oficial de suas causas, que insistem em suicdio.
Ao contar estes fatos, em vrios momentos Mino cita a si mesmo, entrelaando sua histria pessoal real histria de O Castelo de mbar. Numa das citaes, coloca (...) o torturador preferia ter preservado Vlado para prosseguir na sua tarefa (...) Penso em Vlado e sinto a agulhada. Mas a morte dele exaspera as contradies do regime, aprofunda o conflito que lhe ri os alicerces. a toupeira da Histria em ao.
O que Mino leva a pensar que o intuito dos homens do DOI-Codi no era assassinar Vlado, j que tal fato poderia levar ao que levou: resistncia com encontro marcado na Catedral da S, que ainda perdura sob outras formas (nas greves do ABC, nas exigncias pelas Diretas J etc).
Por fim, Mino faz a crtica: [Vladimir] clamou sem xito, como sabemos, no somente porque o Congresso de ento no respeitou a vontade do povo, mas tambm porque at hoje o anseio democrtico est muito longe da realizao neste nosso Brasil perifrico, submisso e insuportavelmente desigual. O jornalista ainda prossegue dizendo que simblico tambm o fato de que poucos, pouqussimos, entre os companheiros de Vlado, continuem fiis aos ideais dos anos verdes. Muitos aderiram tucanagem, hoje servem aos legtimos herdeiros do udenismo paulista. Acrescenta, parafraseando Santa Joana: quando, Deus, este Brasil estar preparado para receber seus mrtires?.
4.2. Carta Maior
A revista Carta Maior relembra a morte do jornalista Vladimir Herzog em dois momentos: o primeiro na semana do dia 22 de outubro e o segundo na semana do dia 29 de outubro de 2005.
Assinado pela Agncia Carta Maior, o texto intitulado 30 anos sem Vlado, do dia 22 de outubro, relata as vrias homenagens e exposies dedicadas morte de uma das mais conhecidas vtimas da ditadura militar.
Segundo a matria, trs eventos marcaram a memria do acontecimento: exposio Cadernos de Notas Vlado, 30 anos, mostra que suscitou nos artistas plsticos convidados grande carga crtica e obras politizadas; exposio de fotos inditas do velrio e do enterro do jornalista; ato inter-religioso em homenagem aos 30 anos da morte do jornalista com a participao de um coro de mil vozes, sob regncia do maestro Martinho Lutero. Os eventos, organizados pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de So Paulo, foram realizados entre 22 de outubro e 01 de novembro de 2005.
Bia Barbosa foi a jornalista responsvel pela matria do dia 25 de outubro. Herzog, 30 anos: homenagens relembram que tortura ainda praticada no pas uma leitura crtica dos inmeros assassinatos cometidos pelo Exrcito na poca da Ditadura Militar e daqueles que ainda so praticados nos dias atuais, mas, segundo a autora, de uma forma institucionalizada.
Na opinio do jornalista Srgio Gomes, o que existe hoje um processo silencioso de liquidao de muitas pessoas. Se antes havia a censura dos meios de comunicao, que foram, por exemplo, proibidos de noticiar o assassinato de Vlado, hoje a imprensa se cala diante dos crimes que ainda so cometidos pelo Estado.
Barbosa relata que o ato inter-religioso do dia 23 de outubro de 2005 aconteceu no s para reviver a missa do ano da morte de Herzog, mas tambm pela paz e respeito s diferenas. A sociloga Ftima Jordo contou reportagem que a importncia dessa lembrana que houve uma reao muito forte da sociedade e dos jornalistas. Aquilo foi uma virada de pgina, foi um basta e um lembrete para as autoridades que abusos contra a liberdade so intolerados at hoje (...) a tortura praticada hoje. Vivemos um clima de liberdade poltica e, ao mesmo tempo, um enorme clima de restrio de cidadania.
4.3. Isto
Um dos primeiros aspectos que nos chama a ateno no texto da revista Isto sobre os 30 anos da morte de Vladimir Herzog a relao do fato em si com o lanamento (ou relanamento) de livros e documentrios sobre o tema. Ou seja, aproveita-se, num bom sentido, de acontecimentos atuais (as chegadas dos livros e/ou fita) e respectivas entrevistas com seus autores para relembrar uma passagem da histria da ditadura militar brasileira.
A autora da matria, Luiza Villama, entrevista, por exemplo, o jornalista Fernando Pacheco Jordo sobre o fatdico dia da morte de Vlado ao mesmo tempo em que o apresenta como autor do livro Dossi Herzog, editado em 1979, que acaba de ser relanado pela Global Editora, iniciando a srie de homenagens que marcam os 30 anos do episdio.
Os militares voltaram para os quartis, mas as circunstncias exatas da morte ainda no foram esclarecidas. Amigo de Herzog, o jornalista Fernando Pacheco Jordo lembra que, naquela ocasio, uma batalha surda era travada entre duas faces das Foras Armadas. De um lado, estava o presidente Ernesto Geisel (1974-1978), empenhado em promover uma abertura poltica lenta, gradual e segura. De outro, estava a chamada linha-dura, disposta a manter o poder a qualquer custo. Atravs de Herzog, o pessoal da linha-dura queria pegar o governador Paulo Egydio Martins e o secretrio de Cultura Jos Mindlin, afirma Jordo (VILLAMA. In: Isto, out/2005).
Outro entrevistado pela autora foi o tambm jornalista Paulo Markun que, segundo o texto, referenciado como amigo pessoal de Vladimir Herzog e autor do livro Valdo, editado em 1985, e que no ms de outubro de 2005 lana outra obra sobre o tema: Meu querido Vlado a histria de Vladimir Herzog e do sonho de uma gerao, pela editora Objetiva.
O cineasta Joo Batista de Andrade outro entrevistado. O texto o apresenta como autor do documentrio Vlado 30 anos depois, em cartaz nos cinemas.
Eu, que filmava tudo, no filmei nada naquele momento, diz. O clima poltico era quase irrespirvel. No longa-metragem, o cineasta volta ao passado, refazendo a trajetria de Herzog e a realidade de sua poca. (VILLAMA. In: Isto, out/2005).
Outro chamativo do texto da Isto o tom subjetivo e emocional com o qual a autora comea a matria, uma vez que relembra de como Clarice Herzog (viva de Vlado) deu a notcia aos filhos da morte de seu pai. Agora que o Brasil matou papai, ns vamos declarar guerra ao Brasil?, perguntou um dos filhos do casal. Essas e outras informaes foram obtidas pela revista por meio de entrevista com a prpria Clarice que se mostra, quase trs dcadas depois, ainda inconformada com a morte do marido.
Ela (Clarice) no se conforma com a perda. Jamais encontrou consolo no fato de o drama de Herzog ter provocado a primeira reao popular contra a arbitrariedade no Pas. Vlado contribuiria muito mais para a sociedade se estivesse vivo, comenta. (VILLAMA. In: Isto, out/2005).
Por outro lado, a revista traz um contraponto entre o tom emotivo e dramtico com a fria e soberana Justia. Dessa maneira, apresenta uma entrevista com Mrcio Moraes hoje desembargador, mas que em 1978 (trs anos depois do assassinato de Herzog), como juiz federal, responsabilizou judicialmente a Unio pela morte do jornalista.
4.4 Demais revistas
As demais revistas selecionadas poca, Veja, Caros Amigos, Primeira Leitura e Problemas Brasileiros no trouxeram, no perodo analisado, nenhuma matria sobre o tema.
5. Consideraes finais
Consideramos que entre as revistas que publicaram algo sobre o tema os 30 anos da morte de Herzog , a Isto foi a que mais tratou o assunto de maneira ampla e didtica. Por meio de entrevistas com a viva de Vlado, bem como com seus amigos, esclarece o que aconteceu na poca ao mesmo tempo em que faz um paralelo com as conseqncias e repercusses do crime hoje. Outro ponto positivo foi o fato da publicao se aproveitar da atualidade (lanamentos de livros e documentrios) para relatar fatos histricos. No jornalismo essa uma boa estratgia para que a matria no fique descontextualizada e tenha um maior impacto sobre o leitor. Por outro lado, j que a revista se props a fazer entrevistas com diversas pessoas relacionadas ao assunto, nota-se a ausncia da fala de D.Paulo Evaristo Arns, pessoa-chave para que a verdade sobre o suicdio viesse tona, uma vez que celebrou o famoso ato ecumnico em memria do jornalista na Catedral da S fato que teria marcado o incio da derrocada da ditadura. A Carta Maior, por sua vez, apesar de trazer dois textos sobre o tema (o que, em quantidade, a diferencia das demais), no trabalha com profundidade, tanto a morte de Herzog, como as lembranas dos 30 anos da data, limitando-se a relatar eventos sobre o assunto como, por exemplo, exposies. No entanto, um aspecto positivo que podemos ressaltar o fato de, a exemplo de Isto, a Carta Maior fazer um paralelo do ocorrido com os dias de hoje, uma vez que aborda a problemtica das torturas nas prises nacionais, que realmente acontecem, como naquela poca, e a negligncia do Estado em relao a isso.
J a Carta Capital preferiu publicar o relato do seu diretor de redao, o jornalista Mino Carta, num tom pessoal e, s vezes, potico, baseado no livro do autor Castelo de mbar. Se, por um lado, isso foi um grande diferencial do texto da revista da Editora Trs das demais, por outro, dificultou o entendimento e a interpretao dos leitores menos informados sobre o assunto, uma vez que no esclarece pontos bsicos como, por exemplo, quem foi Vladimir Herzog e sua importncia para a histria do pas.
Com relao s demais publicaes analisadas, que no trouxeram nada sobre o tema, consideramos um descaso com a prpria histria do jornalismo brasileiro e, por conseqncia, com a histria dessas revistas. No caso de Veja, que por tantas vezes fez abordagens srias e importantes sobre o tema como a publicao anos mais tarde de um texto (escrito por Marco Antnio Rocha), censurado pela ditadura nos anos 60 ou o especial em seu site com arquivos da revista intitulado Memrias do regime militar: Brasil de 68 a 85 nas pginas de Veja e que desta vez se omitiu, desprezou ou simplesmente ignorou os 30 anos da morte de Herzogerozg.
Outro aspecto notado no material foi a falta de uma postura reflexiva das revistas que levasse o leitor a pensar sobre o papel da sociedade, em especial a juventude (no geral, engajada pela democracia), daquela poca com a atual muitas vezes distante dos reais problemas polticos do Brasil.Referncias Bibliogrficas
AGNCIA CARTA MAIOR. 30 anos sem Vlado. In: Carta Maior. Porto Alegre: Grupo Folha / JB, 2005. Disponvel em: Acesso em 28jan.2005. ALMEIDA FILHO, Hamilton. A sangue quente: a morte do jornalista Vladimir Herzog. So Paulo: Alfa-Omega, 1978.
ANURIO DE MDIA. Volume Segmentos. So Paulo: Editora Meio e Mensagem, 2005.
BARBOSA, Bia. Herzog 30 anos: homenagens relembram tortura ainda praticada no pas. In: Carta Maior. Porto Alegre: Grupo Folha / JB, 20