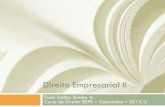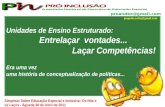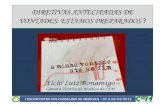Entrelaçar vontades... Laçar Competências! (resumo)
-
Upload
joaquim-coloa -
Category
Documents
-
view
661 -
download
1
Transcript of Entrelaçar vontades... Laçar Competências! (resumo)

SIMPÓSIO SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA“OS NÓS E OS LAÇOS”
Unidades de Ensino Estruturado:
Entrelaçar vontades...
Laçar Competências!
Era uma vez
uma história de conceptualização de políticas...
Joaquim Colôa
30 de Abril de 2011
Os contextos inclusivos são, actualmente, referência obrigatória e politicamente desejável em qualquer documento normativo ou orientador elaborado no âmbito da educação especial em Portugal. Deste pressuposto faz eco o Decreto-Lei 3/2008 e o documento do Ministério da Educação sobre os Centros de Recursos para a Inclusão Reorientação das Escolas Especiais. Este último, ou melhor as suas filosofias e conceptualizações, vai estar no centro desta comunicação. Uma opção que advém do facto de nele se proceder à reorganização dos serviços que, em colaboração com as escolas do regular, trabalham com as diversas unidades nomeadamente as unidades de ensino estruturado. Parece-nos que a relação entre organização de serviços e contextos inclusivos não pode ser mero acaso nem acreditamos que seja mera referência que “alguém” resolveu introduzir num documento técnico / politico. Se for uma mera expressão, um acaso, esta pode correr o risco de banalizar conceitos, filosofias e práticas.
Com base na argumentação do Inclusion Handbook - Access AmeriCorps Disability Inclusion Training and Technical Assistance Project (2004), uma politica que preconiza a acção de determinados serviços, em contextos inclusivos, assume-se como uma política que se orienta para a criação de culturas inclusivas. Culturas que implicam o desenvolvimento desses mesmos serviços de forma flexível e inovadora de forma a responderem às diferenças individuais numa dinâmica de relação com as diferenças de contextos de vida de cada um dos indivíduos. Os serviços que actuam em contextos inclusivos, devem olhar para cada pessoa como única e especial tendo em conta o seu desenvolvimento, assim, como o desenvolvimento do próprio serviço e de outras organizações em que estes intervêm. São serviços que devem mudar a sua perspectiva de avaliação relativizando os aspectos clínicos, de diagnóstico e de classificação. Devem sim, trabalhar no sentido de uma avaliação inclusiva baseada na diversidade das estratégias de recolha de evidências, na diversificação da informação recolhida e na partilha da mesma, com base numa acção colaborativa. É um serviço que não muda somente os modelos de avaliação da pessoa com nee mas também os pressupostos de avaliação do próprio serviço, pois a reflexão crítica é uma função essencial de qualquer serviço dito inclusivo.
Por referência a alguma literatura internacional, nomeadamente como defende o OCDD – Resource Center on Community Inclusion da Louisiana, os denominados centros de recursos para a inclusão são alguns dos serviços que, obrigatoriamente, regem a sua acção pelos princípios antes referidos. São serviços de proximidade, com base comunitária e enfoque local. Serviços aos quais são reconhecidas boas práticas. Intervenções mobilizadoras duma contínua inclusão da pessoa na comunidade em que vivencia as suas experiências. É um serviço que reconhece o poder de decisão da pessoa, do seu utilizador bem como a sua capacidade de autodeterminação, promovendo a acessibilidade e o direito à participação. Os centros de recursos com base comunitária não são serviços de uma qualquer instituição mas sim serviços que resultam de parcerias e acções de colaboração entre diversas instituições / organizações e agências. Serviços a quem
1
Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação EspecialE
Câmara Municipal de Águeda – Serviço de Educação

é reconhecida a capacidade de liderança para desenvolver, relativamente a cada pessoa / utilizador, os pressupostos antes relatados.
Em Portugal o Ministério da Educação (2007), “inscreve” na constituição dessas parcerias e colaboração só e obrigatoriamente as instituições de educação especial. Ao mesmo tempo, enquadra no paradigma sistémico a criação dos centros de recursos para a inclusão que resultam da reorganização “solitária” dessas instituições. Brynard (2010) defende que a reorganização de serviços no âmbito das nee, resulta da colaboração entre diversas instituições. Este pressuposto constitui-se como uma abordagem moderna e verdadeiramente inclusiva quando consegue criar, em determinada comunidade, sinergias que possibilitem o desenvolvimento de trabalho conjunto entre elementos da reabilitação, da educação especial e, ou serviços de saúde e instituições de educação especial já existentes.
Esta reorganização de serviços, assumida de forma mais ampla que em Portugal, com base no paradigma sistémico é segundo Harries; Guscia; Kirby; Nettelbeck; Taplin (2005) também defendida pela AAMR (Luckasson e al., 2002) e pelos sistemas de classificação da OMS (2001). Uma perspectiva que se baseia num olhar sobre a funcionalidade da pessoa, da sua participação e actividade. Uma acção que se centra na interacção entre as condições do sujeito e as condições dos contextos em que este interage. No entanto, Schalock; Verdugo; Bonham; Fantova; Van Loon (2008), argumentam que este princípio é somente uma matriz que justifica essa acção assim como justifica a criação e, ou reorganização de serviços que possam lidar com uma realidade que é tida como complexa e multidimensional.
Regressando às orientações emanadas pelo Ministério da Educação (2007), nestas embora se defenda que a criação dos centros de recursos para a inclusão que, como defende Schalock (2004), se baseia num modelo baseado no conceito de qualidade de vida, pouco mais se aporta para a conceptualização do que serão os referidos centros de recursos para a inclusão em Portugal.
Como argumenta Brynard (2010), no âmbito das nee a ambiguidade de determinada política ou orientação técnica oriunda do poder central pode conduzir à sua deturpação e mesmo colocar em causa o seu desenvolvimento. A implementação destas políticas e orientações devem resultar de reflexões críticas desenvolvidas, primeiro, pelos seus conceptualizadores e posteriormente, mas sempre de forma colaborativa, pelos responsáveis pela sua administração e profissionais que pressupostamente a implementam e operacionalizam, tornando-a um factor de prática, não esquecendo os seus principais beneficiários, as pessoas com nee.
A conceptualização que Schalock (2004) desenha relativamente à reorganização de serviços em redor do conceito de qualidade de vida, parte da necessidade de se encontrarem respostas mais adequadas para as pessoas com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais. A diferença começa logo na forma como se entende o conceito de qualidade de vida, referindo-se o autor a este como: um conceito multidimensional, que integra as mesmas variáveis para todos os sujeitos e que é influenciado pela interacção entre os factores pessoais e ambientais, pelos recursos, pelo processo de inclusão, pelos objectivos de vida de cada pessoa e ser baseado no princípio da autodeterminação. É um macroconceito multidimensional que integra componentes e condições diversas cuja importância varia em função de parâmetros pessoais (idade e sexo) ou sociais (condições sócio-económicas e educativas). “É o grau de coincidência entre o real e as expectativas de determinado indivíduo, onde se realça mais a experiência vivida do que as condições reais de vida ou a opinião de outrem, reflectindo a satisfação e sonhos próprios de cada indivíduo” (Sardinha e Matos, 1999).
Embora Schalock (2004) defenda que a compreensão deste conceito é essencial para a reorganização de serviços e respostas às pessoas com dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais, também argumenta que é necessário conceptualizar essa reorganização à luz de novos paradigmas. Providenciar contextos comunitários que possibilitem o desenvolvimento de qualidade de vida implica redefinir as organizações e os serviços relativamente ao seu papel enquanto elos de ligação na comunidade tornando-os sistemas sociais naturais e importantes de apoio e para o desenvolvimento da colaboração e a partilha. Para o sucesso desta mudança é necessário que os sistemas reflictam estes valores, tanto ao nível individual como organizacional. Necessariamente implica que os serviços envolvam todos os actores de modo a haver partilha de valores, sendo necessária a disponibilização de formação a todos os decisores para se providenciarem respostas individualizadas que se constituam enquanto capital social (Schalock; Verdugo; Bonham; Fantova; Van Loon, 2008). Uma conceptualização que aponta para uma intervenção individualizada
2

centrada nos recursos da comunidade e na colaboração entre serviços. Estes aspectos, implicam o desenvolvimento de avaliação desses serviços com base em metodologias qualitativas, com o objectivo de melhoria dos mesmos (Schalock; Verdugo; Bonham; Fantova; Van Loon, 2008). Como podemos constatar a ideia/conceptualização desenhada pelo autor (Schalock, 2004) referido nas orientações (2007) emanadas pelo Ministério da Educação, é mais abrangente e orientadora do que os princípios que constam nesse mesmo documento. No entanto, se a conceptualização do documento orientador (2007) emando pelo Minsitério da Educação se limita a aludir ao paradigma sistémico e ao conceito de qualidade de vida por referência a Schalock (2004), o referido autor acompanhado por outros investigadores vai mais longe na sua conceptualização clarificando diversos factores imprescindíveis à reorganização de serviços com vista ao seu funcionamento em contextos inclusivos.
Entre outros aspectos destaca-se a necessidade: (1) dos serviços e dos profissionais que desenvolvem os diversos apoios terem formação relativamente à conceptualização, avaliação e implementação de respostas com base no conceito de qualidade de vida de modo a conseguir-se o desenvolvimento e a implementação, com sucesso, de planificações e respostas individualizadas. (2) De descentralização de serviços implicando a capacidade e a autonomia local de modo a poder-se monitorizar e avaliar os resultados, tanto ao nível individual como dos próprios serviços. (3) De ser possível às pessoas com nee decidirem sobre os seus percursos individuais, uma realidade que implica procedimentos mais flexíveis e uma maior variabilidade no que respeita às acções dos diversos agentes que possam intervir. (4) De serem integrados valores e resultados individuais relacionados com a qualidade de vida das pessoas requerendo-se, para isso, uma boa gestão e estilos de liderança que enfatizem: orientação para os resultados, implementação de respostas individualizadas, gestão participada e investigação bem como liderança comunitária possibilitando-se uma impregnação cultural. (5) Das organizações se percepcionarem como comunidades aprendentes (Schalock; Verdugo; Bonham; Fantova; Van Loon, 2008).
Relativamente a este último princípio estabelece-se que a acção das equipas aprendentes se baseia numa conceptualização que as autodirecciona para a construção de sinergias, as focaliza na resolução de problemas e aceitação de novos desafios bem como de novos objectivos reflectindo continuamente sobre realidades complexas (Isaacs, 1999; Lick, 2006). A acção das equipas aprendentes promove a reflexão intragrupo, utilizando recursos de aprendizagem como: i) a investigação, ii) a literatura, iii) a experiência dos profissionais da equipa e de outros profissionais externos à mesma, iv) o recurso a modelos relevantes de aprendizagem e desenvolvimento profissional, v) a integração de conhecimentos, vi) a utilização de dinâmicas criativas e baseadas na resolução de problemas e vii) a avaliação dos resultados integrando-os na reflexão sobre as alternativas de intervenção desenvolvidas. A acção de equipas aprendentes implica tempo: i) para a reflexão sobre os objectivos das organizações e das respostas adoptadas e ii) para a mudança tanto de procedimentos como de papéis de forma a promover-se a mudança e a inovação. Como podemos observar, a esta conceptualização da reorganização de serviços constituídos para responderem, em contextos inclusivos, às pessoas com nee, está subjacente uma matriz de acção que se baseia na colaboração desenvolvida a diversos níveis.
Segundo Ripley (1997) a colaboração envolve um compromisso entre os professores titulares de turma e os professores de educação especial que devem trabalhar em conjunto, entre si e com os órgãos de gestão do agrupamento e da escola, com os técnicos que representam o Ministério da Educação, e com a comunidade no geral. Para ser desenvolvida uma dinâmica de colaboração é necessário disponibilizar tempo, apoios, recursos, monitorização e sobretudo persistência. A colaboração deve antever tempo para a planificação, tempo para o desenvolvimento da intervenção e tempo para serem desenvolvidos processos de avaliação tanto da pessoa com NEE como do próprio processo de colaboração. Estas acções devem ocorrer a diversos níveis: nacional, local, no agrupamento, na escola bem como na sala de aula.
Em jeito de reflexão conclusiva reafirmamos que qualquer ambiguidade normativa, seja ao nível legislativo ou simplesmente de princípios orientadores, é quase sempre contrária à colaboração, à inovação e à mudança. Em nosso modesto entender na base de qualquer política estão princípios filosóficos, ideológicos e mesmo técnicos que (in)formam as conceptualizações. Estas opções, mais quando assumidas politicamente, devem ser claras, partilhadas e reflectidas criticamente, a diversos níveis, de modo a serem envolvidos todos os decisores na operacionalização e implementação das referidas políticas. Para além desta clarificação, urge a reflexão crítica sobre a consolidação de um sistema de avaliação e certificação de serviços colaborativos com base comunitária que desenvolvam a sua actividade em contextos inclusivos. Um
3

princípio que olha para os pressupostos Centros de Recursos para a Inclusão numa perspectiva mais abrangente que a inferida à actividade, sem a desvalorizar, desenvolvida pelas instituições de educação especial nas escolas do regular.
Bem-hajam
Bibliografia
Brynard, P. A. (2010). Challenges of Implementing a Disability Policy. In Administratio Publica, Vol. 18 (4), pp. 108 – 123.
Harries, J.; Guscia, R.; Kirby, N.; Nettelbeck, T.; Taplin, J. (2005). Support Needs and Adaptive Behaviors. In American Journal on Mental Retardation, V. 110 (5), pp. 393–404.
Ministério da Educação (2007). Centros de Recursos para a Inclusão Reorientação das Escolas Especiais. Lisboa: Ministério da Educação.
OCDD – Resource Center on Community Inclusion, consultado a 22 de Março em http://www.dhh.louisiana.gov/offices/?id=144.
Ripley, S. (1997). Collaboration Between General and Special Education Teachers, consultado a 22 de Março em http://www.bridges4kids.org/news/Collaboration8-02.html.
Sardinha, L. B.; Matos, M. G. (1999). Estilos de Vida Activos e Qualidade de Vida. In, Sardinha L. B.; Matos M. G.e Loureiro I., Promoção da Saúde : Modelos e Práticas de Intervenção nos Âmbitos da Actividade Física, Nutrição e Tabagismo, pp. 163-181, Lisboa: FMH.
Schalock, R. L.; Verdugo, M. A.; Bonham, G. S.; Fantova, F.; Van Loon, J. (2008). Enhancing Personal Outcomes: Organizational Strategies, Guidelines, and Examples. In. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Vol. 5, (4) pp 276–285.
Schalock, R. (2004). The Emerging Disability Paradigm and its Implications for Policy and Pratice. In Journal of Disability Policy Studies, Vol. 14 (4), pp. 204-215.
UCP Access AmeriCorps Disability Inclusion Training and Technical Assistance Project. (2004). Inclusion Creating an Inclusive Environment: A Handbook for the Inclusion of People with Disabilities in National and Community Service Programs. USA: UCP Access AmeriCorps Disability Inclusion Training and Technical Assistance Project.
4