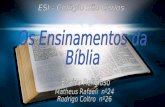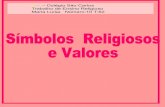Escravos Da Religiao
-
Upload
marcio-soares -
Category
Documents
-
view
32 -
download
2
description
Transcript of Escravos Da Religiao

122
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL
Vanessa Gomes Ramos
“Os Escravos da Religião” – Alforriandos do clero católico no Rio de
Janeiro Imperial (1840-1871)
Dissertação de Mestrado
Rio de Janeiro

123
Março de 2007
“Os Escravos da Religião” – Alforriandos do clero católico no Rio de Janeiro
Imperial (1840-1871)
Vanessa Gomes Ramos
Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito para a obtenção do grau de Mestre em História.
Orientador: Prof. Dr. Manolo Garcia Florentino
Rio de Janeiro

124
Março de 2007 “Os Escravos da Religião” – Alforriandos do clero católico no Rio de Janeiro
Imperial (1840-1871)
Vanessa Gomes Ramos
Orientador: Prof. Dr. Manolo Garcia Florentino
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em História
Social -Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do Título de Mestre em História Social.
Aprovada por: _______________________________________________ Prof. Dr. Manolo Garcia Florentino – Orientador Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) _______________________________________________ Prof. Dra. Ana Lugão Rios Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) _______________________________________________ Prof. Dr. José Roberto Góes Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) _______________________________________________ Prof. Dr. Francisco José Silva Gomes Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) _______________________________________________ Prof. Dr. Carlos Engemann Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

125
Rio de Janeiro / Março de 2007 Ficha Catalográfica
RAMOS, Vanessa Gomes.
“Os Escravos da Religião” – Alforriandos do clero católico no Rio de Janeiro Imperial (1840-1871) - Vanessa Gomes Ramos. Rio de Janeiro: UFRJ, PPGHIS, 2007.
xii, 158 f.: 31 cm. Orientador: Manolo Garcia Florentino Dissertação (Mestrado) – UFRJ / IFCS / Programa de Pós-Graduação
em História Social, 2007. Referências Bibliográficas: f. 154-158. 1 – Escravidão. 2 – Rio de Janeiro. 3 – Alforria. 4 – Clero católico.
I – Ramos, Vanessa Gomes. II – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em História Social. III – Título

126
Resumo
O trabalho tem como um de seus objetivos mais gerais apresentar, por meio das
cartas de alforria, numa amostra de 370 registros, a especificidade da escravidão exercida
por clérigos católicos na cidade do Rio de Janeiro. Na historiografia brasileira há uma
variedade de autores que buscaram identificar os padrões de alforria em diferentes regiões
do país. Todavia, as manumissões concedidas pelo clero católico, diluídas no conjunto total
das alforrias, não nos permitem perceber uma possível peculiaridade eclesiástica. Dessa
forma, procuramos estabelecer especificamente os padrões de alforria do clero. Além de
evidenciar as diferenças, no tocante à escravidão, entre as práticas do clero regular e do
secular.
Os escravos e os alforriandos de eclesiásticos são o principal objeto desta pesquisa,
cuja base empírica constitui-se de cartas de alforria, documento manuscrito de natureza
cartorária, emitidas pelo clero católico e registradas no primeiro, segundo e terceiro Ofícios
de Nota do Rio de Janeiro, no período de 1840 a 1871. Além de inventários post-mortem de
alguns padres seculares encontrados no Arquivo Nacional.
Identificamos os padrões de tipo de alforria, naturalidade e sexo dos “alforriandos
do religião”. Além também de identificar os tipos de formação familiar mais recorrentes no
plantel eclesiástico, evidenciando os “arranjos familiares” formados para a saída do
cativeiro. Ainda, realizamos uma, ainda, incipiente análise sobre a temática da liberdade e
seus diferentes significados, discutindo a “polêmica” questão da alforria condicional e o
sentido desta para o alforriado.

127
Abstract
The purpose of this work is understand, through the enfranchisement letters, in a
sample of 370 registrations, the specificity of the slavery exercised by Catholic clergymen
in the city of Rio de Janeiro. In the Brazilian historiography there is a variety of authors that
looked for to identify the enfranchisement patterns in different areas of the country.
Though, the manumissions granted by the Catholic clergy, diluted in the total group of the
enfranchisements, they don't allow to notice us a possible peculiarity ecclesiastical. In that
way, we tried to establish the patterns of enfranchisement of the clergy specifically. Besides
evidencing the differences, concerning the slavery, among the practices of the regular
clergy and of the secular.
The slaves and the alforriandos of the clergy are the main object of this research,
whose empiric base is constituted of enfranchisement letters emitted by the Catholic clergy
and registered in the first, second and third Ofícios de Nota of Rio de Janeiro, in the period
from 1840 to 1871. Besides some secular priests' inventories post-mortem found in the
National File.
We established the patterns of enfranchisement type, naturalness and sex of the
"slaves of the religion." Beyond also of identifying the more appealing types of formation
relative in the ecclesiastical plantel, evidencing the "family arrangements" formed for the
exit of the captivity. Still, we accomplished a, still, incipient analysis on the theme of the
freedom and their different meanings, discussing the "controversy" subject of the
conditional enfranchisement and the sense of this for the alforriado.

128
Agradecimentos
Ao meu professor e orientador Manolo Garcia Florentino. Este trabalho não poderia
ter sido concluído sem a sua orientação amiga e (pra lá de bastante) paciente. Sua
contribuição transcende esta dissertação. Desde 2002 vem me ensinando a arte de “fazer
História” e o real sentido de “ser historiador”.
À CAPES – pelo financiamento desta pesquisa, sem o qual tudo seria mais
complicado.
À professora Ana Rios não poderia deixar de expressar especial agradecimento. A
convivência com ela desde a graduação tem sido de inestimável valor. Na ocasião do
Exame de Qualificação suas observações deveras pertinentes foram cruciais ao
desenvolvimento da pesquisa. A você, muito obrigada.
Ao professor José Roberto Góes por suas tão importantes considerações de ordem
metodológica que serão, inclusive, muito úteis num futuro trabalho de doutorado, além de
sua gentileza durante o Exame de Qualificação.
Aos professores das disciplinas cursadas ao longo do primeiro ano de mestrado:
Francisco José, João Fragoso, Mônica Grin e Didier Lahon. Os debates em sala de aula
foram de grande valia para a elaboração e enriquecimento do trabalho.
Aos funcionários do Arquivo Nacional, especialmente Rosane e Sátiro, sempre
prontos a ajudar com boa vontade.
Às “meninas da Pós”, Gleidis e Sandra, sempre solícitas a resolver as “pendengas”
burocráticas. Agradeço aos sorrisos sempre estampados e aos divertidos “papos” nas horas
de folga, às vezes em horas nem tão folgadas assim...
Ao colega Carlos Engemann. Sua enriquecedora colaboração durante a época da
graduação se faz muito presente neste trabalho.
À Jana, pelas oportunas discussões seja no IFCS, nos “cafés” da Manon ou no “apê”
da Glória. Obrigada pelo apoio nas horas de dificuldades.
Aos meus amigos (incluindo os consangüíneos) de fora da órbita acadêmica,
essenciais a minha vida. Graças a Deus, são muitos e não caberia numerá-los nestes breves

129
agradecimentos. Todos nem imaginam o quanto me ajudaram. Obrigada pela amizade
sincera e pelos preciosos momentos de descontração.
À minha família devo muito mais que gratidão. Meus pais, Aprigio e Celeste, meu
irmão Douglas, encarnam o verdadeiro sentido da palavra família. Obrigada pelo apoio e
amor incondicionais.
A Renato, meu porto seguro. Mais que simplesmente marido: meu companheiro e
amigo inseparável. Aturou com paciência inesgotável, até os 48 do segundo tempo, meus
“surtos e chiliques”. Obrigada por estar presente em cada página dessa dissertação.

130
SUMÁRIO
LISTA DE GRÁFICOS......................................................................................10
LISTA DE TABELAS ........................................................................................11
EPÍGRAFE..........................................................................................................12
INTRODUÇÃO ..................................................................................................13
CAPÍTULO I – Rumo à liberdade....................................................................17
1. A Alforria na historiografia ...........................................................................18
2. Acordos para a liberdade ................................................................................27
3. Coartações, prestações, trocas – meandros da liberdade ................................30
4. A alforria paga – preços e valores ..................................................................34
CAPÍTULO II – Padrões das alforrias eclesiásticas .......................................43
1. Tipos de alforria..............................................................................................49
2. Africanos e crioulos entre os escravos do clero .............................................61
3. Homens e mulheres – servos da religião ........................................................68
CAPÍTULO III – A família cristã entre os “escravos da religião” ................72
1. O surgimento da família escrava na historiografia...........................................73
2. Catolicismo e família escrava – a teoria católica .............................................78
3. A alforria e os arranjos familiares – a prática católica .....................................83
BREVES REFLEXÕES ...................................................................................105
1. Liberdades ......................................................................................................106
2. Liberdades e alforrias condicionais ................................................................114
CONSIDERAÇÕES FINAIS...........................................................................117

131
ANEXOS............................................................................................................119
FONTES E BIBLIOGRAFIA..........................................................................151
Lista de gráficos
1. Flutuações dos preços das alforrias e dos escravos adultos (15-40 anos
de idade) do sexo masculino, meios urbano e rural do Rio de Janeiro,
1790-1869, em mil-réis e libras esterlina 39
2. Emancipações Pagas e Gratuitas ................................................................................45
3. Distribuição (%) dos tipos de cartas de alforrias, Rio de Janeiro (1789-1864)..........48
4. Porcentagem de alforriando por tipo de alforria no Rio de Janeiro – clero total –
1840-1871.................................................................................................................49
4.1. Porcentagem de alforriando por tipo de alforria no Rio de Janeiro – clero regular e
secular – 1840-1871 .................................................................................................50
4.2. Porcentagem de alforriando por tipo de alforria (clero regular)..............................50
4.3. Porcentagem de alforriando por tipo de alforria (clero secular)..............................51

132
Lista de Tabelas
1. Distribuição de alforriandos por naturalidade (1840-1871) 63
1.1 Distribuição de alforriandos por naturalidade (1840-1850)......................... 63
1.2 Distribuição dos alforriandos por naturalidade (1851-1871) ....................... 64
2. Distribuição das alforrias por sexo nos respectivos cleros (1840-1850) 70
2.1 Distribuição das alforrias por sexo nos respectivos cleros (1851-1871)
70
3. Distribuição dos “arranjos familiares” presentes nas cartas de alforria do
clero regular e secular no Rio de Janeiro (1840-1871) 87

133
“‘Maldito seja Canaã, disse ele; que ele seja o escravo dos escravos de seus irmãos!’ E Noé acrescentou: ‘Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja o teu escravo! Que Deus dilate a Jafet; e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja teu escravo!’”. (Gênese, cap. 9: 25-27)

134
Introdução
“Cristianismo e escravidão não podem conviver, mas, ‘igrejismo’ e escravidão são irmãos gêmeos”.1 (James Redpath)
A citação acima, apesar de bastante idealista, disfarça uma realidade vivida pelas
pessoas que foram contemporâneas ao sistema escravista. No Brasil, por quase
quatrocentos anos, cristianismo não foi sinônimo de abolicionismo. Desde o século XVII,
os letrados que escreveram sobre o trabalho escravo, clérigos em sua maioria, procuraram
fundamentá-lo em termos morais, jurídicos e religiosos.2 Tais letrados recorriam à bíblia
para encontrar justificativas ideais para a condição de “ser cativo”. Além de fundamentar a
escravidão, o clero contribuiu para sua manutenção na medida em que foi proprietário de
grande contingente de escravos.
Os escravos e os alforriandos de eclesiásticos são o objeto principal desta pesquisa,
cuja base empírica constitui-se de cartas de alforria, documento manuscrito de natureza
cartorária, emitidas pelo clero católico, registradas no primeiro, segundo e terceiro ofícios
de nota do Rio de Janeiro, no período de 1840 a 18713. Além de inventários post-mortem
de alguns padres seculares encontrados no Arquivo Nacional.
O trabalho tem como um de seus objetivos mais gerais apresentar, por meio das
cartas de liberdade, numa amostra de 370 registros, a especificidade da escravidão exercida
por clérigos católicos na cidade do Rio de Janeiro. Na historiografia brasileira há uma
1 Apud GENOVESE, Eugene. A Terra prometida. O mundo que os escravos criaram. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Brasília: CNPq, 1988. 2 VAINFAS, Ronaldo. Ideologia e Escravidão. Os letrados e a sociedade escravista no Brasil colonial. Petrópolis: Vozes, 1986. 3 Foram analisadas todas as cartas de alforria registradas nos 1°, 2° e 3° Ofícios de Notas, entre os anos de 1840 e 1871, porém os registros realizados entre os anos de 1865 e 1869 não foram vistos.

135
variedade de autores que buscaram identificar os padrões de alforria em diferentes regiões
do país. Todavia, as alforrias concedidas pelo clero católico, diluídas no conjunto das
manumissões, não nos permitem perceber uma possível peculiaridade eclesiástica. Dessa
forma, procuramos estabelecer especificamente os padrões de alforria do clero. Além de
evidenciar as diferenças, no tocante à escravidão, entre as práticas do clero regular e do
secular.
Este trabalho inicia-se com uma discussão sobre a “evolução” do tema “alforria” na
historiografia, tanto a nacional como a internacional. Podemos dizer, que cada historiador
da escravidão compreendeu esta questão de acordo com suas próprias definições teóricas
concernentes ao regime escravista e seus significados no interior da sociedade brasileira.
Depois, discutimos alguns acordos que poderiam ser convencionados entre os senhores e os
escravos para a assinatura final do documento de liberdade. Para isso, explicamos a
metodologia utilizada para classificar as alforrias em “pagas”, “gratuitas” ou
“condicionais”.
Também neste primeiro capítulo, discorremos sobre alguns caminhos que poderiam
levar o escravo à conquista de sua liberdade, discutindo determinadas variações da alforria
“paga”, como a coartação, a prestação e a troca por outro cativo. Além disso, abordaremos
a questão específica dos preços das alforrias compradas pelos escravos, com o intuito de
verificar se havia uma diferença entre os valores cobrados por leigos e religiosos.
No capítulo 2 procuramos analisar os padrões das alforrias concedidas
especificamente pelos eclesiásticos. Diferentes autores buscaram identificar os padrões de
manumissões em diferentes regiões do país4. Assim, tecemos comparações com as
tendências já identificadas para as alforrias de um modo geral e, buscamos perceber uma
possível peculiaridade eclesiástica. Ainda, evidenciamos as diferenças existentes no interior
do próprio clero católico, ou seja, entre os regulares e seculares.
Com relação às alforrias registradas por eclesiásticos no período entre 1807-31,
Mary Karasch afirmou:
4 Cf. FLORENTINO, M. Alforrias e etnicidade no Rio de Janeiro oitocentista: notas de pesquisa. TOPOI. Revista de História. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ / 7 Letras, n. 5, set.2002; KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). SP: Companhia das Letras, 2000; SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru. São Paulo: EDUSC, 2001; MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Propósito de cartas de alforria na Bahia, 1779-1850. Anais de História. Marília, n. 4, 1971; PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos. São Paulo: ANNA-BLUME, 1995.

136
Catorze sacerdotes alforriaram 34 escravos (...). Somente uma de suas
alforrias estabeleceu preço; a maioria delas foi incondicional ou dada em testamento. Esse é o único grupo social que libertava homens escravos sem compensação monetária. As ordens religiosas raramente libertavam cativos nessa amostra5.
A partir da construção de um banco de dados e da análise de seu conteúdo
percebemos que a citação acima não serve como padrão para o período delimitado nesta
pesquisa. Veremos adiante que nem sempre a maioria dos padres e das ordens alforriava
seus cativos sem uma “compensação monetária”. Ao contrário, ao longo da pesquisa
percebemos que justamente as ordens religiosas alforriaram mais da metade de seus cativos
mediante o pagamento em dinheiro.
Em relação à quantidade de cartas de alforria, podemos afirmar haver uma
considerável diferença entre o período analisado por Karasch e a época posterior. Houve um
significativo aumento do número de escravos alforriados por clérigos. Para termos uma
idéia, somente no primeiro ofício de notas, o único analisado pela autora, achamos 61 cartas
entre os anos de 1840 e 1871, sendo 34 do clero secular e 27 dos regulares.
Ainda no segundo capítulo, identificamos os padrões de naturalidade e de gênero
presente nas manumissões dos “escravos da religião”. Percebemos que as diferenças
encontradas entre seculares e regulares mostram-se como resultados das desiguais
condições de vida dos escravos pertencentes a cada setor eclesiástico, isto é, possuíam
diferentes tipos de moradia, de relacionamento com outros cativos, de grau de parentesco,
de acumulação de pecúlio e de funções exercidas.
No capítulo 3 abordamos a questão da família escrava e o papel que esta assumia no
processo de manumissão dos “escravos eclesiásticos”. Começamos fazendo uma breve
discussão sobre o recente “nascimento” da família escrava na historiografia. Depois, a partir
da análise das cartas de alforria, procuramos compreender o significado, para o escravo do
clero, de estar inserido em redes familiares, além de verificar se a condição de aparentado
5 KARASCH, M. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 450.

137
favorecia, ou não, a obtenção do documento de liberdade. Buscamos ainda, estabelecer os
padrões dos tipos de família predominante no cativeiro clerical, evidenciando os “arranjos
familiares” formados para a saída do cativeiro.
Por fim, na última parte desta dissertação, que denominamos de “breves reflexões”,
desenvolvemos uma incipiente análise sobre a temática da liberdade e seus diferentes
significados, a partir de autores que já se debruçaram sobre essa questão. Discorremos
sobre os significados de liberdade para senhores e escravos e a aplicação deste conceito na
vida dos alforriados. Além disso, nesta parte final, discutimos a “polêmica” questão da
alforria condicional, procurando entender a representação desta para o escravo, que se
encontrava na difícil condição de meio cativo e meio liberto.

138
Capítulo I – Rumo à liberdade

139
1 – A alforria na historiografia
No que tange ao tema específico das alforrias no Brasil, faz-se necessário entender
que cada historiador da escravidão pensou nesta temática de acordo com suas definições
teóricas a respeito do regime escravista e seus significados no interior da sociedade
brasileira.
Variados estudos elaborados ao longo do século XX dedicaram-se à análise das
alforrias e implicações subjacentes. Há muito já se comprovou que o Brasil distinguiu-se
dos demais países escravistas da América, por ter libertado o maior número de cativos por
meio da via institucional.6 Então, essa temática tem em nossa sociedade significado deveras
especial. Esse fato ensejou diversas pesquisas realizadas por historiadores nacionais e
internacionais que privilegiaram, sobretudo, a história comparada. Buscou-se compreender
as causas desse “diferencial”, identificando as peculiaridades inerentes aos diferentes
sistemas escravistas.
Podemos dizer que a grande emissão de manumissões em nossa sociedade,
considerada nas primícias como resultado direto de uma “leniência” da escravidão
brasileira, foi a base de inúmeros trabalhos cujo objetivo era explicar tal realidade.
Portanto, há uma variedade imensa de elaborados estudos acerca desse assunto. Seria
inviável analisarmos aqui, numa dissertação de mestrado, todas essas obras. Façamos,
então, apenas uma breve discussão sobre algumas delas.
Dois autores norte americanos dedicaram-se a esta questão, mas a compreenderam
de maneira antagônica: Frank Tannenbaum e Marvin Harris. O primeiro, na década de
1940, foi influenciado pela obra de Gilberto Freyre e almejou explicar as diferenças entre
dois pólos de colonização: As colônias inglesas, principalmente os Estados Unidos e a
América Ibérica, enfatizando, sobretudo, o Brasil. Tannenbaum baseou sua argumentação
em fatores culturais e institucionais. Para ele, a amenidade da escravidão brasileira resultou
6 Ver, por exemplo, MERRICK, Thomas W e GRAHAM, Douglas H. População e Desenvolvimento Econômico no Brasil. Rio de Janeiro, Zahar, 1981, p. 76.

140
de interferências da Igreja Católica e da existência de um arcabouço legal que visava
proteger o cativo dos excessos senhoriais7.
Conforme este autor, a influência da Igreja sobre a instituição escravista foi
determinante para estabelecer um verdadeiro contraste entre as sociedades colonizadas pela
Inglaterra e as colonizadas pelos países Ibéricos. Aos escravos pertencentes às primeiras
eram, quase sempre, negados privilégios do cristianismo, como o batismo, o casamento e a
educação religiosa. Enquanto nas segundas, a Igreja favorecia até mesmo a alforria, pautada
sempre na idéia da igualdade de todos os homens perante Deus. Além disso,
especificamente no Brasil do século XVIII não havia apenas inúmeros fiéis negros, mas
também, segundo Tannenbaum, negros assumindo cargos de clérigo, como bispos. Essa
diferença entre as sociedades em questão decorre, sobretudo, do fato de que “the element of
human personality was not lost in the transition to slavery from África to the Spanish or
Portuguese dominions. He remained a person even while he was a slave”.8
Referente à obtenção da liberdade, Tannenbaum afirma que as leis e as tradições na
Espanha e na América Portuguesa proporcionavam aos escravos maiores possibilidades de
conquistar sua carta de alforria. Já os cativos que viviam na América do norte e nas
colônias inglesas não tinham a mesma sorte, já que nessas regiões havia todo um aparato
legal hostil à alforria. Logo, para Tannenbaum:
The frequency and ease of manumission, more than any other factor, influence the character and ultimate outcome of the two slave systems in this hemisphere. For the ease of manumission bespeaks, even if only implicitly, a friendly attitude toward the person whose freedom is thus made possible and encouraged, just as the systematic obstruction of manumission implies a complete, if unconscious, attitude of hostility to those whose freedom is opposed or denied. And these contrasting attitudes toward manumission work themselves out in a hundred small, perhaps unnoticed, but significant details in the treatment of the Negro, both as a slave and when freed.9
7 TANNENBAUM, Frank. Slaves and Citizen. Boston: Bacon Press, 1946. 8 Idem, pp. 97 e 98. 9 Idem, p. 69.

141
Logo, o grande volume de manumissões seria conseqüência direta de um sistema
mais humanizado. Para este autor, as alforrias mostravam-se como “coeficientes” de
brandura e não exatamente um elemento estrutural do sistema escravista. Além disso, no
Brasil o liberto tinha acesso, mesmo que por meio de “uma porta entreaberta”, à política, às
artes e à cultura em geral, e desenvolvia um papel na vida social que era totalmente
desconhecido na sociedade norte-americana.10 Assim, Tannenbaum conclui em seu trabalho
que:
In Brazil and Spanish America the law, the church, and custom put few impediments in the way of vertical mobility of race and class, and in some measure favored it. In the British, French, and United States slave systems the law attempted to fix the pattern and stratify the social classes and the racial groups.11
Inferindo então as panfletárias idéias de Frank Tannenbaum, a influência da Igreja
Católica, as leis e os costumes foram determinantes em propiciar uma escravidão mais
branda e suave na América Ibérica. Assim, em decorrência dessa particularidade, os negros
e mulatos libertos tiveram poucos impedimentos à mobilidade social e logo puderam
inserir-se em todos os setores da sociedade.
Na década de 1960, Marvin Harris publicou um livro – Padrões Raciais na América
– no qual contestou a tese defendida por Tannenbaum. Conforme aquele autor, o alto
número de escravos alforriados no Brasil estava diretamente ligado a especificidades
demográficas e econômicas.
Os Estados Unidos e a América Latina sofreram a experiência de tipos totalmente diferentes de colonização. Quando a Espanha e Portugal iniciaram sua ocupação no Novo Mundo foram atormentados pela drástica falta de homens disponíveis, o que lhes dificultou a tarefa de encontrar colonos para seus extensos impérios (...). As migrações de
10 Idem, p. 4. 11 Idem, p. 127.

142
ingleses e britânicos para o Novo Mundo seguiram um ritmo completamente diferente. Embora o movimento começasse quase um século depois, logo alcançou uma magnitude que não encontrou paralelo na América Latina até o século XIX.12 Segundo Harris no século XIX, menos de 20% da população brasileira era composta
por brancos, ao passo que na sociedade norte-americana a população negra não
ultrapassava os 20%.13 Logo, o perfil demográfico, a proporção de “brancos para não-
brancos” entre o Brasil e os Estados Unidos era exatamente o oposto. Essa característica
explica, para o autor, o grande número de alforrias emitidas no Brasil, apesar de reconhecer
que em nossa sociedade o número de escravos libertados sempre foi maior, tanto em
números absolutos como proporcionalmente. Todavia para Harris, “a disparidade pode não
ter sido tão grande quanto certas pessoas acreditam”, visto que em nossa sociedade só havia
duas vezes mais libertos do que nos Estados Unidos.14
Além disso, para explicar o menor índice de alforria na sociedade norte-americana,
Harris afirma que os Estados Unidos possuíam um excesso populacional (imigrantes
ingleses) que preenchia todos os setores do mundo do trabalho – exceto os das plantations,
que eram primordialmente dos escravos – naquele país. Dessa forma: “não havia realmente
lugar para o escravo libertado se enquadrar15” na sociedade norte-americana. No Brasil, a
situação de escassez de mão-de-obra configurou um quadro no qual o liberto encontrava
uma maior oportunidade de se engajar no processo econômico-social, sobretudo porque a
imigração portuguesa não era suficiente para ocupar o chamado setor terciário da
economia. Assim, para se resolver a carência de trabalhadores de origem européia os
“brancos não tiveram alternativa (e) foram forçados a criar um grupo intermediário que se
colocasse entre eles e os escravos16”. Este grupo, composto por mestiços e negros libertos,
exerceriam funções das quais os escravos eram incapazes de realizar.
Ainda, Harris afirma que:
12 HARRIS, Marvin. Padrões Raciais na América. Rio de Janeiro. São Paulo: Civilização Brasileira, 1967, pp. 130 e 131. 13 Idem, p. 134. 14 Idem, p. 136. 15 Idem, p. 141. 16 Idem, p. 137.

143
A alforria pode ter sido um tanto mais freqüente no Brasil do que nos Estados Unidos, mas não tão mais freqüente a ponto de ser usada com segurança como indicação de que a escravatura no Brasil era uma instituição mais suave do que nos Estados Unidos. Deve-se ter em mente que a maior proporção de pessoas de cor em relação aos escravos no Brasil possa até certo ponto representar a maior ansiedade por parte dos brasileiros que possuíam escravos de livrar-se do encargo e do sustento de pessoas idosas ou enfermas.17
Portanto, as manumissões do sistema escravista brasileiro eram concedidas a grande
número de escravos velhos ou doentes. Logo, não caracterizava necessariamente uma
sociedade branda. Para Harris, a racionalidade global do sistema, adicionada a uma
racionalidade individual dos senhores, explicam a alta incidência de alforrias no Brasil.
Além dos norte-americanos, muitos historiadores brasileiros, interessados no
processo de libertação do cativo, debruçaram-se sobre tal tema. No final da década de 1970,
Jacob Gorender, pautado em modelos teóricos totalizantes, encarou o curso da liberdade do
escravo como um elemento estrutural do modo de produção escravista. Segundo Gorender,
os senhores alforriavam seus escravos, sobretudo, com os seguintes objetivos: livrar-se de
escravos imprestáveis; estimular a fidelidade de seus cativos, e obter uma renda
suplementar advinda do pecúlio dos escravos.18
Tal como Harris, Gorender afirmou que se alforriava mais escravos idosos e
imprestáveis para evitar gastos desnecessários. Porém, ele discorda do historiador norte-
americano quando a questão é a causa do elevado índice de alforrias no Brasil. Para
Gorender, essa característica não é derivada pela “escassez de colonos brancos,
insuficientes para o preenchimento de várias funções inadequadas aos escravos19”, mas sim,
um padrão decorrente de um conjunto de causas:
A principal consistiu em que o escravismo brasileiro foi o de mais longa duração nas Américas e atravessou várias fases de depressão, quando não poucos senhores se viam obrigados a libertar escravos, sem condições ou facilitando a alforria. Outro fator foi o costume de alistar
17 Idem, p. 136. 18 GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1985, p. 352. 19 Idem, p. 354.

144
escravos como combatentes, o que podia ser para eles uma via de emancipação20.
Conforme Gorender, as manumissões eram concedidas em maior número durante
períodos de crises econômicas quando, mediante o pagamento em dinheiro, serviria como
renda suplementar ao senhor. Além disso, a alforria poderia também ser utilizada como
uma espécie de manipulação do escravo, sendo elevada, pelo senhor, à condição de prêmio
ao escravo submisso e fiel. Portanto, as necessidades econômicas e interesses pessoais dos
senhores explicariam o grande número de escravos libertos em nossa sociedade.
No final da década de 1980, Manuela Carneiro da Cunha analisou a questão das
manumissões sob a ótica de uma sociedade paternalista: “política generalizada de alforrias
baseada em um sistema de convivência paternalista”.21 Para Cunha as manumissões,
mesmo quando pagas pelo escravo, representavam a generosidade do senhor e, também, a
fidelidade e os bons serviços prestados pelo cativo. Logo a autora percebe o processo de
alforria como unilateral, dependendo somente da vontade do patriarca.
Além disso, buscava-se, através de uma vasta concessão de alforrias, criar laços de
dependência entre senhores e ex-escravos, caracterizando-se uma espécie de clientelismo.
Também, como Gorender, a autora afirmou que a expectativa da liberdade incutia no
escravo uma necessidade de lealdade e extrema submissão ao seu senhor. Portanto, a
alforria:
(...) não só mantinha a sujeição entre os escravos, mas permitia a produção de libertos dependentes. Entre os escravos mantinha a esperança (...) de conseguir a liberdade, incentivava à poupança e uma ética de trabalho; mas condicionava também a liberdade a relações pessoais com o senhor. Entre os libertos, abria-lhes a condição de dependentes, mantendo os laços de gratidão e de dívida pessoal em troca de proteção do patrono. (...) O direito em lei da alforria paga,
20 Idem, p. 357. 21 CUNHA, Manuela Carneiro de. Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade. São Paulo: Brasiliense/Edusp, 1987, p. 136.

145
prescindindo da aquiescência do senhor, subverteria a sujeição, afrouxando os laços entres senhor e escravos.22
Nesse sentido, de acordo com a autora, os laços morais que permeavam a relação
entre o senhor e o escravo, não cessavam com a assinatura da carta de liberdade. Exigia-se
gratidão e lealdade do alforriando, mas em contrapartida, aos senhores era exigido, no
mínimo, uma certa proteção ao manumisso, fato este que a autora chamou de “injunções
morais” dos senhores.23
No derradeiro ano da década de 1970 outros dois historiadores norte-americanos
também se debruçaram sobre a problemática das alforrias em nossa sociedade: Thomas
Merrick e Douglas H. Graham. Estes disseram se opor ao viés exclusivamente economicista
e compreenderam a manumissão como um tema que não comportava generalizações.
Porém, a partir do método comparativo, entre a nossa sociedade e o sul norte-americano,
inferem a extrema importância do fator econômico quando a questão era a liberdade do
escravo.
Embora o cálculo econômico possa não ter sido o motivo predominante na decisão de todos os senhores de escravos no Brasil, de conceder alforria, gratuita ou comprada, aos seus escravos, a importância desses fatores subjacentes é ressaltada se compararmos o ambiente brasileiro com o sul dos Estados Unidos. Se o Brasil dispusesse, como os Estados Unidos, de uma relativa abundância de capital, se a mortalidade dos escravos tivesse sido menor e as importações fossem proibidas, e se os preços dos escravos tivessem subido desde 1800, então o ritmo de alforrias provavelmente teria sido bem menor.
Apesar de Merrick e Graham terem “relativizado” o processo de manumissão e
afirmado que ele refletiu “mais do que condições e motivos meramente econômicos”,
acabam por concluir que o alto número de alforrias emitidas no Brasil foi causa imediata de
fatores meramente econômicos, como os prolongados períodos de declínio nos ciclos de
22 Idem, p. 138. 23 Idem, p. 137.

146
exportação e a contínua e massiva entrada de africanos nos portos brasileiros até o ano da
sanção da lei Eusébio de Queirós.
Além disso, com relação aos benefícios garantidos pelos senhores, os autores
afirmam, assim como Manuela Carneiro da Cunha, que a possibilidade da alforria,
“comprada ou gratuita” provocava um comportamento mais fiel e produtivo por parte dos
escravos e, dessa forma, proporcionava ao senhor um maior controle sobre sua força de
trabalho.24 Portanto, podemos dizer, que tais historiadores ainda entendiam o processo de
alforria como algo manipulado somente pelos interesses senhoriais, sejam estes,
econômicos ou pessoais.
No Brasil, desde o final da década de 1980, alguns autores, através da utilização de
novas fontes e da aplicação de novas metodologias, como a demografia histórica, iniciaram
um processo de revisão de alguns conceitos e teorias já cristalizados pela historiografia.
Questões como a “teoria do escravo-coisa” começaram a ser alvo de inúmeras críticas. No
que diz respeito ao escravo, este passou a ser visto como um ser partícipe, capaz de
interagir em sua sociedade por meio da racionalidade. Nesse sentido, inseridos nesta nova
perspectiva acerca da escravidão, autores como Sidney Chalhoub e Manolo Florentino,
trataram da temática da alforria de maneira inovadora.
Sidney Chalhoub, no livro Visões de Liberdade, discutiu a vulgar concepção da
alforria como uma doação ao escravo. Segundo o autor, a lei, tradicionalmente, tratava das
manumissões inserindo-as no mesmo título das doações.25 Todavia, para Chalhoub a “carta
de alforria que um senhor concede a seu cativo deve ser também analisada como o
resultado dos esforços bem-sucedidos de um negro no sentido de arrancar a liberdade a seu
senhor”. Logo, as etapas percorridas até a assinatura final da carta pelo senhor poderiam ser
encaminhadas através de negociações com o próprio cativo, a despeito do poder de alforriar
ser restrito aos senhores, afinal, somente eles poderiam assinar o documento. Portanto,
Chalhoub procurou demonstrar as “interferências” do futuro forro, caracterizando a
manumissão como o resultado de um processo multilateral. Além disso, o autor afirma que:
O fato de muitos escravos terem seguido este caminho (a conquista da liberdade por meio da alforria) não significa que eles tenham simplesmente “espelhado” e “refletido” as representações de seus
24 Idem, pp. 78 e 79. 25 CHALHOUB, Sidney. Op. cit.,1990, p. 129.

147
“outros” sociais. Os cativos agiram de acordo com lógicas ou racionalidades próprias (...) Longe de estarem passivos ou conformados com a sua situação, procuravam mudar sua condição através de estratégias mais ou menos previstas na sociedade na qual viviam. Mais do que isto, pressionaram pela mudança, em seu benefício, de aspectos institucionais daquela sociedade.26
Conquistar a liberdade por meio da via institucional não significava que o escravo
agisse somente de acordo com as normas impostas pela hegemonia dominante, ou seja, da
classe senhorial. Óbvio reconhecer a presença desta na organização de vida dos cativos,
mas ao mesmo tempo, devemos também admitir a criação, por parte dos escravizados, de
um mundo próprio, justaposto às agruras do cativeiro.27
Manolo Florentino, como Merrick e Graham, sustentou a importância do fator
econômico: “para a manumissão dos escravos concorria grande dose de concessão, levada a
cabo de acordo com as vicissitudes do cálculo senhorial”.28 Porém, Florentino avança na
medida em que afirma a necessidade de uma atitude política do escravo para negociar sua
esperada alforria. Com o fim do tráfico internacional de cativos, em 1850, o valor destes
aumentou bruscamente, dificultando a formação de pecúlio para a auto-aquisição: “A
extrema valorização contribuiu para redefinir parte das expectativas, das opções e das
atitudes dos escravos frente à liberdade”.29 Ou seja, a partir do momento em que há o
predomínio das alforrias gratuitas30, foi necessária uma extrema “politização” da relação
entre o escravo e o seu senhor para a obtenção da manumissão: a conquista da liberdade
deslocou-se da esfera da formação do pecúlio (i.e., do mercado) para a órbita intrínseca da
“negociação entre o escravo e o seu senhor” (grifo meu). Dessa forma, o autor coloca o
escravo como agente e negociador na busca por sua própria liberdade.
Assim, partimos do princípio que a manumissão pode ser entendida, também, como
uma conquista escrava. Porém, conforme Florentino:
26 Idem, pp. 252 e 253. 27 Idem, passim. 28 FLORENTINO, M. Op. cit., 2002, p. 17. 29 Idem, p. 18. 30 O autor trabalhou especificamente com as alforrias do Rio de Janeiro. O predomínio das alforrias gratuitas verificou-se no período entre 1840 e 1864.

148
Não se trata de negar o que de concessão senhorial havia em toda e qualquer manumissão, mas sim de realçar os aspectos (práticas, comportamentos sociais, formação de pecúlio etc) que tornavam o escravo um ator mais ativo na mudança de sua condição social e jurídica do que comumente se imagina.31
Enfim, neste trabalho percebemos os homens e as mulheres escravizados como
agentes históricos dotados de racionalidade própria. Eles interagiram, durante todo o
período de vigência do regime escravista, com a sociedade na qual faziam parte,
contribuindo para uma efetiva transformação da instituição a partir das suas próprias
experiências históricas e tradições coletivas, que segundo Robert Slenes, foram transmitidas
e perpetuadas através das gerações familiares.32
2 – Acordos para a liberdade
A assinatura da carta de alforria pelo senhor poderia significar o início de uma nova
vida para o escravo, além de pôr fim a um presumível extenso processo manipulado pelos
agentes sociais envolvidos na situação. O ápice da assinatura trazia consigo as marcas da
riqueza do sistema escravista na medida em que trazia à tona situações ambíguas que
tornam o estudo deste tema algo ao mesmo tempo difícil e instigante para o historiador.
João Cabinda recebeu a tão esperada carta de alforria, em vinte de setembro de 1843
na cidade do Rio de Janeiro, das mãos do seu senhor, o cônego José Álvares Couto. Este o
libertou alegando o seguinte motivo “(...) se me tem servido bem como escravo, mas como
31 FLORENTINO, Manolo. “De escravos, forros e fujões no Rio de Janeiro Imperial (ensaio)”. In: Revista USP, São Paulo, nº. 58, pp. 104-115, junho/agosto 2003. 32 SLENES, Robert W. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava Brasil-Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

149
bom amigo e bom cristão”. O documento foi registrado em cartório sem qualquer ônus
monetário a João Cabinda.33
A madre Maria de Jesus, aos três dias do mês de setembro de 1849, dirigiu-se ao
cartório do 2º ofício do Rio de Janeiro para registrar a alforria de três escravos: Tereza
Maria de Jesus, parda de cinco anos de idade, Caetano de Jesus, pardinho com apenas um
ano de idade e Maria da Glória de Jesus, pardo, também com um ano de idade. As crianças,
possivelmente filhas de escravas suas, foram alforriadas sob a condição de servir em vida a
mesma senhora.34
Já o escravo e oficial de barbeiro, Joaquim Pinto de Gouveia, pardo, de vinte e três
anos, nascido e criado na Fazenda de Campos, teve sua carta de liberdade registrada na
metade do ano de 1859. Para esse fim, teve de amealhar, um conto de réis, quantia pela
qual fora avaliado por seus senhores, os monges do Mosteiro de São Bento.35
Os três exemplos acima representam alguns dos arranjos que podiam ser elaborados
em torno do processo da manumissão. Logo, neste trabalho, as alforrias serão divididas,
quanto ao seu meio de obtenção, em três categorias: “pagas”, “gratuitas” e condicionais.36
Cabe ressaltar que essa divisão ainda é redutora, tendo-se em vista a riqueza e minúcias que
envolvem o processo da alforria. Este assunto ainda demanda maior desvelo por parte da
historiografia brasileira.
Foram consideradas alforrias gratuitas as que não fizeram referência de pagamento
em dinheiro ou em serviços, por parte do escravo ou algum benfeitor. (em determinadas
cartas a palavra “gratuitamente” é mencionada, porém, sob forma condicional de prestação
de serviços, assim, essas cartas foram incluídas na categoria condicional). Geralmente,
esses tipos de cartas apareciam com as seguintes motivações por parte dos senhores: bons
33 2º Ofício de Notas, livro 73, p. 323 v. – Arquivo Nacional (RJ). Ver no anexo 6 a transcrição integral do documento. 34 2º Ofício de Notas, livro 81, pp. 169 e 170 – Arquivo Nacional (RJ). Ver no anexo 7 a transcrição integral do documento. 35 2º Ofício de Notas, livro 94, p. 18 – Arquivo Nacional (RJ). Ver no anexo 8 a transcrição integral do documento. 36 No exame de Qualificação desta dissertação, em março de 2006, o professor José Roberto Góes propôs uma tipologia bem mais elaborada e adequada: separar as alforrias em “pagas” e “gratuitas” e, a partir daí, classificá-las em “sem condição”, “com condição de servir” e “com outra condição”. Porém, no período da Qualificação o arcabouço da pesquisa já se encontrava praticamente completo e, devido ao restrito tempo de uma pesquisa de mestrado, optamos por não mudar a metodologia já empregada. Todavia, a tipologia proposta pelo professor será de grande valia num posterior trabalho de doutorado, que abrangerá um número bem maior de fontes.

150
serviços, amor de criação, amizade, merecimento, gratidão, fidelidade, enfermidade do
escravo e, até mesmo, o desejo do senhor de “se ver livre” do cativo, seja por medo ou
vingança. Tais motivos foram encontrados em outras categorias de alforria, porém, são
mais constantes nas gratuitas. Dessa forma, pode-se observar que na maioria das vezes
concorriam para a manumissão gratuita as relações entre senhores e escravos, sejam estas
afetivas ou não.
Consideramos como manumissões condicionais as que exigiram do escravo o
cumprimento de certas atividades estabelecidas pelos senhores. Esse tipo de carta poderia
ser acordado de diversas maneiras. Por exemplo: o escravo devia servir ainda por um
determinado período, variando entre meses e décadas; servir ao senhor durante toda a vida
deste ou a alguém por ele designado (além de ter, em alguns casos, de arcar com o funeral e
missas pela alma do senhor); realizar trabalhos, como garçom, costureiro em algum período
do ano; exercer funções militares, etc. Essa categoria ainda gera certa perplexidade, devido
à dificuldade em compreender essa condição de livre e cativo que o escravo – ou ex-
escravo – vivenciava ao mesmo tempo. Essa categoria será melhor estudada na etapa final
do trabalho.
Por fim, as alforrias “pagas”. Nestas, aparecia explícito o pagamento efetivado em
dinheiro para a compra da manumissão. Normalmente, esses documentos continham a
forma de pagamento, o valor e a pessoa que efetivamente concorreu para tal fim – o próprio
escravo, parentes, padrinhos, instituições, amigos, etc. Em muitos casos, os escravos
passavam anos pagando ao seu senhor mensalmente até obter a quantia necessária a sua
alforria. Em outros, acordava-se uma coartação, ou seja, o senhor libertava o escravo
estipulando uma quantia e um prazo para o pagamento. Se o (ex) escravo não o
conseguisse, voltaria à condição de cativo. Novamente, nota-se a condição intermediária
entre cativeiro e liberdade.
Apesar da divisão acima descrita, houve cartas – devido à já mencionada riqueza e
complexidade do tema – com dúbio sentido, colocando-nos em dificuldade no momento da
classificação taxonômica. Em alguns casos o alforriando passou, seja em dias ou anos, por
duas diferentes categorias de manumissão. Vejamos os seguintes exemplos: Joana
Francisca Nobre, herdeira do padre João de São Boaventura Cardoso, recebeu, em legado, a
escrava Felicidade Crioula no dia trinta e um de julho de 1852. O padre alforriou Felicidade

151
em testamento com a condição dela servir durante cinco anos a sua herdeira Joana.
Todavia, no dia quatro de agosto do mesmo ano, esta foi ao 3º cartório do Rio de Janeiro e
concedeu a alforria gratuita desistindo dos serviços da escrava.37
Outra situação: o padre Francisco Manoel Marques Pinheiro recebeu a escrava
Presciliana parda, de 20 anos, como legado da falecida Inocência Angélica da Conceição.
Esta, em testamento, libertou Presciliana sob a condição de servir ao padre enquanto este
fosse vivo. Contudo, dez anos após a abertura do testamento, em agosto de 1870, Francisco
Pinheiro assinou a alforria plena, recebendo para este fim 700 mil réis da escrava.38
No total das 370 alforrias analisadas, casos como os acima descritos ocorreram com
certa freqüência. Nessas situações, decidiu-se por escolher a categoria na qual o padre
atuou diretamente. Ou seja, no primeiro exemplo, mesmo a escrava não tendo “chegado a
servir”, esta alforria foi classificada como condicional devido à intenção do senhor, o padre
João de São Boaventura Cardoso, de libertar a escrava Felicidade mediante a prestação de
serviços. No segundo caso a alforria foi destinada à categoria “paga”, porque somente com
o pagamento em dinheiro o padre Francisco Pinheiro desistiu dos serviços da escrava,
apesar dela já lhe ter servido durante um período de dez anos.
Explicada a metodologia utilizada para classificar as alforrias em diferentes
categorias, vejamos alguns caminhos percorridos pelos escravos a partir do pagamento em
dinheiro à obtenção da sua esperada liberdade.
2.1 – Coartações, prestações, trocas – meandros da liberdade:
Coartações, prestações, troca por outro cativo... Enfim, variados poderiam ser os
acordos estabelecidos entre o escravo e o senhor para que aquele pudesse efetuar a compra
de sua alforria. A coartação, ainda hoje, é pouco estudada na historiografia brasileira, talvez
37 3º Ofício de Notas, livro 10, p. 146 v – Arquivo Nacional (RJ). Ver no anexo 9 a transcrição interal do documento. 38 3º Ofício de Notas, livro 32, p. 15 v – Arquivo Nacional (RJ). Ver no anexo 10 a transcrição integral do documento.

152
por ter sido uma transação não muito corrente no escravismo brasileiro, diferente do que
ocorria na escravidão cubana, por exemplo. Mas, podemos dizer que a análise da
“coartação brasileira” ficou, sobretudo, restrita aos historiadores que se dedicaram à região
das Minas Gerais, na qual caracteriza-se por ter tido esse tipo de acordo como “modalidade
específica”.39
O processo de coartamento suscitou, e ainda hoje suscita, diferentes interpretações.
Para Stuart Schwartz, o cativo coartado obtinha o direito de pagar pela própria alforria,
conquistando uma certa liberdade de movimentos para acumular os recursos necessários a
tal fim.40 Nesse sentido, o coartado era um escravo que se encontrava em processo de
transição para a condição de liberto.
O coartado tinha “o direito de procurar, próximo ou distante do domínio senhorial,
os meios para saldar prestações referentes à compra de sua carta de alforria”. Eis a
interpretação dada por Eduardo França Paiva para a coartação. Logo, segundo Laura de
Mello e Souza, este autor aproxima o coartado do escravo de ganho. Mas para Paiva, o
coartado também se via entre o cativeiro e a libertação e, inseria-se no mercado de trabalho
tendo como prova de sua situação um documento assinado por seu proprietário – a carta de
corte.
Diferentemente do que ocorria no resto do país, a coartação foi bastante comum na
região aurífera das Minas Gerais. Consoante a Paiva, este acordo foi usual desde a segunda
década do século XVIII. Inclusive, analisando 357 testamentos, ele constatou que o número
de coartamentos foi superior ao de alforrias a partir da década de 1730.41 Isto foi explicado
pelo autor como uma estratégia do senhor para aumentar seus rendimentos. Laura de Mello
e Souza corrobora essa hipótese baseada na constatação de haver uma maior incidência de
coartações em períodos de menor dinamismo econômico.42
Ainda de acordo com a autora citada:
39 Sobre coartação ver: SOUZA, Laura de Mello e. Norma e conflito. Aspectos da História de Minas Gerais no século XVIII. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999; PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos. São Paulo: ANNA-BLUME, 1995; HIGGINS, Kathleen Joan. The slave society in eighteenth-century Sabara: a community study in colonial Brazil. UMI Dissertation Services, 1994; SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos. Op. cit., 1995. 40 SCHWARTZ, Stuart B. Op. cit., 1995, p. 214. 41 PAIVA, Eduardo França. Op. cit., p. 89. 42 SOUZA, Laura de Mello e. Op. cit., 1999, p. 159.

153
Os coartamentos contribuíram em muito para complicar uma estrutura social já bastante complexa, abrindo vastas áreas de indefinição entre o cativeiro e a liberdade. (...) o coartamento integrou as estratégias que os escravos souberam desenvolver de forma paciente, corajosa e, não raro, malandra. Os coartamentos ensejaram, portanto, um vasto espaço de manipulação mútua em que senhores e escravos jogavam um xadrez complicado.43
Brilhantemente, Souza insere a coartação no campo das “estratégias políticas”
utilizadas pelos escravos para conseguir a esperada liberdade, por meio da via institucional
prevista pela sociedade escravista. A coartação tinha um caráter contratual que ambas as
partes, os senhores e os escravos, deveriam observar. Mas, ainda conforme esta autora,
como o coartado somente seria liberto quando pagasse a quantia pré-fixada em prestações,
ela afirmou que a coartação tinha um aspecto de alforria condicional, malgrado o
reconhecimento de seus traços bastante peculiares.
Nesta questão específica não seguimos com o mesmo ponto de vista. Consideramos
alforrias condicionais as que exigiam do escravo um pagamento sob forma de prestação de
determinados serviços não envolvendo, portanto, transações monetárias. Compreendemos a
coartação como uma variação da manumissão paga e não como um fenômeno alheio ao
processo de alforria. Seria até mesmo algo muito parecido com a alforria paga em
prestações, porém, entendemos que num processo de coartação, o alforriando poderia “estar
a ganhar”, para acumular os recursos necessários, longe, ou não, da esfera senhorial, o que
o diferencia do pagamento em prestações, na qual o escravo ainda estaria vivendo sob a
égide de seu senhor. Assim como dito por Paiva, o escravo já estaria vivendo uma certa
liberdade.
Em nossa amostra dos registros de manumissões temos dois documentos de
liberdade que, apesar de não ser denominado como uma carta de corte, consideramos como
tal por sua característica. Vejamos esses casos: na alforria de Ludugero mina, registrada no
início de 1844, o cônego Alberto da Cunha Barbosa explicitou que o escravo “está a ganhar
para pagar sua liberdade”. Ou seja, o alforriando deixou de trabalhar diretamente para o
43 Idem, p. 169.

154
senhor e passou a gozar de certa liberdade para acumular o “seu próprio valor”.44 No
segundo caso, ocorrido em outubro do ano de 1843, o síndico da Província de Santo
Antônio registrou a alforria de João Cabinda e evidenciou a seguinte informação: “500 mil
réis o escravo já pagou e poderá trabalhar para conseguir os 300 mil réis”.45 Portanto, está
explícito no registro de alforria, que igualmente a Ludugero, João poderia estar fora da
órbita de seu senhor, acumulando o restante da quantia da forma que desejasse e pudesse.
Além disso, tiveram suas cartas assinadas antes do pagamento total.
Diferente processo viveu Constancia Cabinda. Em vinte de dezembro de 1851, esta
africana acordou sua liberdade e a de sua filha, Carolina Crioula, com seu senhor, o padre
Reginaldo José Antunes: ela poderia pagar em prestações o total de 400$000 réis. Dois
anos depois – em quatorze de fevereiro de 1853 – mãe e filha tiveram finalmente suas
cartas registradas no livro de notas do 3º ofício do Rio de Janeiro.46 Possivelmente, o
espaço de vinte e quatro meses entre o ajuste de liberdade e o seu registro em cartório foi o
tempo necessário à Constância para conseguir pagar o total estabelecido. Logo, mãe e filha
só tiveram acesso à carta após o completo pagamento de seus valores, diferentemente do
que ocorreu com Ludugero mina e João Cabinda, cujo processo de alforria foi considerado
por nós como coartação.
Assim, não foram registrados nos Ofícios de Notas que compreendem a amostra
dessa pesquisa, casos declarados de alforrias obtidas por coartamento. Porém encontramos
no inventário do padre e senador José Custódio Dias uma coartação específica. O
inventariante e testamenteiro, Roque de Souza Dias, sobrinho do religioso, em meio à
avaliação dos bens do finado tio, declarou “ter recebido do escravo Julião a quantia de
400$000, preço porque foi coartado pelo finado em seu testamento, e por isso, lhe deu sua
carta de liberdade”.47 Infelizmente o registro de documento de liberdade de Julião não
aparece nos ofícios de nota em questão; mas temos em nosso banco de dados o registro de
outros cinco cativos do padre, também libertos em testamento. Mas, apesar do inventariante
ter registrado estas alforrias em cartórios do Rio de Janeiro, o padre, falecido em janeiro do
ano de 1838, era morador da Freguesia de São José dos Alfenas, província de Minas
44 2º Ofício de Notas; livro 74, p. 286 – Arquivo Nacional (RJ). 45 2º Ofício de Notas; livro 74, p. 35 – Arquivo Nacional (RJ). 46 3º Ofício de Notas; livro 11, p. 51v. – Arquivo Nacional (RJ). 47 Inventário de José Custódio Dias, 1ª Vara Civil; caixa: 289; nº: 3546; ano: 1839 – Arquivo Nacional (RJ).

155
Gerais... Logo, nosso único exemplo de coartação explícita corrobora a idéia de ser este
acordo uma modalidade, essencialmente, mineira.
Outra situação bastante interessante é o caso de troca de escravos. Apesar de
classificação ainda redutora, consideramos esse processo como uma variável da alforria
paga, devido ao ônus financeiro dispensado pelo alforriando. Em nossa amostra temos o
registro de três cativas que conseguiram sua liberdade comprando outro escravo para deixar
em seu lugar.
São elas, Teodora Monjola, Honorata cabra e Joana Narcisa. Todas pertencentes à
mesma instituição, o Convento Nossa Senhora da Conceição da Ajuda. Em maio de 1842,
mediante acordo entre Joana Narcisa e esta instituição, ficou estabelecido que a escrava
deixaria o cativeiro mediante sua permuta por outra cativa, substituindo-a. Logo, ela
comprara a cativa Silvéria pelo valor de 630$000 réis deixando-a em seu lugar. Assim feito,
em junho do mesmo ano Joana teve sua alforria registrada em cartório.48 Da mesma forma,
Teodora e Honorata tiveram suas cartas de liberdade49 registradas nos anos de 1854 e 1855,
respectivamente, a partir do momento em que compraram outro cativo para lhe
substituírem.
Vimos então, neste item, o quão sinuosos poderiam ser os acordos para o escravo
chegar à obtenção de sua carta. Todos esses exemplos reforçam ainda mais a participação
direta dos escravos, caracterizando-os como agentes sociais que interagiam de forma bem
ativa na sociedade em que viviam.
2.2 – A Alforria paga – preços e valores
Variados acordos entre senhores e escravos não foram elementos peculiares à
sociedade escravista do Brasil. Pelo contrário, eles fazem parte de um conjunto de práticas
costumeiras e até mesmo jurídicas referentes à escravidão existentes há séculos na Europa e
48 1º Ofício de Notas, livro 5, p. 224v. – Arquivo Nacional (RJ). 49 2º Ofício de Notas; livro 88; p. 115 e livro 89; p. 104v. – Arquivo Nacional (RJ). – Ver nos anexos 11 e 12 a transcrição integral dos documentos.

156
até mesmo na África. Especificamente neste continente, Paul Lovejoy nos diz que desde o
princípio do Califado de Socoto (1804), Império Islâmico localizado na região do Sudão
Central, “a prática da autocompra – a fansa – permitia ao escravo pagar ao seu senhor uma
quantia inicial, seguida de prestações até que se completasse o valor da compra”.50
Na Espanha do século XIII, sob o reinado de D. Alfonso X, o Sábio, foi instituído
um código de leis, Las Siete Partidas que, segundo Ana Beatriz Frazão, ultrapassou o
enfoque jurídico e pode ser comparada aos tratados de moralidade.51 Logo, Las Siete
Partidas caracterizam a sociedade da época em seus costumes e definem regras de conduta
coletivas vinculadas ao bem comum. Entre inúmeras cláusulas, tal código estabeleceu os
diretos e deveres dos cativos. Sintetizou elementos do direito romano e do canônico e,
assim, seus artigos são vistos por alguns estudiosos como características específicas da
abordagem católica da escravidão.52
Em 1685, o governo francês criou um edito relativo ao governo, a administração da
justiça, a política, a disciplina e o comércio dos escravos nas colônias francesas. Tal edito,
conhecido por Code Noir tinha por objetivo “uniformizar o conjunto das leis escravistas”
que já havia sendo elaborado nas colônias.53 No Brasil, apesar de não ter existido uma
legislação direcionada exclusivamente à população escrava, como o Código Negro francês,
muito se seguiu das práticas ocorrentes desde a escravidão branca européia (logicamente
adaptadas à nova realidade sócio-cultural).
Segundo Frank Tannembaum, as leis, os costumes e as tradições espanholas,
sistematizadas nas Sietes Partidas, foram transferidas para o Novo Mundo e “came to
govern the position of the Negro slave”.54 Por exemplo:
A master might manumit his in the church which or outside of it, before a judge or other person, by testament or letter, but must do this by himself, in
50 LOVEJOY, Paul E. “A escravidão no Califado de Socoto”. In: FLORENTINO, Manolo & MACHADO, Cacilda (Org.). Ensaios sobre a escravidão (1). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, p. 55. 51 RIBEIRO, Ana Beatriz Frazão. O bem comum nas “Siete Partidas” de Alfonso X. Ver no link: http://www.ifcs.ufrj.br/~pem/html/textos.html. 52 DAVIS, Davis Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 53 MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do corpo, missionários da mente. Senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 34. 54 TANNENBAUM, Frank. Op. cit., 1992, p. 52.

157
person (...). The slave could become free (...) providing another slave in his place (...). The law further permitted the slave to free himself by installments, and this became a widely spread custom (...).55
Outro direito dos escravos presente nas Siete Partidas56 era o de acesso aos tribunais
caso o senhor não aceitasse alforriá-lo mediante o valor pelo qual ele fora comprado.
Semelhante prática – a dos senhores cobrarem do escravo, pela alforria, o valor de mercado
vigente no período de sua aquisição, e não o corrente no momento do acordo da alforria –
caracterizava-se como direito consuetudinário na América portuguesa e foi corrente pelo
menos até a década de 1830.57 Todavia, isso não significa que o escravo, no Brasil, pudesse
forçar seu senhor a libertá-lo, como afirmou Tannenbaum58, afinal isso era prática
corriqueira e não juridicamente estabelecida.
Manuela Carneiro da Cunha analisou o grande predomínio no Brasil das chamadas
leis consuetudinárias, concluindo haver em nossa sociedade um “silêncio das leis”. A
autora afirmou não haver nenhuma regulamentação que obrigasse os donos de escravos a
pôr em prática o costume de se alforriar um escravo com o preço pelo qual ele fora
comprado. Todavia, “ao inverso da lei escrita, a lei costumeira contava com a sanção de
uma opinião pública atenta. Padres, ‘homens da mesma classe do senhor’ e até a ‘gentinha’,
diante dos quais o senhor não queria se desprestigiar”. Portanto, tal prática era largamente
difundida entre os donos de escravos no Brasil.
Em 1830, o então deputado Antônio Pereira Rebouças, levou ao Parlamento uma
proposta para regulamentar as liberdades de cativos pelo pagamento de seu próprio valor. O
projeto tinha o intuito de adaptar à realidade brasileira uma lei da ordenação filipina – livro
4, título 11,§ 4 – a qual legislava a respeito dos mouros cativos em Portugal. Segundo esta
ordenação, apesar de ninguém poder constranger a venda de propriedades contra a vontade
do dono, em favor da liberdade muitas coisas deveriam ser outorgadas contra as regras
55 Idem, p. 50. 56 Ver link: http://bibliotecaforal.bizkaia.net/search*spi/tsiete+partidas/tsiete+partidas /1,2,2,B/frameset&FF=tsiete+partidas+del+sabio+rey+don+alonso+el+nono&1,1. 57 MATTOSO, Kátia; KLEIN, Herbert & ENGERMAN, Stanley. “Notas sobre as tendências e padrões dos preços de alforria na Bahia, 1819-1888”. In: REIS, João José (Org.). Escravidão e invenção da liberdade. Estudos sobre o negro no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 63. 58 Idem, p. 54. O autor fez essa afirmação baseado em obras de Harry Johnston e J. C. Fletcher.

158
gerais. Portanto, o mouro cativo poderia ser libertado através do pagamento de valor
acrescido de 20%.59
Logo, Rebouças propusera que “qualquer escravo que consignar em depósito
público o seu valor, e mais a quinta parte do mesmo valor, será imediatamente manutenido
se o seu senhor não convier em conferir-lhe amigavelmente a liberdade”.60 Todavia,
segundo Keila Grinberg, tal projeto sobre o pecúlio e a regulamentação do acesso à
liberdade por cativos teve o pedido de urgência negado pelo Parlamento, foi remetido à
análise pela comissão responsável, porém, de lá nunca saiu.
Somente no ano de 1871 esse costume de se alforriar um escravo com o preço pelo
qual ele fora comprado tornou-se lei escrita: juntamente com a Lei do Ventre Livre, foi
sancionada uma lei que obrigava ao senhor emancipar seus cativos que pudessem pagar o
valor de mercado corrente. 61
Alguns historiadores já se dedicaram ao estudo dos preços das alforrias para
identificar a lucratividade da escravidão e a estrutura relativa dos preços conforme a idade e
o sexo dos alforriados. Analisando os preços das alforrias da Bahia entre 1819 a 1888,
Kátia Mattoso, Herbert Klein e Stanley Engeman perceberam um gradativo aumento até o
final da década de 1860, quando se verificou o seu ápice. Somente a partir deste momento
os preços sofreram um declínio que se estendeu até o ano da abolição. Ainda assim, esses
preços em queda foram superiores aos anteriores à década de1830.62
No Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jucá identificou um aumento considerável do
valor dos escravos entre o século XVII e o início do XVIII. Mas conforme o autor, esse
acréscimo não se mostrou em nada exorbitante:
A variação de valores entre os dois períodos é de 135,25% para escravos adultos, muito inferior ao que encontramos para os valores das propriedades agrícolas. Os engenhos de açúcar, por exemplo, valorizam-se em 178,95% no mesmo período. Na verdade, o aumento dos valores dos cativos faz parte
59 GRINBERG, Keila. O fiador dos brasileiros. Cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 119. 60 Idem, p. 120. 61 DAVIS, Davis Brion. Op. cit., 2001, p. 304; CUNHA, Manuela Carneiro da. Op. cit. 1987, p. 127. 62 MATTOSO, Kátia, KLEIN, Herbert & ENGERMAN, Stanley. Op. cit., 1988, p. 64.

159
de uma elevação geral de preços ocorrida no Rio de Janeiro como decorrência da descoberta e posterior colonização das áreas mineradoras.63 Para a mesma região, Manolo Florentino fez uma breve análise sobre as flutuações
dos preços das alforrias e dos escravos adultos no Rio de Janeiro desde o final do século
XVIII até a década de 1860.64 Tendo por base o valor nominal de um escravo típico – sexo
masculino entre 15 e 40 anos de idade – o autor percebeu um gradativo aumento do preço
desse cativo, alcançando seu ápice nos anos 60. Com isso, o século XIX assistiu a maior
valorização monetária dos escravos desde o auge das atividades mineradoras de Minas
Gerais, o que acarretou uma brusca diminuição no número de alforrias.
Além disso, Florentino identificou que entre 1840 e 1869 o preço das alforrias de
um cativo típico, encontrava-se no mesmo patamar das variações de seu valor de mercado
(gráfico 1)65. Assim, pode-se dizer que o boom de valorização do escravo arrefeceu a
continuidade da antiga tradição de se alforriar o escravo com o mesmo valor pelo qual ele
fora comprado.
Gráfico 1: Flutuações dos preços das alforrias e dos escravos adultos (15-40 anos de idade) do sexo masculino, meios urbano e rural do Rio de Janeiro, 1790-1869, em mil-réis e libras esterlinas:
63
JUCÁ, Antônio Carlos. “A produção da liberdade: padrões gerais das manumissões no Rio de Janeiro colonial, 1650-1750”. In: FLORENTINO, Manolo (Org.) Tráfico, cativeiro e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, passim. 64 FLORENTINO, Manolo. Op. cit., 2002. 65 Idem, p. 16.

160
10
100
1000
17
90
-99
18
00
-09
18
10
-19
18
20
-29
18
30
-39
18
40
-49
18
50
-59
18
60
-69
Lib
ras
10
100
1000
10000
Mil-ré
is
Escravos (em libras) Escravos (em mil-réis) Alforrias (em mil-réis)
Fonte: Apud FLORENTINO, Manolo. Op. cit., p. 16. No entanto, como será visto em item posterior, no mesmo período em que no padrão
geral as alforrias “gratuitas” sobrepuseram-se às “pagas” (1840-1869), a maioria das
instituições religiosas regulares alforriava seus escravos mediante o pagamento em
dinheiro... Se estes últimos conseguiam reunir pecúlio para alforriar-se mesmo estando
supervalorizados é bem possível que parte daquela fração do clero tenha mantido a tradição
em questão. Contribui para essa hipótese uma comparação entre o particular, representado
pelas manumissões concedias pelos eclesiásticos, e o geral, reunindo as demais.
Face aos limites da fonte analisada – o banco de dados elaborado possui poucas
cartas de alforria “pagas” que reúnem todos os dados necessários à realização do cálculo da
média de preço, como a idade do escravo e o valor da alforria – não pudemos realizar uma
análise mais pormenorizada. Dessa forma, a comparação foi feita apenas entre o preço
médio das alforrias de escravas entre 15 e 40 anos na década de 1860. Conforme Manolo
Florentino, o preço médio das manumissões de tal grupo estava em torno de 1.298$000

161
réis66, enquanto as alforrias especificamente de escravas do clero custavam em média
581$000 réis.67
Portanto, a despeito da pequena amostra de cartas, é possível perceber uma
considerável diferença entre as duas médias: para o período analisado, as escravas de uma
instituição religiosa pagavam quase a metade por sua alforria em relação às escravas de um
senhor leigo. Logo, podemos sugerir que os religiosos preservaram o costume de deixar o
escravo pagar por sua manumissão o preço de sua compra, a despeito da maximização de
seu valor. Talvez, isso representasse para o clero a expressão máxima da vontade de manter
a tradição em uma sociedade na qual os “interesses” sobrepunham-se cada vez mais rápido
às “paixões”.
Albert Hirschman buscou uma nova abordagem para a interpretação do “espírito do
capitalismo” e de sua gênese por meio da análise dos discursos de diversos pensadores –
desde Santo Agostinho a Max Weber – realizando uma verdadeira história das idéias.68 O
autor percebeu que num momento anterior à ascensão da economia de mercado e à efetiva
implementação do capitalismo, construíram-se, paulatinamente, argumentos políticos e
justificativas favoráveis a este sistema, legitimando práticas antes ofensivas à moral cristã –
as atividades lucrativas. Analisando os conceitos “paixão” e “interesse”, Hirschman
mostrou como o primeiro foi cedendo lugar ao segundo enquanto papel de propulsor
ideológico do novo sistema nascente. Desde Hobbes era necessário:
(...) opor os interesses dos homens às suas paixões e contrastar os efeitos favoráveis que se seguem quando os homens são guiados pelos seus interesses ao estado calamitoso das coisas que prevalece quando os homens soltam as rédeas das suas paixões.69
66 Banco de dados de alforrias do Rio de Janeiro, 1840-1871. O Professor Manolo Florentino ainda não disponibilizou essas informações, mas gentilmente me passou estes dados. 67 São somente oito alforrias de escravas no banco de dados que forneceram condições para o cálculo da média. Sendo sete do clero regular (Mosteiro de São Bento) e uma do clero secular. Portanto, devido à precariedade da amostra, os resultados ainda não são definitivos, esperamos concluí-lo num posterior trabalho de doutorado. 68 HIRSCHMAN, Albert. As paixões e os interesses. Argumentos políticos a favor do capitalismo antes de seu triunfo. Rio de Janeiro: Record, 2002. 69 Idem, p. 53.

162
Assim, formou-se a idéia de que as paixões aprisionavam os homens às tradições e
às atitudes “atrasadas” impedindo-os de alcançar a modernidade e o capitalismo.
Transferindo essas idéias para o nosso caso específico, pode-se dizer que grande parte do
clero não acompanhou a “evolução” dos interesses, sendo ainda “dominado” pelas paixões
quando o assunto era a liberdade do escravo.
A condenação da “usura” como pecado pela Igreja desde suas origens na
Antiguidade, também pode nos ajudar a entender a atitude dos religiosos frente ao preço
das alforrias. Bartolomé Clavero elaborou uma análise do “Tratado de Mutuo y Usura”,
escrito em meados do século XVII por um moralista desconhecido.
(a usura) constituye uma conducta completamente reprobable, condenada por todos los derechos, natural y positivo, divino y humano, canônico y civil. (...) Se comete usura si en un determinado contrato, el de mutuo, se produce lucro, si por causa de un préstamo se recibe algo más de lo entregado.70
Assim, podemos fazer uma analogia entre o empréstimo de dinheiro a juros, a
usura, e a venda da alforria com um valor acima do estabelecido no momento da compra do
escravo.
Logo, concomitantemente aos nascentes valores de uma sociedade de mercado no
Brasil do século XIX, podemos sugerir, por meio dos números acima citados, que a Igreja
presumivelmente ainda mantinha práticas antigas e medievais consideradas adequadas à
sua moral. Então, uma instituição ou um religioso católico estaria incorrendo em pecado se
exigisse de seu escravo, para a autocompra, um valor superior ao preço pago no momento
da aquisição.
Essa atitude do clero poderia derivar de uma antiga idéia segundo a qual a
escravidão tinha um tempo limite, isto é, transcorrido determinado tempo de “bons serviços
e bom comportamento” os escravos estariam redimidos de seus pecados e por isso
deveriam receber a liberdade. Conforme A. C. Saunders, para os portugueses dos séculos
70 CLAVERO, Bartolomé. Antidora: antropologia catolica de la economia moderna. Milano – Ginffrè Editore.

163
XV e XVI, devido à “experiência da época medieval, durante a qual os prisioneiros
mouros, usados como escravos pelos cristãos, foram resgatados e libertados, fora de tal
modo incrementada que não se concebia a condição escrava como algo de permanente”.71
Tal idéia, possivelmente, tenha influenciado o monsenhor Antônio Vieira Borges a alforriar
gratuitamente Joaquim Angola em março de 1853. O religioso fez questão de frisar na carta
o motivo da atitude: bons serviços do escravo “por mais de quarenta anos”.72
Enfim, neste capítulo explicamos a metodologia utilizada para classificar as cartas
de alforria em “gratuitas”, “pagas” e “condicionais”. Demos ênfase, no entanto, ao âmbito
da manumissão comprada pelo escravo, discorrendo sobre alguns caminhos que este
poderia percorrer para alcançar a almejada liberdade. A partir de variados exemplos vimos
cair por terra a teoria, já refutada pela historiografia contemporânea, do escravo-coisa.
Coartações, prestações e trocas mostram-se como exemplos de como os seres escravizados
criavam estratégias visando a liberdade. Isto caracteriza os cativos como agentes sociais
capazes de interagir e, até mesmo, modificar a sociedade na qual viviam.
Também neste primeiro capítulo estabelecemos o valor médio das alforrias cobrado
pelo clero, malgrado o ínfimo número de manumissões que permitiram a efetivação desse
cálculo. Vimos, a partir da comparação com o valor médio das alforrias em geral, que as
alforrias emitidas pelo clero custavam menos que as emitidas por senhores leigos. Dessa
forma, sugerimos que os religiosos preservaram uma antiga tradição, a de deixar o cativo
pagar por sua manumissão o preço de sua compra, não obstante à maximização de seu
valor.
Identificamos um provável “desejo” de manutenção das tradições e costumes que
nortearam a ideologia e atos da milenar instituição Católica, mesmo a despeito das
mudanças introduzidas pela modernidade e pelo desenvolvimento do capitalismo. Talvez,
isso pudesse representar para os religiosos a vontade de manter os costumes em uma
sociedade na qual os “interesses” sobrepunham-se cada vez mais rápido às “paixões”.
71 SAUNDERS, A. C. de C. M. História social dos escravos e libertos negros em Portugal (1441-1555). Lisboa: Imprensa Nacional, 1982, p. 188. 72 2º Ofício de Notas do Rio de Janeiro; livro 85, p. 304. – Arquivo Nacional.

164
Capítulo II: Padrões das alforrias eclesiásticas

165
O documento que deveria garantir a liberdade ao escravo mostra-se ao historiador
como uma fonte riquíssima – apesar das limitações inerentes a qualquer fonte –, capaz de
nos ajudar a melhor compreender a relação senhor/escravo/sociedade. Nesse contexto,
alguns autores da nossa historiografia já se utilizaram desse documento e de sua divisão em
categorias – “arranjos para liberdade” – para identificar o padrão de alforria de determinada
região.
Veremos então, neste capítulo, o padrão dos tipos de alforrias concedidas
especificamente por eclesiásticos. Logo após, iremos analisar os padrões de naturalidade e
de gênero dos “alforriandos eclesiásticos”, não deixando de comparar, sempre, com os
padrões já identificados para as alforrias de uma maneira geral.
O historiador Stuart Schwartz, centralizando sua pesquisa no estado da Bahia,
chegou a algumas conclusões acerca do padrão dos tipos de alforrias nessa região. Este
autor analisou as cartas registradas entre 1684 e 1745 e obteve os seguintes resultados:
47,7% dos escravos pagaram por sua alforria, enquanto 52,3% receberam-na
gratuitamente.73 Dentro desse conjunto, das “gratuitas”, quase 20% dos escravos tornaram-
se forros sob alguma espécie de condição.
De acordo com Schwartz, essa proporção entre emancipações “pagas” e “gratuitas”
não permaneceu invariável durante o período analisado. Desde a década de 1680 a 1720,
observou-se um aumento uniforme no número das alforrias “pagas”. Entre 1720 e 1730
73 SCHWARTZ, Stuart. Op. cit., 2001, p. 201.

166
houve uma relativa estabilidade e, finalmente, na década de 1740 as manumissões
compradas ultrapassaram a metade do número total.
Vejamos o gráfico:
Gráfico 2: Emancipações Pagas e Gratuitas:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740
pagas gratuitas
Fonte: SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: São Paulo: EDUSC, 2001, p.202.
Desde o final do século XVII, o preço do cativo começou a crescer em território
baiano. Esse fato pode ser explicado pela grande demanda de mão-de-obra escrava na
exploração aurífera em Minas Gerais. Como exemplo, na década de 1690, o valor de um
escravo, em boas condições, variava em torno de 40 a 60 mil réis. Já em 1723 chegou a

167
valer até 200 mil réis.74 Somente a partir da segunda metade do século XVIII, com a crise
da mineração, o preço do cativo entrou em declínio.
Portanto, no caso baiano, a concessão das alforrias “gratuitas” era inversamente
proporcional à alta dos preços dos cativos. Embora seja óbvio o predomínio constante desse
tipo de manumissão, pelo menos até o final da década de 1730, é bastante considerável o
crescente número de escravos que conseguiam comprar sua alforria, até chegar, a partir da
década de 1710, a um patamar de quase paridade entre essas duas categorias. Assim, à
medida que o valor do escravo crescia, tornava-se cada vez maior a quantidade de senhores
que exigiam pagamento em dinheiro para a assinatura do documento.
Esse padrão, o alto número de alforrias pagas, pode está relacionado ao alto índice
de africanos ocidentais, provenientes sobretudo da Costa da Mina, na Bahia. Para termos
uma idéia, nas primeiras décadas do século XVIII o comércio negreiro com a zona
ocidental da África representou cerca de 60% dos escravos que chegavam no Brasil.75 A
predominância dos Minas foi suplantada somente a partir da década de 1730.
Para o Rio de Janeiro, Florentino afirmou que “os menos representados dentre os
escravos nascidos na África – os Minas – eram, proporcionalmente, os mais privilegiados
quando se tratava de obter a liberdade”.76 Mais ainda, relacionando os tipos de alforria com
a etnia africana, os afro-ocidentais concentravam a maioria das cartas pagas. Essa
característica foi explicada por Florentino, como possível conseqüência da grande
participação desse grupo entre os escravos “ganhadores”, fato este decorrente de
experiências trazidas de além-mar, visto que havia na África Ocidental uma “cultura mais
urbanizada e mercantil”. Também concorria para esse padrão a forte identificação étnica
existente entre os Minas.77
Logo, podemos dizer que o mesmo ocorria na região baiana, onde os Minas
perfaziam a grande maioria do contingente africano. Entre os anos de 1808 e 1884, os afro-
ocidentais perfaziam nada menos que 87% dos africanos forros!78 Podemos supor que o
alto número de alforrias pagas na Bahia seja também resultado direto da manutenção, a
74 SCHWARTZ, Stuart. Segredos internos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 167. 75 RIBEIRO, Alexandre Vieira. O tráfico atlântico de escravos e a praça mercantil de Salvador (c.1678 – c. 1830). Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ / PPGHIS, 2005, p. 19. 76 FLORENTINO, Manolo. Op. cit., 2002, p. 28. 77 Idem, p. 30. 78 Ibidem.

168
despeito do cativeiro, de experiências e tradições africanas mantidas por esse grupo étnico
da África Ocidental.
Schwartz não utilizou a divisão anteriormente descrita, inserindo as manumissões
obtidas “mediante serviço” na categoria das cartas consideradas “gratuitas”. Essa
metodologia, de unir dois tipos diferentes numa mesma variável, pode acarretar uma certa
simplificação na análise, além de ocultar certas nuances. O autor baseou-se apenas na
transação envolvendo dinheiro para dividir suas variáveis, não levando em consideração o
tempo de serviço que o escravo teria de pagar para cumprir a condição acordada, além de se
ver obrigado a conviver com a incerteza de chegar ao fim da vida sem conquistar a alforria
completa. Por exemplo, caso o escravo tivesse de cumprir a condição “servir durante a vida
do senhor”, e morresse antes deste, em verdade, o tal cativo não teria chegado a ser
totalmente forro.
As negociações envolvendo manumissões “gratuitas” ou mediante a prestação de
serviços eram bastante díspares. Para cada tipo de acordo com o senhor, antes e durante
todo o processo, os escravos utilizavam diferentes estratégias. Ao final, ao menos em
teoria, o “alforriando gratuito” saía completamente do âmbito do senhor, enquanto o
“condicional” continuaria no mesmo ambiente e vivendo, na maioria dos casos, em
condições semelhantes às anteriores à assinatura da carta.
Para identificar o padrão de alforria carioca, Mary Karasch analisou as cartas
registradas no primeiro° ofício de notas entre os anos de 1807 a 1831 e concluiu que “no
Rio do século XIX, a liberdade raramente era gratuita”.79 Logo, Karasch afirmou ter
encontrado o padrão característico de todo o século XIX analisando apenas um ofício de
notas, num período circunscrito a apenas 24 anos do Oitocentos... Enfim, a autora
classificou as alforrias em cinco tipos principais: leito de morte (testamentos), condicional,
incondicional, comprada e ratificada. Desse conjunto, as alforrias compradas somavam
39%.
No período de 1789 a 1831, Florentino – utilizando a classificação das manumissões
em “pagas”, “gratuitas” e mediante “serviços” – mostrou, a partir de outros autores, que a
maior parte dos escravos obteve seu documento de liberdade, através do pagamento em
79 KARASCH, Mary. Op. cit., 2000, p. 440.

169
dinheiro. Já a alforria gratuita era a segunda forma mais corriqueira de emancipação,
seguida, por fim, pela alforria mediante a prestação de serviços.80 Observemos o gráfico:
Gráfico 3: Distribuição (%) dos tipos de cartas de alforrias, Rio de Janeiro (1789-1864):
0
10
20
30
40
50
60
70
1789-94 1807-31 1840-44 1845-49 1850-54 1855-59 1860-64
%
servir pagas gratuitas
Fonte: Apud FLORENTINO, Manolo. Op. cit., 2002, p. 19.
É fato inquestionável que o preço dos escravos aumentava em ritmo acelerado desde
o século XVIII. Todavia, essa tendência ainda não havia influenciado de maneira direta nas
80 FLORENTINO, Manolo. Op. cit., 2002, p. 19.

170
formas de obtenção da alforria dos escravos que viviam na região fluminense. Somente por
volta do ano de 1840 até o ano de 1869, uma super valorização do escravo remodelou o
padrão que há muito perdurava: as alforrias gratuitas sobrepuseram-se às pagas. Esta
mudança concorreu “para redefinir parte das expectativas, das opções e das atitudes dos
escravos frente à liberdade”.81 Dessa maneira, segundo Florentino, essa nova situação
exigia, por parte dos cativos, estratégias com maior grau de politização em busca da
almejada manumissão.
Temos então, no Rio de Janeiro, uma situação semelhante à verificada na Bahia,
apesar dos diferentes recortes temporais. No caso baiano, a carta “gratuita” foi a
predominante, pelo menos, desde o final do século XVII até a década de 1740, quando foi
substituída pelas manumissões “pagas”. Do mesmo modo, na região fluminense, estas eram
maioria, sendo superadas pelas “gratuitas” apenas na década de 1840.
1– Tipos de alforrias
Nesta parte do capítulo, analisaremos os padrões dos tipos de manumissões emitidas
pelos religiosos regulares e seculares. Discutiremos as categorias de alforrias mais
utilizadas pelos “homens da religião”, utilizando a divisão descrita no capítulo anterior:
pagas, gratuitas e condicionais. Sem delongas, observemos os seguintes gráficos:
Gráfico 4: Porcentagem de alforriando por tipo de alforria no Rio de Janeiro - 1840-1871:
Clero Regular e Secular
81 Idem, p. 18.

171
45%
33%
22%
Grátis Paga Condicional
Gráfico 4.1: Porcentagem de alforriando por tipo de alforria no Rio de Janeiro - 1840-
1871:
Regular Secular
38%
50%
12%
Grátis Paga Condicional
21%
27%
52%
Gratuita Paga Condicional
Gráfico 4.2: Porcentagem de alforriando por tipo de alforria:
CLERO REGULAR

172
1840-1850
24%
45%
31%
Grátis Paga Condicional
1851-1871
40%
53%
7%
Gratuita Paga Condicional
Gráfico 4.3: Porcentagem de alforriando por tipo de alforria:
CLERO SECULAR
1840-1850
54%
17%
29%
Grátis Paga Condicional
1851-1871
50%
23%
27%
Grátis Paga Condicional
Fonte dos gráficos 4, 4.1, 4.2 e 4.3: anexos 1 e 1.1. Livros de registros de notas do primeiro, segundo e terceiro ofícios do Rio de Janeiro – 1840-1871, Arquivo Nacional.

173
A partir da análise do gráfico 4, vemos que o padrão eclesiástico seguiu a tendência
geral descrita no gráfico anterior, ou seja, entre os anos de 1840 a 1864, aproximadamente,
verifica-se o predomínio das alforrias “gratuitas”, seguidas pelas “pagas” e sendo, por fim,
a alforria sob a condição de prestação de serviços a menos utilizada pelos senhores. Logo,
concluímos que as “alforrias eclesiásticas” seguiram o mesmo padrão das “alforrias leigas”.
No entanto, analisando o clero separadamente, percebemos uma nítida diferença entre eles.
Para o período delimitado, o clero secular, alforriou gratuitamente um pouco mais
da metade de seus escravos libertos, seguindo, portanto, a tendência laica. Entretanto, entre
os regulares, vemos uma situação inversa, sendo as emancipações “pagas” superiores às
“gratuitas”.
O gráfico 4.2, no qual dividimos o recorte temporal entre antes e pós-fim do tráfico
transatlântico, mostra que o padrão não se alterou com relação às manumissões pagas para
o clero regular: foram, em ambos os períodos, as mais emitidas. Mesmo após a proibição do
tráfico internacional, momento em que o preço do cativo aumentou substancialmente, a
maioria dos alforriandos dos religiosos regulares pagou por sua liberdade. Esperávamos,
dessa forma, observar para este período um declínio das manumissões pagas, todavia, deu-
se o oposto: houve um ligeiro crescimento percentual desse tipo de alforria em relação ao
recorte temporal anterior. Mesmo assim, podemos dizer que a super valorização dos
escravos influenciou de certa forma as manumissões concedidas por eclesiásticos. As
“gratuitas” foram minoria até o fim da década de 1850, depois apresentaram um
crescimento bastante significativo, de 24% a 40%. Porém, o elevado preço do cativo não
foi suficiente para essa categoria tornar-se superior às “pagas”.
Já o gráfico 4.3 evidencia que para o clero secular o fim do tráfico não influenciou
de maneira direta os padrões de alforrias: não houve alteração na ordem dos tipos em
questão. Os valores das porcentagens variaram muito pouco, apresentando mudanças que
podemos considerar insignificantes. Apenas as manumissões pagas aumentaram 6% nos
anos pós-tráfico internacional.
Os regulares e seculares não se diferenciavam apenas na prática religiosa, pois,
apesar de pertencerem a uma única religião e instituição, possuíam diferentes visões de
mundo e de inserção no mesmo, além de diferentes situações econômicas. Logo, sendo
díspares as condições de vida dos senhores, conseqüentemente, o modo de vida de seus

174
respectivos escravos também o seria. O padrão acima talvez possa ser explicado por meio
das desiguais condições de vida dos escravos dos distintos cleros, isto é, possuíam
diferentes tipos de moradia, de relacionamento com outros cativos, de grau de parentesco,
de acumulação de pecúlio e de funções exercidas.
As diversas ordens representantes do clero regular no Rio de Janeiro eram
proprietárias tanto de imóveis urbanos quanto rurais. Possuíam engenhos, fazendas de gado,
olarias, estaleiros, armazéns e propriedades. O patrimônio fundiário e imobiliário das
ordens fora acumulado por meio de doações de famílias nobres, da Coroa e por compra.82
Concernente à área urbana, podemos dizer que urbanização do município carioca deve
muito a essas instituições, na medida em que foram participantes ativos deste processo.
Segundo Fania Fridman, ocorreu uma certa “coincidência” geográfica entre as propriedades
santas e os caminhos de crescimento da cidade. A autora ainda nos diz que:
Os beneditinos envolveram-se com grande número de edificações, febre de construções que também observamos na prática econômica dos carmelitas e da Irmandade da Misericórdia. Os carmelitas possuíam, em 1797, uma centena de propriedades no espaço que hoje compreende o município do Rio de Janeiro, incluindo chãos foreiros, dois engenhos e sete fazendas. Na área central, entre 1718 e 1858, seu patrimônio era composto por casas, sobrados e terrenos às ruas do Rosário, Alfândega, Direita, Sabão, Bragança, Hospício, Estreita de São Joaquim, Carmo e Nova do Ouvidor.83
Podemos ratificar a intensa atividade econômica das ordens, na medida em que as
mesmas possuíam propriedades em lugares privilegiados, como por exemplo, próximas a
fontes de água potável, de terra fértil ou do mar. 84 Especificamente sobre as propriedades
beneditinas, a proximidade do mar facilitava o abastecimento e o escoamento de sua
produção.
82 Idem, p. 57. 83 FRIDMAN, Fania. Donos do Rio em nome do rei: uma história fundiária da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, Ed. Garamond, 1999, p. 43. 84 Idem, p. 60.

175
A título de exemplo, entre os anos de 1751 a 1850, na área central do município, a
Ordem de São Bento acumulou, aproximadamente, duzentas casas de aluguel, mais de vinte
terrenos foreiros e dois prédios, além de sete lojas.85 Segundo D. Ramalho Rocha, durante
os séculos XVII e XVIII os rendimentos do Mosteiro de São Bento provinham
principalmente de suas fazendas de gado e de seus engenhos, mas a partir do final do
Setecentos os ganhos acrescidos com os aluguéis urbanos chegaram a superar os da
fazenda. Conforme Fridman, pode-se considerar “as ordens religiosas e confrarias como
agentes modeladores do espaço urbano no período colonial com funções de agentes
imobiliários”.86
É óbvio que as ordens possuíam “escravos urbanos” pois que trabalhavam nos
serviços internos do mosteiro, da igreja, nas construções de imóveis na cidade e, até mesmo
eram emprestados ao governo.87 Mas não se pode comparar a quantidade numérica desses
escravos com os que viviam em meio rural. No caso da nossa amostra documental, dos 160
registros de liberdade emitidos pelos regulares, em apenas 63 há informações sobre a
residência dos escravos. Dentre estas cartas, 71% pertenciam a escravos que viviam no
meio rural. Portanto, apesar da pequena amostra, podemos dizer, que a maioria dos
alforriandos do clero regular eram “escravos rurais”.
Afora todo o investimento no setor imobiliário, as ordens religiosas possuíam
inúmeras fazendas de gado e engenhos no Rio de Janeiro. Estas propriedades rurais eram
essenciais à sobrevivência e a manutenção de muitas ordens, mosteiros e conventos. Esses
latifúndios arregimentavam uma extensa mão-de-obra que, por conseguinte, tornou o clero
regular proprietário de um vasto número de escravos (estima-se que em 1834, o Mosteiro
de São Bento possuía 1.497 e em 1871, 4000 escravos).88
Muitos destes escravos do clero regular não viviam em senzalas comunais;
possuíam pequenos lotes de terras nos quais habitavam e retiravam sua subsistência e a de
sua família.89 Stuart Schwartz constatou, através da análise da política de tratamento à mão-
85 Idem, p. 71. 86 Idem, p. 49. 87 Idem, p. 61. 88 LUNA, D. Joaquim Grangeiro de, OSB. Os monges beneditinos no Brasil. Apud PIRATININGA JUNIOR, Luis Gonzaga. Dietários dos escravos de São Bento: originários de São Caetano e São Bernardo. São Paulo: HUCITEC; São Caetano do Sul, São Paulo: Prefeitura, 1991, p. 31 e FRIDMNAN, Fania. Op. cit., p. 62. 89 ROCHA, Mateus Ramalho. O Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. 1590/1990. Rio de Janeiro: Studio HMF, 1991, p. 88.

176
de-obra cativa dispensada pela Ordem de São Bento, a existência de determinadas margens
de autonomia dos escravos, concretizadas no sistema de roças autônomas e no direito de
exercer pequeno comércio dos bens produzidos.90 Atualmente, a questão da chamada
“brecha camponesa” é assunto encerrado na historiografia brasileira. No entanto, esse
termo, elaborado por pesquisadores caribenhos, gerou, a princípio, certa polêmica entre os
historiadores brasileiros. Portanto, cabe aqui, tecer-lhe breve comentário.
Alguns autores, como Jacob Gorender, entendem a “brecha camponesa” como
simplesmente uma “fenda em alguma coisa”, neste caso, no modo de produção escravista.91
Assim, sua definição reduz-se a uma simples produção de alimentos pelos escravos para
seu uso próprio ou para venda. Assim sendo, os resultados obtidos com a tal fenda ou
abertura, não causaram qualquer impacto sobre estrutura e a dinâmica do sistema
escravista. E, ainda conforme Gorender, o escravo permaneceu submetido aos interesses
mercantis do seu senhor.
Já o historiador Ciro Flamarion Cardoso compreendeu a “brecha camponesa” para
além da questão exclusivamente econômica. Além de proporcionar uma possível melhoria
na economia cativa, abria ao escravo um maior espaço psicológico, a partir do momento em
que ampliava sua autonomia.92 Dessa forma, tal fenômeno não deveria ser mais
denominado “brecha” nem, a rigor, “camponesa”, mas sim, uma “economia interna dos
escravos”, um termo que abrange todas as atividades desenvolvidas pelos cativos para
aumentarem seus recursos.
Segundo Robert Slenes, o historiador não deve aprisionar o pensamento na metáfora
“brecha camponesa”, pois dessa forma a discussão cingir-se-ia à “existência da fenda ou do
tamanho dela, que apenas poderia variar entre pequeno ou minúsculo”.93 Assim, para
Slenes:
90 SCHWARTZ, Stuart. “The Plantations os Saint Benedict: the benedictine sugar mills of colonial Brazil”. The Americas, Washington, 39, 1982, pp. 1-22. Apud: MACHADO, Maria Helena. “Em torno da autonomia escrava: uma nova direção para a história social da escravidão”. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, AMPUH / Marco Zero, v. 8, nº 16, março de1988 / agosto de 1988; p. 150. 91 GORENDER, Jacob. Op.cit., 1984. 92 CARDOSO, Ciro Flamarion. Escravo ou camponês? O proto-campesinato negro nas Américas. São Paulo: Brasiliense, 1987. 93 SLENES, Robert W. Op. cit., 1999, p. 198.

177
Compreender o sistema escravista como totalmente inabalado, com brecha imperceptível ou ausente, nada mais é do que a visão de quadrado fechado das senzalas, e não a construção real ‘remodelada’ pelo escravo e crivada de ‘buracos’ por onde se fugia a toda hora, mas aquele quadrado-prisão perfeito do imaginário do fazendeiro.94 Como Cardoso, Slenes entende que essa “contenda” entre senhores e escravos, e
não a economia interna escrava em si, destaca-se como o elemento determinante no sistema
escravista.
Conforme o antropólogo Sidney Mintz, os escravos elaboraram certos padrões de
comportamento adaptativos que, pode-se dizer, “contribuíram, de um lado, para a operação
efetiva do sistema, e, de outro, para seu progressivo enfraquecimento”.95 Assim, o
fenômeno da “economia interna dos escravos” caracterizou um processo de via dupla: por
um lado contribuiu para uma identidade escrava autônoma, e por outro, beneficiou os
senhores, tanto economicamente quanto ideologicamente – servindo como controle social.
Porém, a “brecha” foi mais do que simples terra para o escravo e benefício econômico para
o senhor. Ela ensejou a formação de verdadeiras comunidades mestiças, do ponto de vista
jurídico, onde cativos e ex-cativos viviam e trabalhavam em conjunto. E retornando a
Slenes, ela ainda “criava condições para re(criar) uma cultura e uma identidade própria que
tornavam a família e a roça mais do que um engodo ideológico”.96
Concluindo, conforme Mintz, muitos pessoas, mesmo enquanto bens de outras,
possuíam propriedades, onde produziam para subsistência, para venda ou troca, usufruindo
com autonomia os ganhos daí provenientes, criando dessa forma, uma certa distância entre
seu status social de escravos e suas práticas.97
Enfim, este era o modo de vida da maioria dos escravos do clero regular: além de
trabalharem para seus senhores, usufruíam terras98 que lhes proporcionavam subsistência e
a formação de pecúlio, proveniente da comercialização dos “excedentes”. Como ilustração,
vejamos alguns exemplos: Sofia Crioula, escrava da fazenda de Campos de propriedade do
Mosteiro de São Bento. Ela amealhou 600$000 réis e, em março de 1848, pôde pagar sua 94 Idem, p.199. 95 MINTZ, Sidney W. The origins of the jamaican market system. Apud: SLENES, Robert. Op. cit., 1999, p. 198. 96 SLENES, Robert. Op. cit., 1999, p. 200. 97 MINTZ, Sidney W. Op. cit., Apud: MACHADO, Maria Helena P. T. Op. cit., 1988; p. 154. 98 ROCHA, Mateus Ramalho. Op. cit., 1991, p. 88.

178
carta de alforria mais a de seu filho José, ainda “cria de peito”.99 Também Antônio, escravo
da fazenda Iriri pertencente aos carmelitas, formou um pecúlio de 300$000 réis e teve sua
manumissão registrada em 31 de março de 1864.100 No início da década de 1860, as cativas
Carolina, 32 anos e Domingas, 22 anos, ambas pardas, “trabalhadoras da fazenda” de
Vargem Pequena, dos beneditinos, tornaram-se forras, pois, conseguiram juntar 400$000
réis e 600$000 réis respectivamente.101 Portanto, suponhamos que o acesso a uma pequena
porção de terra favorecia o acúmulo de pecúlio por parte dos cativos.
Além dessa forma de obtenção de dinheiro, muitos escravos das fazendas possuíam
alguma especialização profissional. O Mosteiro de São Bento, por exemplo, formava desde
jovens seus cativos em vários ofícios e artes, como carpinteiros, oleiros, ferreiros, alfaiates,
pedreiros, marceneiros, fiadeiras, cozinheiras etc. 102 Especializados, além de trabalharem
nas diversas propriedades beneditinas, os escravos poderiam ser locados pelos próprios
senhores ou realizar trabalhos, ocasionalmente, para além da fazenda. Isso, além de ser uma
óbvia medida de economia para o Mosteiro, significava elevação de status para o próprio
cativo, que possuía uma certa mobilidade espacial, proporcionando-lhes melhores
oportunidades de formação de pecúlio.
Como exemplo, voltemos às fontes. No universo dos 370 registros de alforrias, a
ocupação do escravo foi documentada em apenas em 17, sendo 13 de cativos do clero
regular e 4 do secular. Dos 13 primeiros, 6 pagaram por sua alforria, 3 tornaram-se forros
com o pagamento de terceiros, 2 receberam gratuitamente e 2 cumpriram uma condição não
explícita na carta. Dessa forma, apesar de ínfima amostra, podemos observar que,
aparentemente, os escravos especializados em alguma profissão tinham melhores
oportunidades de conseguir a manumissão mediante o pagamento em dinheiro.103
De acordo com Manuela Carneiro da Cunha, era grande a dificuldade de um escravo
do eito reunir economias.104 Também, segundo Thomas Merrick e Douglas Graham “os
escravos jovens que trabalhavam no campo eram os menos beneficiados com a alforria,
99 2º Ofício de Notas; livro 79; p. 177 - Arquivo Nacional (RJ). 100 2º Ofício de Notas; livro 100; p. 46v. - Arquivo Nacional (RJ). 101 1º Ofício de Notas; livro 61; p. 89 / 2º Ofício de Notas; livro 99; p. 79v. - Arquivo Nacional (RJ). 102 ROCHA, Mateus Ramalho. Op. cit. 103 As ocupações que aparecem nos registros são: alfaiate, oficiais de barbeiro, pedreiro, carpinteiro e marceneiro, mestres de pedreiro e sapateiro, enfermeira e “trabalhador da fazenda”. 104 CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros estrangeiros. Os escravos libertos e sua volta à África. São Paulo: Brasiliense: 1995.

179
gratuita ou comprada”. 105 Contudo, não foi essa a realidade encontrada na análise dos tipos
de alforrias dos cativos pertencentes aos regulares... Dessa forma, acreditamos ser essa
“maior facilidade” para acumulação de pecúlio a razão pela qual a metade da escravaria
liberta do clero regular, no recorte temporal delimitado, ter adquirido sua emancipação com
o pagamento em dinheiro, mesmo em períodos de super valorização de seus preços. Padrão
contrário caracterizou as alforrias assinadas pelo clero secular, no qual a manumissão
gratuita foi o principal meio de libertação dos escravos pertencentes a este clero. Logo,
podemos afirmar que o acúmulo de dinheiro, por parte dos cativos, estava diretamente
ligado ao acesso a terra e, também, à especialização profissional.
Afora a acumulação de pecúlio, acreditamos que situação política e financeira das
ordens nesse período contribuíram para o predomínio das alforrias “pagas” entre os
alforriados pelos regulares. O Aviso de 19 de maio de 1855, promulgado pelo ministro da
justiça Nabuco de Araújo, proibiu a entrada de noviços em quaisquer ordens religiosas.
Com isso, a Coroa pretendia reverter ao poder monárquico os bens dessas ordens. A
conseqüência direta desse Aviso, claro, foi o despovoamento de mosteiros e conventos. O
Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, por exemplo, em 1868 possuía apenas quinze
religiosos106 e à época da Proclamação da República, só possuía um monge, o Abade
Ramos. Além disso, as ordens passavam por momentos de crises internas que tornara a
vida regular bastante desarticulada.107
Nesse sentido, podemos supor que esta crise favorecia o descontrole das instituições
com relação às suas fazendas e a seu enorme contingente de escravos. Essa situação pode
ter acarretado uma maior autonomia, proporcionando aos escravos do meio rural das ordens
regulares uma maior mobilidade espacial que, por conseguinte, facilitava e acelerava o
processo de acumulação do esperado pecúlio. Este, além de pagar a alforria do escravo,
poderia servir como ajuda financeira à instituição em crise. Contudo, essa crise institucional
não descaracteriza as ações e estratégias forjadas pelos cativos em busca de sua liberdade.
São diversos fatores que, de alguma forma, convergiram para a determinação de certos
padrões.
105 MERRICK, Thomas W e GRAHAM, Douglas H. Op. cit. 1979, pp. 78 e 79. 106 FRIDMAN, Fania. Op. cit., 1999, p. 71. 107 GOMES, Francisco José Silva. Quatro séculos de cristandade no Brasil. Comunicação apresentada em junho de 2001 em Recife, no Seminário Internacional de História das Religiões, promovido pela ABHR.

180
Uma certa autonomia econômica – que facilitava a compra da alforria até mesmo
em períodos de alta nos preços – bem como a formação profissional – deixando
transparecer uma possível valorização do trabalho por parte do clero regular, que
possibilitava ao escravo melhores condições de vida após a alforria – são exemplos que
talvez resultem de práticas permeadas por valores morais ostentados pelo clero. Não seria
absurdo supor, então, que por traz dessas “permissões e incentivos” dos regulares houvesse
uma vontade de contribuir à salvação daqueles seres, descendentes de Cam, amaldiçoados
por Noé... Conjeturamos que o clero regular proporcionava ao escravo a possibilidade de se
tornar um agente social mais ativo.
Bem diverso era o modo de vida dos escravos do clero secular. Das 210 alforrias por
ele emitidas, encontramos apenas quarenta e duas referências às residências dos cativos.
Dessa amostra, somente doze escravos moravam em fazendas. Sendo que destes, nove
pertenciam a um mesmo padre, João Coelho, que alforriou, entre os anos de 1845 e 1848,
nove escravos residentes em sua fazenda localizada em Tribobó.108
Logo, podemos sugerir que os escravos dos seculares viviam, essencialmente, no
meio urbano e realizavam, sobretudo, serviços domésticos nas paróquias e residências
particulares dos padres. Essa condição, supomos, dificultava a constituição de pecúlio. No
que se refere à maioria de alforrias gratuitas emitidas pelo clero secular, a proximidade
entre senhores e escravos pode ajudar-nos na compreensão.
Poucos padres tinham patrimônio expressivo e isso é causa direta dos pouquíssimos
inventários post-mortem de eclesiásticos existentes no Arquivo Nacional, ao menos no
período compreendido por esta pesquisa. Não obstante, encontramos um caso bem peculiar.
Antônio Joaquim de Souza, presbítero secular da irmandade de São Pedro, possuía uma
grande propriedade rural na Freguesia de Irajá. Em seu inventário, aberto em 1848, foram
avaliados 63 escravos e o monte líquido de seus bens somou 27:342$690.109
Enfim, afora exceções como a do presbítero Antônio Joaquim de Souza, a maioria
dos padres seculares vivia em suas paróquias com poucos escravos. A manumissão de um
escravo do clero secular poderia depender de sua relação com o senhor, requerendo daquele
108 2º Ofício de Notas; livro 76; p. 89 / livro 79; pp. 19, 16v e 138 - Arquivo Nacional (RJ). 109 Inventário de Antônio Joaquim de Souza - 3ª Vara civil / Juízo de Órfãos – caixa: 3614; nº: 2; ano: 1848 / 1852 – Arquivo Nacional (RJ).

181
uma certa “politização” em busca de sua liberdade. Ou seja, sendo em número reduzido
(comparado à escravaria do clero regular) e desenvolvendo atividades em constante contato
com seus senhores, é razoável supor que esses escravos tinham melhores oportunidades de
tecer negociações de caráter pessoal, balizadas por favores e recompensas recíprocas.
Malgrado não descartamos a possibilidade da existência de redes de solidariedade mesmo
em plantéis com reduzido número de escravos.
Diferentemente, os escravos dos regulares dependiam muito mais de suas redes de
auxílio mútuo, de solidariedade entre os companheiros de cativeiro para obter sua carta.
Como vimos, o clero regular da cidade Rio de Janeiro era proprietário de verdadeiros
latifúndios, o que pressupunha uma grande quantidade de trabalhadores submetidos a uma
ordem religiosa, e não a um senhor em particular. Esse contexto, portanto, desfavorecia a
formação de relações mais próximas entre os senhores e os escravos.
Todavia, essa característica também exigia do cativo uma negociação, que se
realizava não exclusivamente no âmbito pessoal, como visto no secular, mas sim em nível
institucional, até porque o monge responsável pela fazenda não poderia alforriar sem a
devida autorização do conselho superior da ordem. Por exemplo, o escravo poderia inserir-
se em redes de solidariedade ou familiares onde, talvez, veria encurtado seu caminho à
emancipação. Mas, esse assunto será trabalhado com maior desvelo no próximo capítulo.
Também, não devemos esquecer que não obstante as alforrias pagas terem predominado,
muitos cativos (gráfico 4.1 – 38%) recorreram à negociação política para obter sua
liberdade sem ônus monetário.
Analisadas as variáveis pagas e gratuitas, vejamos agora as alforrias condicionais. O
gráfico 4, apresenta a seguinte constatação: a carta que condicionava o escravo a prestar
algum tipo de serviço foi a menos utilizada pelo clero, seguindo portanto o padrão já
identificado às alforrias gerais. Porém, desagregando o clero, observamos as diferenças
entre eles: a carta condicional foi em ambos os recortes temporais a segunda opção mais
utilizada entre os seculares. Já no caso do clero regular, que durante a vigência do tráfico as
alforrias condicionais ficavam “atrás” das “pagas” com uma diferença percentual não muito
grande, aparecem no período posterior perfazendo apenas 7% das cartas de alforria.
Talvez esses números sejam reflexos, também, da maior ou menor proximidade entre
senhores e escravos. Era comum um escravo receber a alforria sob a condição de servir por

182
longos anos e, mesmo até a morte do senhor. Não raro, este se comprometia a cuidar do
escravo, dando-lhe alimentação, vestuário, medicamentos e, inclusive, educação. Assim,
temos de convir que essa prática seria bem mais razoável de ser aplicada pelos seculares,
segundo os motivos já vistos acima. Entre o clero regular, que tinha sob sua administração
um número muito maior de escravos, verdadeiras comunidades em suas fazendas, natural
supormos que esse tipo de acordo seria menos corriqueiro.
Olhando friamente para esses exemplos de acordo que norteavam as manumissões
condicionais poderíamos pensar numa condição, onde fosse possível que, mesmo forro, o
(ex) escravo continuasse sob a égide do seu senhor, vivendo como o “bom Pancrácio” da
crônica Machadiana... Mas, deixemos as alforrias condicionais para o final desta
dissertação.
2 – Africanos e crioulos entre os escravos do clero
Tem-se fundamentado, na historiografia da escravidão brasileira, a superioridade
dos crioulos na população forra. Isto devido a uma maior proximidade entre senhores e
escravos, conseqüência direta do alto grau de aculturação referente aos escravos nascidos
no Brasil. Vejamos então alguns autores que discorreram sobre o padrão de naturalidade
das alforrias em diferentes regiões do país.
Por meio da análise de testamentos da região de Minas Gerais Oitocentista, Eduardo
França Paiva reiterou o padrão mencionado. Dos 357 testamentos analisados, o autor
utilizou 151, que faziam referências a alforrias gratuitas ou condicionais, para verificar o
padrão de naturalidade entre os libertos mineiros.110 Na amostra total, 343 cativos
receberam suas alforrias através de testamento. Dentro desse universo, a maioria dos
libertos havia nascido no Brasil, mais precisamente, 74%.111
110 PAIVA, Eduardo França. Op. cit., 1995, p. 94. 111 Conforme Paiva, em 24 casos (7%) os testamentos não registraram a origem do escravo.

183
A despeito da utilização de diferentes fontes e de uma amostra documental bastante
superior (1.160 cartas de alforria), Schwartz verificou na Bahia, no período de 1684 a 1745,
tendência à região mineira: 69% dos forros eram crioulos enquanto 31% eram africanos.112
Retornando as atenções para o Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XIX,
novamente, vemos os crioulos como os mais alforriados. Da amostra analisada por Karasch
(1808-1831), 56% dos libertos havia nascido no Brasil, enquanto 38% na África,
atravessado o Atlântico em tumbeiros.113
Todavia, esse padrão da região fluminense não se mostra estável ao longo do século
XIX. Contrariando as expectativas, as décadas de 40 e 50 assistiram a inversão da
característica predominante: a quantidade de africanos alforriados foi superior a de
crioulos.114 Naquelas décadas Oitocentista, os africanos superavam os crioulos numa
proporção variável entre dois e três para cada escravo nascido no Brasil. Além da
predominância no número de manumissões, os africanos dominavam também o universo
das alforrias pagas em dinheiro. Portanto, conforme Florentino, a hegemonia africana neste
período foi resultado de dois fatores concomitantes: “a evidente capacidade dos africanos
para constituir pecúlio e comprar a liberdade, e outro fator de ordem demográfica, o
expressivo peso dos africanos na população escrava do Rio”.115 Somente na década de 1860
– dez anos após a definitiva proibição do tráfico Atlântico – os crioulos voltariam a ser
hegemônicos na “emancipação pela via conservadora”.
Vistos os padrões de naturalidade em algumas regiões, vejamos agora sua
distribuição entre os escravos dos eclesiásticos do Rio de Janeiro:
Tabela 1: Distribuição de alforriandos por naturalidade (1840-1871):
CLERO
AFRICANOS CRIOULOS TOTAL 2
112 SCHWARTZ, Stuart. Op. cit., 2001, p. 186. 113 KARASCH, Mary. Op. cit., 2000, p. 458. 114 FLORENTINO, Manolo. Op. cit., 2002, p. 22. 115 Idem, p. 26.

184
# % # % # %
REGULAR 30 29 75 71 105 100
SECULAR 103 57 78 43 181 100
TOTAL 1 133 47 153 53 286* 100
Fonte: Livros de registros de notas do primeiro, segundo e terceiro ofícios do Rio de Janeiro – 1840/1850, Arquivo Nacional (RJ). * Em 84 cartas a naturalidade não foi mencionada ou o documento não permite uma classificação. Tabela 1.1: Distribuição de alforriandos por naturalidade (1840-1850):
AFRICANOS CRIOULOS TOTAL 2
CLERO
# % # % # %
REGULAR 13 38 21 62 34 100
SECULAR 46 63 27 37 73 100
TOTAL 1 59 55 48 45 107 100
Fonte: Livros de registros de notas do primeiro, segundo e terceiro ofícios do Rio de Janeiro – 1840/1850, Arquivo Nacional (RJ). Tabela 1.2: Distribuição dos alforriandos por naturalidade (1851-1871):
CLERO
AFRICANOS CRIOULOS TOTAL 2

185
# % # % # %
REGULAR 17 25 51 75 68 100
SECULAR 59 53 53 47 112 100
TOTAL 1 76 42 104 58 180 100
Fonte: Livros de registros de notas do primeiro, segundo e terceiro ofícios do Rio de Janeiro – 1851/1871, Arquivo Nacional (RJ).
As tabelas evidenciam algumas questões interessantes acerca da origem dos
“escravos da religião”. A primeira apresenta que, de um modo geral, o clero seguiu a
tendência já observada para a naturalidade: a predominância dos crioulos entre os
alforriados. Todavia, esse padrão, como visto acima a partir do trabalho de Florentino, não
foi constante durante todo o século XIX no Rio de Janeiro. Ocorreu nas décadas de 1840 e
1850 uma inversão na qual vê-se os africanos como os maiores beneficiados quando a
questão era a carta de alforria. Então, analisando a tabela 1, concluímos que o clero não
seguiu o padrão da região fluminense. Porém ao dividirmos nosso recorte temporal em pré
e pós-fim do tráfico internacional (tabelas 1.1 e 1.2), vemos exatamente o oposto. A tabela
1.1 evidencia que entre os anos de 1840 e 1850 os africanos foram os mais alforriados,
logo, seguindo a mesma tendência encontrada por Florentino. Desta feita, entre os
mancípios de clérigos, somente depois da Lei Euzébio de Queiroz, os escravos nascidos em
terra brasileira voltaram a ser predominantes (tabela 1.2).
Mas, passemos neste momento, à análise “dos cleros” separadamente. Os dados
numéricos evidenciam uma grande diferença entre seculares e regulares no que concerne à
naturalidade de seus alforriandos. Durante todo o recorte temporal desta pesquisa os
africanos foram maioria entre os alforriandos dos seculares, enquanto com os regulares
deu-se o padrão inverso: os crioulos foram sempre majoritários. Supomos que esses
padrões refletiram as diferenças inerentes ao próprio clero.

186
No momento, não temos como afirmar a procedência desses africanos pertencentes
aos seculares. Sabemos, conforme Tannenbaum, que ao menos em teoria, a Igreja
condenara o tráfico de escravos e proibira os católicos de participarem de tal comércio.116
Mas o fato de os seculares alforriarem majoritariamente africanos não nos permite afirmar a
recorrência direta dos padres ao tráfico, visto que também poderiam ter muitos escravos
provenientes de legado de heranças deixadas por fiéis, ato não incomum no século XIX.
Por ora, nossas fontes revelam que os padres alforriaram um número bem maior de
africanos em detrimento dos cativos naturais do Brasil. Isso, obviamente, nos sugere uma
maior incidência de africanos nos plantéis dos seculares.
Podemos dizer, baseado em nosso banco de dados, que os escravos dos seculares
viviam, sobretudo, no meio urbano. Logo, essa superioridade numérica de africanos entre
os alforriandos do clero secular talvez possa ser entendida pelo padrão demográfico
fluminense no período em questão. Como dito acima, havia um grande contingente de
africanos entre a população escrava da Corte. Além disso, uma numerosa parcela desses
africanos era “ladinizada”, sendo assim, tão capaz quanto os crioulos para negociar sua
liberdade, visto que, os originários da África, além das alforrias compradas, dominavam
também o campo das alforrias gratuitas.117
Então, esse padrão das naturalidades presente nas alforrias do clero secular, pode ter
refletido o padrão demográfico da população escrava do Rio de Janeiro nesse período. E
além de tudo, corrobora a idéia de que os africanos, mesmo não inseridos em redes de
solidariedade e parentesco solidificadas como as dos crioulos, forjavam estratégias que, de
certa forma, facilitavam seu acesso à liberdade. Criavam laços de parentesco e de
solidariedade, possivelmente, por meio da inserção em alguma irmandade ou buscavam a
formação de pecúlio via trabalho “extra cativeiro”.
Situação diversa vivenciaram os escravos pertencentes aos regulares. Os crioulos
foram os mais alforriados por este setor eclesiástico, conforme visto nas tabelas acima.
Logo, também supomos ter esse padrão refletido as condições de vida de tal clero. Os
escravos viviam, principalmente em meio rural, já que os regulares eram proprietários de
inúmeros latifúndios no Rio de Janeiro.
116 TANNEMBAUM, Frank. Op. cit., 1946, p. 62. 117 FLORENTINO, Manolo. Op. cit., 2002, p. 24.

187
Para o clero regular podemos ser mais incisivos com relação a proveniência dos
escravos: à grande predominância de crioulos nos plantéis dos regulares podemos supor
uma ínfima recorrência destes ao tráfico negreiro. Esse padrão da naturalidade reitera a
afirmação de Ramalho Rocha na qual afirma que o Mosteiro de São Bento recorria muito
pouco ao tráfico e comprava cerca de dez escravos a cada triênio para distribuir entre os
mosteiros e suas sete – conhecidas – propriedades rurais no Rio de Janeiro.118
Carlos Engemann, estudando diversas fazendas de grande porte da região sudeste –
entre elas, a do Engenho do Camorim na freguesia de Jacarepaguá, pertencente aos
beneditinos do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro – percebeu que os escravos de
grandes plantéis criavam estratégias de vida que os enlaçavam em autênticas
comunidades.119
Essas comunidades pressupunham uma elaborada estrutura familiar. Esta
circunstância ensejava um vigoroso crescimento endógeno nas fazendas, explicando, por
sua vez, a grande freqüência de crioulos entre os mancípios dos religiosos regulares. E
como visto anteriormente, o clero regular recorria pouquíssimo ao tráfico negreiro. Dessa
forma, a estimativa de que este mosteiro possuía aproximadamente 4000 escravos em 1871,
leva a crer que o aumento da população escrava da ordem beneditina era sustentado pelo
crescimento vegetativo, ou seja, na própria existência da família, e não em reposição via
tráfico.
Comparando a fazenda Resgate, no oeste paulista, propriedade do Comendador
Manuel de Aguiar Vallim, com a fazenda do Engenho do Camorim, dos beneditinos,
Engemann constatou que apesar da última possuir um número de escravos inferior à
primeira (436 e 172 escravos respectivamente, na segunda metade do século XIX), ela
presenciou uma reprodução endógena mais ampla que a formação dos escravos da fazenda
paulista.120
Isso pode ser explicado pela peculiaridade de ser uma fazenda cujos donos eram
eclesiásticos. Afora a normal reprodução endógena no interior de qualquer latifúndio, as
fazendas pertencentes a instituições religiosas tinham, ao menos em teoria, uma
118 ROCHA, Mateus Ramalho. Op. cit., 1991, p. 83. 119 ENGEMANN, Carlos. De grande escravaria a comunidade escrava. Revista Estudos de História. Franca: UNESP, v. 9, n. 2, pp. 75-96, 2002. 120 Idem, p. 82.

188
especificidade a mais: o incentivo dado pelos clérigos à formação de famílias escravas
“legítimas”. Mas, isso não significa que os regulares fizessem de suas fazendas verdadeiros
criatórios de escravos como afirmou Manuela Carneiro da Cunha, baseada apenas em
relatos do viajante Thomas Ewbank, do século Oitocentista que, apesar de representarem
fontes riquíssimas, não possuem base empírica e são demasiadamente preconceituosos:
Não só as ordens religiosas tinham seus escravos, até quase às vésperas da Abolição, mas algumas se especializaram, e parecem ter sido as únicas empresas do gênero no Brasil, na reprodução de escravos. Os carmelitas tinham, por exemplo, criatórios de escravos na província do Rio de Janeiro, e os beneditinos na Ilha do Governador, no Rio.121
Óbvio que a reprodução endógena consistia em importante fator econômico para a
instituição, porém, não devemos nos aprisionar na supremacia do econômico, vendando os
olhos para outras possíveis interpretações. Assim como Cunha, Piratininga Junior também
baseou seus estudos na obra de Ewbank. O mesmo autor que sustentou a idéia da existência
de uma sólida estrutura familiar nas senzalas, evidenciando dessa forma, que os cativos
“não foram passivos e simples objetos”, 122 afirmou a existência de criadouros no interior
das fazendas beneditinas.
Ora, a presença de famílias “legítimas” entre a população escrava, por si só,
pressupunha uma realidade deveras adversa à condição de “criatórios” de escravos,
entendidos como grupos de indivíduos associados por práticas que subvertiam a própria
norma social predominante.
Havia sim um grande incentivo, em teoria, por parte dos religiosos, à constituição
familiar de sua escravaria com matrimônio legítimo. Por exemplo, o Capítulo Geral da
Congregação Beneditina do Brasil, em 1829, determinou que as escravas mães de seis
filhos e casadas legitimamente seriam alforriadas.123 As manumissões seriam concedidas
121 CUNHA, Manuela Carneiro da. Op. cit., 1987, pp. 129 e 130. 122 PIRATININGA JUNIOR, Luis Gonzaga. Op. cit., 1991, p. 33. 123 Desde 1780 a Junta do Mosteiro de São Bento já havia promulgado essa lei, porém ela sofreu diversas modificações ao longo dos anos, inclusive na Congregação Beneditina do Brasil. ROCHA, Mateus Ramalho. Op. cit., 1991.

189
gratuitamente e as ex-escravas poderiam continuar vivendo na fazenda junto a seu
marido.124 Pode-se perceber aí, além de uma intenção simplesmente econômica, uma
preocupação de caráter moral/religioso; a escrava, para “obter a graça” deveria fazer parte
de uma família legítima, ou seja, deveria estar casada sob as bênçãos da religião católica.
3 – Homens e mulheres: servos da religião
Há muito já se consagrou na historiografia brasileira o padrão de manumissão
concernente ao sexo do cativo. Diversos historiadores obtiveram as mesmas conclusões
analisando diferentes regiões do país: as mulheres escravas sempre tiveram vantagem sobre
os homens escravos quando o assunto era a emancipação através da carta de alforria.
Vejamos a análise em duas diferentes regiões.
Stuart Schwartz analisou 1.160 cartas de alforrias registradas nos cartórios da cidade
de Salvador, no período de 1684 a 1745 e chegou à conclusão que o padrão de
manumissões coloniais da Bahia é a proporção constante de duas mulheres para cada
homem liberto.125 Este desequilíbrio foi encontrado na pesquisa realizada por Kátia
Mattoso num período posterior – 1779 a 1850.126 Esses resultados levam a crer, segundo
Schwartz, que tal proporção – duas mulheres para cada homem liberto – foi uma
característica invariável da manumissão baiana.
Mary Karasch, no livro A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850),
analisou as manumissões registradas nos livros de notas do primeiro cartório carioca entre
124 Idem, p. 86. 125 SCHWARTZ, Stuart B. Op. cit., 2001, p.184. 126 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Propósito de cartas de alforria na Bahia, 1779-1850. Anais de História. Marília, n°. 4, 1971.

190
1807 e 1831. A maior freqüência do sexo feminino sobre o masculino, tal como na Bahia,
foi o padrão encontrado. Mais precisamente, 64% dos alforriados, na amostra utilizada pela
autora, eram mulheres. Posteriormente, percebemos que a tendência não se altera, conforme
o censo de 1849. Este estabelece que as mulheres alforriadas somavam 56% contra 44%
libertos na região fluminense.127
A autora citada enumera diferentes fatores que influenciariam a consolidação desse
padrão de manumissão. Primeiramente, a variação dos preços entre escravos de diferentes
sexos. As cativas, geralmente, tinham menor valor no mercado, podendo, assim, perfazer de
forma mais célere o pecúlio necessário a sua alforria. Especialmente em cidades como o
Rio de Janeiro elas tinham melhores oportunidades de trabalhar como “ganhadoras”,
vendendo frutas, verduras, doces, etc, ou até mesmo na prostituição.
Afora o fator econômico, outros contribuiriam para o sucesso das mulheres sobre os
homens na conquista da carta. Em uma família escrava, por exemplo, os homens poderiam
amealhar o dinheiro necessário à alforria, porém receosos com o futuro de seus filhos,
libertariam primeiramente suas esposas para que os mesmos nascessem livres. Além disso,
a relação de amizade que muitas escravas domésticas consolidavam com suas sinhás e
possíveis uniões consensuais que mantinham com seus senhores, concorriam para o
predomínio das mulheres entre os mancípios.
Analisando especificamente as manumissões dos escravos pertencentes aos clérigos,
obtivemos os seguintes números:
Tabela 2: Distribuição das alforrias por sexo nos respectivos cleros (1840-1850):
SEXO
REGULAR SECULAR TOTAL 2
127 KARASCH, Mary. Op. cit., 2000, p. 452.

191
# % # % # %
MULHERES 30 71 51 56 81 61
HOMENS 11 29 40 44 51 39
TOTAL 1 42 100 91 100 132 100
Fonte: Livros de notas do primeiro, segundo e terceiro ofícios do Rio de Janeiro – 1840/1850, Arquivo Nacional (RJ). Tabela 2.1: Distribuição das alforrias por sexo nos respectivos cleros (1851-1871):
REGULAR SECULAR TOTAL 2
SEXO # % # % # %
MULHERES 62 53 67 54 130 54
HOMENS 54 47 57 46 111 46
TOTAL 1 116 100 124 100 240 100
Fonte: Livros de notas do primeiro, segundo e terceiro Ofícios do Rio de Janeiro – 1851/1871, Arquivo Nacional (RJ). As tabelas mostram, em ambos os períodos, que o clero seguiu a tendência laica:
alforriava-se mais mulheres. Pormenorizando a análise, vemos que entre os seculares a
proporção de libertandos masculinos e femininos permaneceu praticamente inalterada ao

192
fim do tráfico internacional. Mas entre o clero regular, verificamos uma mudança na
proporção entre os gêneros: enquanto na década de 1840 as mulheres eram maioria absoluta
entre os alforriandos, no segundo recorte temporal, a diferença diminui bruscamente.
A despeito do constante predomínio do sexo feminino nas manumissões, vemos um
relativo equilíbrio entre os sexos nas manumissões concedidas por seculares, comparando-
se com a enorme diferença existente, no primeiro período, entre as alforrias das ordens.
Porém, estas, após 1851, tornaram-se também equilibradas, chegando a uma diferença de
apenas 6% entre homens e mulheres.
Segundo Schwartz, a maior recorrência do sexo feminino entre os forros esteve
“presente tanto entre os setores urbanos quanto rurais (...) embora a tendência de se
favorecer as mulheres no processo de emancipação seja um pouco mais acentuada nas áreas
rurais”.128 Portanto, os resultados evidenciados nas tabelas acima reiteram a afirmação do
autor, visto que a maioria dos alforriados dos religiosos regulares vivia em ambiente rural.
Enfim, a título de conclusão, neste capítulo definimos e analisamos certos padrões
das manumissões concedidas por clérigos católicos da cidade do Rio de Janeiro. Estes
padrões permitiram-nos vislumbrar algumas peculiaridades inerentes à escravidão exercida
por este grupo restrito de senhores.
Porém, percebemos que as peculiaridades identificadas não se apresentam de forma
homogênea nos “dois tipos” de clero. Concluímos, desse modo, a fragilidade de se analisar
a escravidão exercida pelo “clero católico” admitindo este como um segmento único. O que
ora se impõe é a existência de “dois cleros” no interior de um mesmo grupo religioso,
agindo de forma diferenciada entre si no que concerne à escravidão. Desagregando a
análise, vimos não só padrões diferentes, mas também opostos. Ressaltamos, portanto, a
necessidade de um estudo diferenciado entre eles.
128 SCHWARTZ. Stuart B. Op. cit., 2001, p. 184

193
Capítulo III: A família cristã entre os “escravos da religião”

194
1 – O “surgimento” da família escrava na historiografia
Hoje, a vida familiar dos escravos não é uma novidade. Isso se tornou evidente
desde que a demografia começou a ser utilizada pelos historiadores brasileiros na década de
1980. Portanto, não há mais a necessidade de se provar que os escravos estabeleciam laços
de solidariedade e construíam redes familiares. Todavia, cabe-nos tecer uma breve
discussão sobre a evolução do tema em nossa historiografia.
A publicação de Casa Grande e Senzala129, na década de 1930, significou um marco
para a discussão da escravidão no Brasil. Gilberto Freyre apresentou a contribuição do
negro para a formação da cultura brasileira como algo positivo. Com isso, inaugurou uma
nova visão acerca do negro no Brasil, opondo-se à teoria, predominante até então, de
inferioridade racial do mesmo e do perigo da miscigenação para o desenvolvimento da
sociedade brasileira.130
Com relação à família, Freyre criou a noção de “família patriarcal brasileira”, ou seja,
aquela que engloba esposa, filhos, netos, avós, agregados e escravos, enfim todos aqueles
que se encontravam sob o poder e proteção do senhor patriarcal. Dessa forma, em Freyre
ainda não existia a idéia da existência da família cativa propriamente dita, mas sim de uma
só família – extensa e multifuncional – onde senhores e escravos, principalmente
domésticos, mantinham relações quase sempre harmoniosas.
129 FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala. Rio de Janeiro: Record, 2001. 130 Essa teoria, racismo científico, teve Nina Rodrigues e Conde de Gobineau como seus principais representantes.

195
Na década de 1950, a Escola Paulista de Sociologia caracterizou-se como crítica a
Freyre. Autores como Florestan Fernandes, Emília Viotti da Costa e Fernando Henrique
Cardoso enfatizaram o caráter violento da escravidão brasileira, contrapondo-se à imagem
de certa leniência criada por Freyre.131 Esses autores ressaltaram o conflito inerente à
sociedade escravista e a impossibilidade de uma convivência harmoniosa entre senhores e
escravos.
Estes autores perceberam a sociedade colonial como um todo generalizado e, nesse
sentido, o regime escravista enquanto parte dela. Antes deles, apresentando reflexões acerca
da colonização brasileira, Caio Prado Jr. em seu livro A formação do Brasil
Contemporâneo apontou o cativeiro enquanto motor da lógica econômica colonial132. Para
ele, a lógica empresarial dava o tom das relações entre senhores e escravos e entre os
próprios cativos. Sendo o escravo mão-de-obra facilmente reposta pelo tráfico Atlântico e a
custos baixos, vantajosa seria a intensificação de sua jornada de trabalho para o aumento da
produção e atendimento da demanda, embora fosse diminuída brutalmente a vida útil do
cativo. A essa lógica econômica, que redundava em um péssimo tratamento, estaria
vinculada uma baixa taxa de reprodução natural dos escravos e a insignificante incidência
de famílias entre eles.
Na década de 70, Jacob Gorender deixou ainda mais marcado o viés economicista em
suas reflexões sobre a escravidão no Brasil133. A violência foi entendida por Gorender
como a mais expressiva forma de reprodução deste escravismo, que trazia consigo a marca
da identidade de “peça” nas bases das relações sociais do cativeiro.
Como resultado da violência e opressão, o cativo caracterizava-se pela incapacidade
em permitir interações. O cativeiro subtraía-lhe a humanidade e imputava-lhe uma condição
anômica. Ou seja, o conceito subjacente à obra de Gorender é o da anomia. O cativeiro era
compreendido como sendo desprovido de leis e regras que norteassem sua vida em
sociedade. Isso impedia ao escravo agir por si próprio, reagindo passivamente aos
significados sociais que lhe eram impostos. Essa anomia tenderia a interditar-lhe uma série
131 FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. Vol. 1 e 2. São Paulo: Ática, 1978; Costa, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. São Paulo: Difel, 1966; Cardoso, Fernando Henrique. Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 132 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense/Publifolha, 2000. 133 GORENDER, Jacob. Op. cit., 1978.

196
de práticas sócio-culturais como, por exemplo, a constituição de família e a participação
ativa no seu processo de manumissão.
Nesta perspectiva, as condições impostas pelo cativeiro, por si só, teriam impedido a
formação de famílias escravas. Fatores como a separação por venda ou herança, o
desequilíbrio sexual e o desinteresse do senhor e do escravo teriam se constituído em
empecilhos a uniões estáveis e isso, por fim, ensejava um comportamento promíscuo entre
os cativos.
Na década de 1980, alguns autores, como Maria Helena Machado, enfatizaram a
autonomia escrava, descaracterizando a anomia até então atribuída. Logo, começou-se a
perceber os cativos como agentes no processo de formação da sociedade brasileira, isto é,
como sujeitos históricos ativos:
Conceitos como os de resistência e autonomia entre escravos têm sido reiteradamente apontados como núcleos centrais para a reconstituição de uma história preocupada em reverter as perspectivas tradicionais e integrar os grupos escravos em seus comportamentos históricos, como agentes efetivamente transformadores da instituição. 134
Nesse caminho e com a utilização de novas fontes e técnicas metodológicas,
sobretudo a demografia histórica, surgiram as primeiras discussões em torno da família
escrava no Brasil. Estas foram decorrentes às discussões presentes na historiografia norte-
americana em autores como Eugene Genovese e Herbert Gutman.135
Este último autor, tendo como base uma vasta documentação qualitativa de registros
demográficos de propriedades rurais no sul dos Estados Unidos, argumentou que a família
nuclear, “intergeracional e extensa” era uma instituição forte e valorizada pelos escravos.
Ainda mais, Gutman afirmou que a transmissão da cultura proporcionava aos escravos
importantes recursos para enfrentar as agruras de uma vida em cativeiro.136
134 MACHADO, Maria Helena P. T. Op. cit., 1988. 135 Apud ROCHA, Cristiany Miranda. Histórias de famílias escravas: Campinas, século XIX. São Paulo: UNICAMP, 2004. 136 GUTMAN, Herbert G. The black Family in Slavery end Freedon - 1750-1925. N.Y: Vintage, 1976. Apud: SLENES, Robert. Op. cit., 1999, pp. 38 e 39.

197
A historiografia mais recente tem procurado investigar a questão da formação de
relações sociais próprias aos cativos, de forma particular, a formação de relações de
parentesco e de sociabilidade. Autores como Sidney Chalhoub, Marisa Soares e Hebe
Maria Mattos137 entendem que homens e mulheres escravizados foram capazes de forjar, na
escravidão, tanto formas de resistência e luta, como relações sociais que longe de estarem
absolutamente determinadas pela lógica econômica, eram frutos de estratégias próprias dos
cativos. Robert Slenes, em seu artigo Lares Negros Olhares Brancos, abriu caminho para a
discussão sobre a natureza do parentesco escravo, resgatando a “família negra” do mundo
da promiscuidade e respeitando o que nela havia de peculiar, sem com isso conferir-lhe um
estatuto inferior138.
Neste conjunto de novos trabalhos sobre família escrava destaca-se o de Hebe Maria
Mattos. Para ela, a constituição da família e a manutenção de redes de parentesco eram pré-
condições ao acesso a pequenas lavouras de subsistência dentro das terras senhoriais e
também ao acesso a habitações isoladas, representando assim, a conquista de um espaço
próprio e a autonomia das organizações familiares cativa.139 No entanto, para Mattos, a
família escrava enfraquecia os laços de comunidade dentro dos plantéis e uma coordenada
resistência à escravidão, já que a família incentivava a competição por recursos.140
Já no final da década de 1990, Manolo Florentino e José Roberto Góes141 observaram
a família escrava como elemento estrutural da sociedade escravista. Estabeleceram uma
relação direta entre as flutuações do tráfico atlântico de escravos e a sociabilidade entre
estes, demonstrando que a influência era de tal ordem que a presença constante do
estrangeiro produzia constantemente um alto potencial de conflito no interior dos plantéis.
Deste modo, fazia-se necessário criar mecanismos que possibilitassem a pacificação e
viabilizassem a convivência:
137 CHALHOUB, Sidney. Visões de liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990; REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989; MATTOS, Hebe Maria Mattos. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc. XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 138 SLENES, Robert. “Lares Negros, Olhares Brancos”. In: Colcha de retalhos: estudos sobre família no Brasil. Campinas, SP: Ed. da UNICAMP, 1994. 139 MATTOS, Hebe. Op. cit., 1998, passim. 140 Idem, apud ROBERT, Slenes. Na senzala, uma flor. Esperanças e recordações na formação da família escrava. Brasil, Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 141 FLORENTINO, Manolo & GÓES, José Roberto. Op. cit., 1997.

198
Os cativos faziam e refaziam o parentesco, enquanto o mercado produzia e produzia mais uma vez o estrangeiro. Espécie de meta-nós,era o parentesco escravo a possibilidade e o cimento da comunidade cativa. Era o solvente imprescindível a senhores e escravos, por intermédio do qual se tecia a paz das senzalas. Ao cativo, ele tornava possível esconjurar a anomia (...). Ao senhor, ávido de homens pacificados, permitia auferir uma renda política, cuja contabilidade, por não aparecer nunca de maneira óbvia nos inventários que deixava, tem sido com freqüência despercebida. (...) O cativeiro era estruturalmente dependente do parentesco cativo.142
Assim, conforme os autores, a inserção em uma rede familiar foi o mecanismo
encontrado pelos cativos para uma melhor convivência entre seus pares. Eram os próprios
escravos que procuravam inserir-se em redes familiares, logo, Florentino e Góes criticaram
estudos que situam ao exagero, o devir da história na vontade senhorial.143 A relação
parental transformava o ser aprisionado em escravo, além de instaurar a “paz nas senzalas”,
que rendia inúmeras vantagens políticas aos proprietários, caracterizadas, por exemplo, nas
diminuições de tentativas de fugas nos plantéis.144
Robert Slenes, em outro trabalho lançado dois anos após a publicação de “A paz nas
senzalas”, compreende a família escrava de uma maneira diferente de Hebe Mattos,
Florentino e Góes. Consoante a Slenes, a família escrava contribuiu decisivamente para a
formação de uma comunidade escrava, unida em torno de experiências, valores e memórias
compartilhadas que, dessa forma, minava a hegemonia dos senhores. Ele entende a família
escrava como centro de “um projeto de vida” que:
(...) não configura uma “brecha” camponesa que permita uma pequena autonomia ao cativo. Ao contrário, é um campo de batalha (...) em que se trava a luta entre o escravo e o senhor e se define a própria estrutura e destino do escravismo. Não concordo, portanto, que a família escrava deva
142 Idem, pp. 36 e 37. 143 MARQUESE, Rafael de Bivar. Op. cit., 2004, p. 280. 144 Idem, passim.

199
ser considerada um fator estrutural na manutenção e reprodução do escravismo (...). De fato, ao formarem tais laços, os escravos aumentaram ainda mais sua vulnerabilidade, transformando-se em “reféns”, tanto de seus proprietários quanto de seus próprios anseios e projetos de vida familiar. Isto não quer dizer, no entanto, que foram necessariamente impedidos de criar uma comunidade de interesses e sentimentos e virar um perigo para os senhores.145
Desse modo, para o brasilianista, a família cativa representava mais do que estratégias
e projetos centrados nos laços de parentesco. Ela expressava um “mundo mais amplo”
criado pelos cativos a partir de suas próprias esperanças e tradições. Mais ainda, a família
concorria à formação de uma identidade antagônica a dos senhores.
Malgrado os brilhantes trabalhos realizados pelos diversos autores acima
mencionados, o tema “família escrava” tornou-se objeto de pesquisa dos historiadores
somente há pouco mais de vinte anos. Logo, a historiografia brasileira ainda tem muito a
avançar no estudo da família e da comunidade escrava.
2 – Catolicismo e família escrava – a teoria
Uma minoria (de escravos) conseguia montar unidades familiares estáveis, mas a maioria, menos afortunada, tinha de suportar o trauma da escravização sem estruturas familiares conhecidas. No caso dos escravos cariocas, não podemos nem começar a discutir a instabilidade de suas famílias, pois quase sempre a unidade familiar nem se formara. Um casal de cativos só conseguia constituir família, por casamento cristão ou união consensual, com grandes dificuldades, pois boa parte da sociedade carioca era ativamente contra a criação de unidades familiares independentes para os escravos. (...) nem os senhores nem os padres católicos os estimulavam a casar com outros escravos em forma canônica reconhecida diante de um sacerdote numa igreja católica.146 (grifo nosso)
145 SLENES, Robert. Op. cit., 1999, pp. 48 e 49. 146 KARASCH, Mary. Op. cit., 2000, p. 379.

200
Mary Karasch escreveu o trecho acima já no final da década de 1980. Além das
equivocadas conclusões acerca da família, a autora afirmou a má vontade dos padres na
realização dos casamentos entre os escravos. Porém, desde a primeira década do século
XVIII a Igreja no Brasil se posicionou sobre este assunto com a elaboração das
Constituições primeiras do acerbispado da Bahia. Segundo as quais estabeleceram que:
(...) seus senhores lhe não podem impedir o matrimônio, nem o uso dele em tempo e lugar conveniente, nem por esse respeito os tratar pior, nem vender para outros lugares remotos, para onde o outro, por ser cativo, ou por outro justo impedimento o não possa seguir.147
Logo, se no início do século anterior ao recorte temporal da pesquisa de Karasch a
Igreja já havia se posicionado a favor da constituição de família entre a escravaria, como os
padres não estimulavam o matrimonio católico? Não somente as Constituições Primeiras,
mas as disposições do clero regular, como o Capítulo geral da congregação Beneditina,
também incentivaram a união de escravos sob os preceitos da fé católica:
A Junta de 1780 decidiu que as escravas mães de seis filhos ainda vivos e tidos de matrimonio legítimo seriam alforriadas (...) Recomendavam os Visitadores que se devia pôr todo o empenho em promover o casamento dos escravos, sobretudo em vista da moralidade, boa conduta dos escravos e boa ordem nas fazendas.148
O texto dessa disposição própria do Mosteiro de São Bento, de se alforriar as mães
escravas com seis ou mais filhos, apesar de ter sofrido algumas alterações ao longo dos
anos, mostra-nos a preocupação por parte dos beneditinos em incentivar os escravos a
seguirem os preceitos e dogmas da fé católica. As manumissões seriam concedidas
147 “Constituições primeiras do arcebispado da Bahia”; Coimbra, 1720, livro I, tit. 71,§ 303. Apud SILVA, Maria Beatriz Nizza da. História da família no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 148 ROCHA, Mateus Ramalho. Op. cit., 1991.

201
gratuitamente e as ex-escravas poderiam continuar vivendo na fazenda junto a seu marido.
Pode-se perceber aí uma preocupação de caráter moral/religioso.
Como já visto no capítulo anterior, o incentivo dado pelos religiosos à reprodução
endógena de seus escravos era de fundamental importância econômica para a instituição,
porém, este não seve ser entendido como o único objetivo almejado pelos eclesiásticos. Os
cativos, para “obter a graça”, deveriam constituir uma família cristã legítima, isto é,
deveriam estar casados sob as bênçãos da religião católica.
Em teoria, o catolicismo sempre incentivou o casamento. Desde o século XIII o
código de leis espanhol, Las Siete Partidas, reconhecia a capacidade legal e moral do
escravo para o casamento, até mesmo sem a devida autorização de seu senhor. Porém a
questão do matrimônio foi sempre polêmica, pois colocava em prova a própria noção de
posse do senhor. A união sancionada pela Igreja criava uma relação contratual de
autoridade e obediência, de direitos e obrigações mútuas dentro de uma família, que era
incompatível com o conceito de posse absoluta dos escravos por seus senhores.149 O
casamento em sua concepção pura iria dividir e transferir parcialmente o poder dos
senhores para o “escravo-marido-pai”, desestruturando o conceito de escravidão. Contudo,
filósofos católicos como Tomás de Aquino incentivaram o matrimônio, apesar de ter
afirmado ser o cativo “um instrumento físico de seu proprietário, que tinha pleno direito a
tudo o que o escravo possuía ou produzia, inclusive filhos”.150
Então, é razoável supor que todo esse aparato teórico de incentivo ao casamento
tenha favorecido a liberdade de alguns escravos. Este foi o caso de Anastácia Crioula,
residente na Fazenda de Tribobó, em São Gonçalo151. Para ela, o ano de 1941 foi
duplamente especial, pois além de se tornar forra, casou-se conforme os preceitos católicos.
Porém, o antigo senhor, o padre João Coelho, registrou a alforria somente seis anos depois,
em 29 de outubro de 1847 e, logo no dia seguinte registrou, num mesmo documento, a
liberdade de Severina Rebolo e Maria Crioula, respectivamente mãe e irmã de Anastácia.
As primeiras obtiveram sua carta sem ônus monetário e sem motivo explícito. Mas, com
149 DAVIS, Davis Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 125. 150 Idem, p. 126. 151 2º Ofício de Notas, livro 79, p. 16v; Arquivo Nacional (RJ).

202
relação à Anastácia, o padre fez questão de evidenciar no registro o motivo da manumissão:
“a escrava irá casar, por isso eu a liberto”.
Outro exemplo interessante é o caso de Francisca crioula, escrava do padre José
Custódio Dias. Não temos sua alforria em nosso banco de dados, mas conhecemos sua
história através do inventário post-mortem do finado padre. O inventariante Roque de
Souza Dias
Declara não terem sido avaliados os serviços da crioula Francisca, porque sendo de menor idade, e tendo o finado disposto em seu testamento que aparecendo pessoa com quem ela casasse, lhe deixe sua carta de liberdade, assim o fez o inventariante por se realizar esse casamento, sem que até essa época ela prestasse serviço algum, antes fez despesas com a sua educação e vestuário.152
Percebemos nesses casos uma obediência, por parte dos padres João Coelho e José
Custódio Dias, que ultrapassou as exigências teóricas da doutrina católica. Esta ditava que
o senhor era obrigado a facilitar a união matrimonial de seus cativos, possibilitando meios
de mantê-los unidos após o sacramento.153 Portanto, a alforria não era necessariamente uma
obrigação, mas a entendemos, neste caso, como um meio encontrado pelos senhores para
incentivar o casamento legítimo entre seus escravos, já que ambos possuíam um plantel
razoavelmente grande. Assim, sugerimos, que era desejo desses senhores utilizar a
manumissão como meio de evangelização/educação, ensejando assim a formação de
famílias legítimas do ponto de vista moral/religioso.
Ronaldo Vainfas, por meio da análise de textos redigidos por eclesiásticos, chegou à
conclusão de haver entre estes um projeto escravista-cristão. Logo, podemos dizer que a
existência prática de tal projeto passava pela idéia da formação de uma verdadeira família
cristã, incluindo aí, senhores e escravos. Vejamos brevemente alguns aspectos desse
projeto.
152 Inventário de José Custódio Dias, 1ª Vara Civil; caixa: 289; nº: 3546; ano: 1839 – Arquivo Nacional. 153 “Constituições primeiras do arcebispado da Bahia”, Apud SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Op. cit., 1988.

203
Os religiosos, em sua grande maioria, não contestaram a escravidão africana, ao
contrário, sempre buscaram legitimá-lo. Neste contexto, voltavam-se para os textos bíblicos
a fim de justificar a relação de dominação dos brancos sobres os pretos. Portanto,
estabeleceu-se uma série de princípios e regras com o objetivo de reformar o que se julgava
inadequado na ordem social. Criou-se um novo projeto ideológico:
Convencidos da legitimidade da escravidão africana, porém, insatisfeitos com as práticas sociais vigentes, os letrados coloniais trataram de construir normas que tornassem aquela mais estável ou duradoura, mais produtiva e menos violenta (...) Cruzaram-se motivações econômicas, sociais, religiosas, morais.154 (grifo nosso)
Logo, o projeto escravista-cristão tinha por objetivo, essencialmente, normatizar a
relação entre o senhor e o escravo, pondo ambos os agentes sociais sob os preceitos do
sistema ideológico católico. Aos escravos eram recomendadas a abnegação, renúncia e fé.
Conforme o jesuíta Antônio Vieira, a escravidão era felicidade e milagre e os escravos
deveriam agradecer o cativeiro... Pois na verdade, este significava sua própria salvação.
Segundo Vieira, “os negros eram eleitos de Deus e feitos à semelhança de Cristo para
salvar a humanidade através do sacrifício”.155 Dessa maneira, buscava-se formar o servo
cristão ideal: obediente ao Deus cristão e ao senhor na Terra.
Já para os senhores era recomendada a supressão dos abusos. Por exemplo, Jorge
Benci e Antonil os aconselhavam a levar em conta a força e a idade de cada escravo na
distribuição das tarefas, evitar o trabalho contínuo que viesse a debilitar o cativo e sua
realização nos domingos e dias santos, dentre outros. Acima de tudo, sobre a conduta dos
donos de escravos deveria pairar a idéia que estes últimos estavam purgando seus pecados
oriundos da maldição de Cam156, e assim, precisavam ser tratados com benevolência cristã.
Para se converter o africano em servo cristão (obediente e piedoso), e para que o
mundo da escravidão se transformasse numa família patriarcal-cristã, era preciso criar um 154 VAINFAS, Ronaldo. Ideologia e Escravidão. Os letrados e a sociedade escravista no Brasil colonial. Petrópolis: Vozes, 1986, p. 100. 155 Idem, p. 97. 156 Santo Agostinho foi o primeiro religioso a estabelecer a relação entre a escravidão em geral e a história bíblica da maldição de Cam. Noé amaldiçoou Cam, seu filho, e seus descendentes, por ele ter ludibriado a sua nudez e embriaguez. Ver VAINFAS, Op. cit., 1986 e PIRATININGA JUNIOR, Luis Gonzaga. Op. cit., 1991.

204
novo senhor, e até mesmo um novo homem, que assumisse o cristianismo como norma de
conduta e modo de pensar. (...). Se a criação de uma nova consciência senhorial era o
requisito para a conversão da escravidão numa comunidade familiar e cristã, logo, era de
fundamental importância construir e reforçar a noção de família.
Projetava-se converter a escravidão num modelo de família cristã socialmente ausente. Construir a “família” e reformar a escravidão conforme os padrões cristãos, eis o duplo sentido do projeto escravista.157 (grifo nosso)
Contudo, o projeto escravista-cristão não repercutiu no mundo leigo da maneira
desejada pelos letrados, pois aquele impunha uma consciência adversa aos hábitos sociais
vigentes. Apesar da maioria dos donos de escravos serem adeptos do catolicismo, as
práticas cotidianas na colônia dificultavam a interiorização total do projeto. Tornar real a
família patriarcal cristã dependia de uma profunda mudança na sociedade, fato este não
alcançado pelos religiosos. Portanto, conforme Vainfas, o discurso escravista-cristão não
obteve êxito entre os senhores laicos.
Mas, entre os eclesiásticos de meados do século XIX, na escravidão administrada
propriamente por eles, o projeto repercutiu de maneira prática? Teriam conseguido impor
sobre seus cativos a verdadeira família cristã baseada em seus preceitos teóricos? A essas
perguntas ainda não existem respostas completas e definitivas, porém, por meio das cartas
de alforria podemos vislumbrar possíveis caminhos para respondê-las, ainda que de forma
incipiente visto tratar-se de uma pesquisa de mestrado.
3 – A alforria e os “arranjos familiares” – a prática católica
157 VAINFAS, Op. cit., pp. 130 e 131; 1986.

205
No que concerne à inserção do libertando a uma rede familiar, dividimos os
manumissos em três tipos de categoria: os inseridos em “arranjos familiares”, os
“aparentados” e os “solitários”. Óbvio que estes termos não são exatamente apropriados,
visto que todos os escravos eram aparentados, e nenhum deles, de certa forma, era solitário.
Mas, por ora, servem à nossa proposta metodológica.
O termo “arranjo familiar” foi utilizado para as cartas que registraram a saída
conjunta de parentes, ou seja, quando em uma só carta de alforria foi registrado a liberdade
de dois ou mais parentes. Mas, esta categoria demanda maior desvelo e será melhor
analisada mais à frente.
Para os registros que determinam a alforria de um único escravo, mas de alguma
forma, há a informação do nome de um determinado familiar, utilizamos o termo
“aparentado”. Por exemplo, a alforrianda Minervina, de vinte anos de idade, teve em sua
manumissão o nome de sua mãe, Claudina, registrado.158 A carta não fornece informações
sobre a condição jurídica de Claudina, apenas deixa marcada a existência da mãe e a
provável importância desta na vida de Minervina.
O simples fato de incluir no documento de liberdade a existência de um parente seja
mãe, pai, ou, até mesmo um irmão, pode mostrar-se como uma memória familiar do cativo,
que fazia questão de registrar o seu “pertencimento” a uma rede familiar e de solidariedade.
Até porque, não seria absurdo supor que o “parente informado” possa ter participado, de
alguma maneira, do processo que levou à assinatura final daquela carta. Neste caso
específico, temos o exemplo de Josefa Crioula, escrava do padre Jacinto Pires Lima.159 Ela
teve sua carta registrada, em agosto de 1844, mediante o pagamento de 200 mil réis, pagos
por seu irmão, cujo nome não foi registrado, mas a ajuda indispensável e digna de
reconhecimento sim.
Ainda nesta variável – “aparentados” – incluímos os parentes que obtiveram suas
manumissões em momentos diferentes. Este, por exemplo, foi o caso de Benvinda160,
parda, mãe de Mafalda161 também parda. Ambas escravas do Mosteiro de São Bento,
porém, a mãe era trabalhadora da Fazenda de Maricá e a filha da Fazenda de Campos.
158 2° Ofício de Notas, livro 0, p. 30, Arquivo Nacional (RJ). 159 3° Ofício de Notas, livro 7, p. 80, Arquivo Nacional (RJ). 160 2° Ofício de Notas, livro 90, p. 211, Arquivo Nacional (RJ). 161 3° Ofício de Notas, livro 19, p. 26, Arquivo Nacional (RJ).

206
Benvinda, em junho de 1956, já tinha amealhado a quantia necessária – 800 réis – para a
compra de sua alforria. Já Mafalda, só deixou o cativeiro três anos após a saída de sua mãe,
quando pagou 600 réis aos beneditinos.
Semelhante história aconteceu com os pequenos Bernardino e Frederico, também
pertencentes ao Mosteiro de São Bento e residentes na Fazenda de Vargem Pequena. Mas
neste caso, a ordem de saída foi invertida e foram os filhos os primeiros a tornarem-se
libertos, enquanto a mãe, Apolinária, permaneceu escrava. Ambos os irmãos tiveram a sorte
de nem mesmo sentirem as agruras de uma vida em cativeiro, já que foram contemplados
com suas cartas de alforria ainda bem pequenos, Bernardino com um ano de idade e
Frederico com dois. Porém, aquele teve seu documento registrado no dia 17 de março de
1857, e somente três anos depois, em outubro de 1860, seu irmão Frederico fora igualmente
alforriado. Os dois foram avaliados em 100 mil réis e não consta no documento o
responsável pelo pagamento, mas provavelmente, fora a própria mãe ainda escrava do
mosteiro. Supomos que depois da liberdade do primeiro filho, precisou de mais três anos de
economia para conseguir “comprar” a do segundo, tendo assim, a felicidade de poder ver
seus filhos crescerem como homens livres.
Para as demais alforrias, onde nenhum tipo de relação familiar foi registrado usamos
a tipologia “solitário”. Este tipo foi o mais recorrente, antes e após o fim do tráfico atlântico
de cativos, sendo que após 1850 houve um ligeiro aumento na porcentagem desses
escravos, chegando a 74% (ver tabelas nos anexos 2 e 2.1). Analisando os poucos
inventários de padres seculares localizados até o momento, buscamos algumas pistas sobre
parentes destes “solitários” por meio do cruzamento das fontes, com a intenção de
reconstituir algumas famílias. Porém, desses inventários, somente dois possuíam lista
nominal da escravaria, mesmo assim, o cruzamento foi impossível devido ao fato das
alforrias terem sido concedidas anteriormente ao falecimento de ambos os padres.
Cuidaremos agora dos arranjos familiares encontrados nas alforrias em análise.
Hebe Mattos, autora anteriormente citada, percebeu que os laços familiares permitiam a
reprodução de uma experiência de liberdade construída em oposição à escravidão. Além
disso, o casamento ou a união consensual significava para o escravo/estrangeiro o
estabelecimento de relações com uma família e com a região, deixando de ser um ser
estranho à comunidade. Mais ainda, “constituir família retirava o sentido de provisoriedade

207
e abria portas para o acesso à roça de subsistência”.162 Temos, então, a família como pré-
condição à “brecha camponesa”. Admitindo tal hipótese, poderíamos afirmar que a família
servia para o escravo do meio rural como um catalisador para a liberdade, na medida em
que temos a seguinte gradação: constituição de família → acesso à terra → maior
autonomia → formação de pecúlio → compra da alforria.
A carta de alforria – principal fonte deste trabalho – é muito limitada quando se tem
como objeto a família escrava. Este documento não permite a visualização da família como
um todo, evidenciando apenas os “arranjos familiares” que se formavam para a saída do
cativeiro, não fornecendo dados sobre possíveis membros de uma mesma família que se
tornaram forros antes ou depois do recorte temporal da pesquisa. Logo, não será possível
nessa pesquisa estabelecer o “padrão familiar” entre os escravos do clero, mas tão somente
os arranjos que eram estabelecidos.
O termo “arranjo familiar” será utilizado, neste trabalho, em substituição ao termo
“família”. Do contrário, se classificássemos, por exemplo, como “matrifocal” uma carta na
qual uma mãe foi alforriada junto a seu filho, estaríamos possivelmente omitindo uma
verdadeira família existente para além dos limites da fonte. Dessa forma, quando membros
de uma mesma família foram alforriados em uma mesma carta, utilizamos a seguinte
tipologia: matrifocal, fraternal, nuclear com filho (s), nuclear sem filho e viúva com filho.
Vejamos a tabela abaixo:
Tabela 3: Distribuição dos “arranjos familiares” identificados nas cartas de alforria do
clero católico do Rio de Janeiro (1840-1871):
matrifocal fraternal Nuclear c/
filho
Nuclear s/
filho
Viúva c/
filho
Total 2
Clero #
% # % # % # % # % # %
162 MATTOS, Hebe. Op. cit., p. 58, 1999.

208
Regular 9 75 2 17 0 0 1 8 0 0 12 100
Secular 12 76 1 6 1 6 1 6 1 6 16 100
Total 1 21 75 3 11 1 3 2 8 1 3 28 100
Fonte: Livros de registros de notas do primeiro, segundo e terceiro ofícios do Rio de Janeiro – 1840-1871; Arquivo Nacional (RJ).
Em nossa amostra encontramos 28 casos de “arranjos familiares”, ou seja, de 1840 a
1871, o clero registrou, aproximadamente163, 28 documentos de liberdade nos quais se
alforriavam dois ou mais parentes juntos. Este resultado soma um total de 7% para os
regulares e para os seculares que, coincidentemente, emitiram a mesma proporção de cartas
formadas por “arranjos familiares”. Os anexos 2e 2.1 evidenciam que após o término do
tráfico internacional, o número de escravos inseridos em arranjos desse tipo sofreu ligeira
queda.
Eis alguns exemplos desses arranjos: no final do ano de 1859, um benfeitor, cujo
nome e situação jurídica nos é desconhecida, pagou 750 mil réis aos religiosos carmelitas e
pôde, dessa forma, garantir a carta de alforria de Alexandrina e a de seus dois filhos, José e
Benedito. Os três mancípios eram trabalhadores da Fazenda da Pedra, no Rio de Janeiro,
pertencente aos carmelitas.164 Logo, podemos dizer que Alexandrina foi agraciada com uma
oportunidade nem tanto comum na sociedade escravista: deixou para trás o cativeiro
levando consigo seus filhos à liberdade. Ainda mais, teve o concurso de um benfeitor,
malgrado não termos quaisquer informações sobre ele, não seria nenhum absurdo supor ser
o próprio pai de José e Benedito... que mediante o pagamento em dinheiro proporcionou a
alforria e a união definitiva de sua família.
163 Como dito em nota acima, nosso banco de dados é formado pelas alforrias registradas nos 1º, 2º e 3º Ofícios de Nota do Rio de Janeiro, restando o 4º Ofício, além disso, há um desfalque no corte temporal, faltando os anos de 1864 a 1869. 164 2º Ofício de Notas, livro 94, p. 140, Arquivo Nacional (RJ).

209
Quadro 1: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Convento Nossa Senhora do Carmo
Data de registro: 19/12/1859
yuy
?
Alexandrina
• Alforria paga

210
José Benedito • Alforria paga • Alforria paga
O caminho percorrido por Jesuína Crioula foi diferente, porém, o desfecho foi
semelhante ao de Alexandrina. No primeiro mês do ano de 1845, o senhor carmelita
Custódio Alves Serrão, a alforriou junto com seus quatro filhos ainda crianças, Leonídia
Crioula, de 9 anos, Firmina parda, de 7 anos, Tomásia parda, de 6 anos, e finalmente,
Francisca parda, de 4 anos.165 Para isso, ficou acordado que Jesuína e seus filhos teriam de
servir “por alimentação, vestuário etc” ao senhor até que este morresse. Evitando
complicações futuras, Custódio ainda enfatizou: “os filhos que nascerem também ficam
sujeitos às condições”.166 Dessa forma, Jesuína conseguiu mudar sua situação jurídica e,
mais ainda, iria ver seus filhos crescerem na mesma condição, a de libertos.
Esse mesmo documento ainda nos possibilita maiores conjeturas sobre a vida dessas
pessoas: primeiramente, podemos dizer que Jesuína não era legitimamente casada; não há,
em momento algum, menção sobre cônjuge ou sobre a figura paterna. Além disso, a idade
das crianças, com pequenas diferenças entre elas, nos permite supor que apesar de ser não
casada sob o sacramento católico, Jesuína possuía um relacionamento estável com o pai de
suas quatros filhas.
165 2º Ofício de Notas, livro 75, p. 487, Arquivo Nacional (RJ). 166 Ibidem.

211
Quadro 2: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Custódio Alves Serrão (Carmelita)
Ano de Registro: 02/01/1845
?
Jesuína
Crioula
• Condicional
Francisca parda
4 anos
• Condicional
Tomásia
6 anos
•Condicional
Firmina
7 anos
•Condicional
Leonídia
9 anos •Condicional

212
Já Marcolina, não teve a mesma sorte vivenciada pelas mães das histórias acima.
Ex-escrava dos religiosos carmelitas e residente na Fazenda da Pedra, fora agraciada com
sua alforria, porém, não pudera levar à liberdade seus dois filhos, Leovigildo e Máximo,
permanecendo estes ainda em cativeiro. Mas em dezembro de 1862 – infelizmente não
sabemos quanto tempo depois de sua própria alforria – Marcolina conseguiu reunir o
pecúlio necessário – 400 mil réis – para o pagamento da manumissão dos filhos e,
finalmente, ter a família (ou, pelo menos, uma maior parte dela) unida em liberdade.167
167 2º Ofício de Notas, livro 98, p. 134 v – Arquivo Nacional (RJ).

213
Quadro 3: Arranjo: Fraternal Proprietário: Convento da Ordem Terceira do Carmo Data de registro: 20/06/1862
?
Leovigildo Máximo •Alforria paga •Alforria paga

214
Observação: A mãe, Marcolina, ex-escrava do convento, pagou pela
alforria dos filhos.
Os “arranjos matrifocais” perfazem a grande maioria dos arranjos presentes nas
cartas de alforria (como visto na tabela 3). Dos vinte e oito encontrados, vinte e um são
matrifocais (75%), sendo doze entre os escravos de senhores seculares e nove entre os
regulares. (Todos os vinte e oito arranjos encontram-se esquematizados, seja em anexo ou
no texto).
A partir das alforrias, concluímos por ora, que a família escrava existente nos
plantéis dos religiosos regulares e seculares, seguiu a tendência observada nos plantéis de
senhores laicos: a constante “ausência” da figura paterna nos documentos de liberdade,
determinando assim a “matrifocalidade” como característica dominante dessas “famílias da
religião”. Como nas alforrias analisadas o estado civil dessas mães não fora mencionado,
entendemos se tratar de uniões consensuais. Logo, a prática contrariava as recomendações
teóricas dos religiosos...
Numa outra etapa da pesquisa constatamos que a maior parte dos cativos do clero
regular tornou-se forra mediante a compra da alforria. Logo, concluímos ser esse padrão
conseqüência imediata da maior possibilidade desses escravos em reunir pecúlio, supondo
haverem conquistado uma “certa autonomia econômica” decorrente do acesso à roça de
subsistência. Isto, essencialmente, por se tratar de escravos do meio rural.
Reiterando, então, a hipótese de Hebe Mattos – segundo a qual a formação da
família era pré-condição para o usufruto da terra – e crendo, a título de exemplo, no
capítulo geral da congregação Beneditina – que afirmou o incentivo dos regulares à
inserção do escravo em uma família “legítima” – logicamente esperávamos encontrar nas
cartas de manumissão referências aos cônjuges, tendo em vista que o estado civil dos
manumissos, sobretudo para as mulheres, normalmente era registrado neste documento.
Enganamo-nos.
Havia-se chegado à metade do ano de 1859, e precisamente no dia 07 de junho, no
cartório do 3° ofício da cidade do Rio de Janeiro, era realizado o registro da “carta de
liberdade” do casal Manoel e Helena. Ambos os ex-escravos haviam pertencido ao

215
Convento Nossa Senhora do Amparo, localizado no litoral norte de São Paulo, e segundo
consta na alforria, o motivo da liberdade foi o seguinte: “(...) já tiveram oito filhos, todos
escravos do convento (...)” e por isso os cativos “julgam-se com direito a virem implorar
da caridade [dos Reverendíssimos padres] a graça de lhes concederem sua liberdade”.168 O
representante legal da instituição fez questão de evidenciar no documento que se tratava de
um cumprimento a uma Disposição Capitular do convento. Essa carta deixa evidente a
consciência que o velho casal de escravos possuía de seus direitos dentro da ordem. Tendo
conhecimento do regimento interno do convento, os cativos buscaram sua liberdade para
poderem “gozar nos últimos dias das suas vidas este benefício”.169
Quadro 4: Arranjo: Nuclear sem filhos
Proprietário: Convento Nossa Senhora do Amparo
Data de registro: 07/06/1859 Manoel • Alforria gratuita 168 3º Ofício de Notas, livro 19, p. 138 v – Arquivo Nacional (RJ). Ver no anexo 13 a transcrição integral do documento. 169 Ibdem.
Helena
• Alforria gratuita

216
Observação: O casal tem oito filhos, todos escravos do convento.
Esse registro, porém, não é apenas interessante por nos mostrar mais uma lei interna
sancionada por religiosos regulares, na qual era explícito o incentivo à família escrava, mas,
principalmente, por se tratar de um exemplo único do nosso corpus documental. No total
das 160 alforrias de escravos dos regulares, em apenas uma houve o registro de um casal
unido de acordo com os sacramentos católicos: Manoel e Helena.
Das manumissões concedidas pelos padres seculares, num total de 209, nos é
apresentado quatro casais cuja união foi abençoada pela Igreja. Dois desses casais deixaram
o cativeiro junto com seus cônjuges: Antônia e Benedito, José Ferreira Congo e Tereza
Cabinda. Os primeiros representam o único “arranjo nuclear com filhos” encontrado entre
as cartas do clero secular: o marido, a mulher e os dois filhos, Maurício e Zeferino170. Logo
no despontar do ano de 1847, quatro pessoas (quem sabe todos os membros?) de uma
mesma família, pertencentes ao reverendo padre Manoel José Alves do Vale e tendo
residência em Campo Grande, tiveram a sorte de alcançarem juntos o status de forros,
malgrado a situação de ainda servirem em vida ao dito clérigo.
170 1º Ofício de Notas, livro 46, p. 40 v., Arquivo Nacional (RJ).

217
Quadro 5: Arranjo: Nuclear com filho
Proprietário: Padre José Alves do Vale
Data de registro: 19/01/1847
Benedito
•Condicional
Maurício Zeferino
•Condicional •Condicional
Antônia
• Condicional

218
O segundo casal, Teresa Cabinda e José Ferreira Congo deixaram para trás o
cativeiro representando uma formação de “arranjo nuclear sem filho (s)”.171 Também o
único exemplo presente entre os seculares. José, idoso com 64 anos, e sua esposa Teresa, de
idade indeterminada, mas provavelmente também idosa, tiveram suas cartas de alforria
registradas em julho de 1871. Seu antigo senhor, o padre Antônio Manoel de Camargo
Lacerda, alegou para o motivo liberdade os “bons serviços” prestados pelos escravos e os
alforriou sem nenhum custo monetário.
Quadro 6: Arranjo: Nuclear sem filhos
Proprietário: Padre Antônio Manoel de Camargo Lacerda
Data de registro: 28/07/1871 José Ferreira Congo 64 anos • Alforria gratuita
171 1º Ofício de Notas, livro 80, p. 18 v. (registro de Teresa); 3° Ofício de Notas, livro 33, p. 61 v. (registro de José), Arquivo Nacional (RJ).
Tereza Cabinda
• Alforria gratuita

219
Já a escrava Joana, em junho de 1846 tinha em suas mãos o tão esperado documento
de liberdade172. Seu marido, Antônio, liberto, contribuiu muito para esta realidade, visto
que conseguiu amealhar o dinheiro necessário para tirar a esposa do cativeiro. Assim, com
400 réis pagos ao seu senhor, o vigário Francisco Lopes Barbosa, Joana pôde desfrutar sua
nova condição jurídica, a de liberta.
Por fim, temos o caso da cativa Lucinda África, alforriada junto com seu filho
Abraão ainda criança, que havia sido casada com o escravo Paulo, mas no momento da
assinatura de sua carta já se encontrava viúva. O padre Luis Gonçalves Dias Correa
alforriou Lucinda sob a condição de servi-lo em vida, alegando “fidelidade e bons serviços”
da cativa, enquanto o pequeno Abrão foi batizado livre, sem condição alguma.
172 2° Ofício de Notas, livro 77, p. 156. Arquivo Nacional (RJ).

220
Quadro 7: Arranjo: Viúva + Filho
Proprietário: Padre Luis Gonçalves Dias Correia
Ano de Registro: 25/06/1841
Abraão cria Batizado livre
Observação: Lucinda já se encontrava viúva do escavo Paulo no
momento do registro da alforria.
Lucinda África
Africana
Viúva
• Condicional

221
Portanto, esses exemplos, essas quatro histórias de famílias consideradas legítimas
pela Igreja, perfazem somente 4% dos escravos alforriados pelo clero secular. Temos então,
para um total de 370 escravos de ambos os religiosos, somente oito sendo registrados nas
cartas de manumissão como oficialmente casados.
Logo, a constatação da ausência da família legítima nas cartas de alforria nos leva a
refletir sobre duas possibilidades: sub-registro da fonte, isto é, a omissão das informações
sobre os cônjuges, tornando este documento bastante limitado para a análise dessa questão.
Ou ainda, essa “inexistência” evidencia o não cumprimento às ordenações clericais, ou seja,
corrobora a idéia de que o incentivo dos regulares e seculares não ultrapassou o plano
ideal e teórico, pelo menos em parte do século XIX, período compreendido por esta
pesquisa.
Mas antes de consideramos esta hipótese como finalizada, cabe analisar um outro
padrão que poderia incidir de forma muito significativa sobre nossos primeiros olhares para
a família escrava: o padrão etário da nossa amostra. A especificação desse padrão poderá
contribuir, ou não, para compreendermos esses incipientes resultados, que revelam uma
“ausência” da família legítima cristã entre os “escravos da religião”.
Infelizmente, em nosso banco de dados, há poucas referências às idades dos
escravos libertandos. Segundo Schwartz, “na análise das cartas de alforria nenhuma
característica dos libertos é mais difícil de se registrar e analisar do que a idade”.173
Portanto, os resultados obtidos não correspondem à maioria do corpus documental, pelo
contrário, dizem respeito a apenas 36% dos escravos. Porém, apesar de ínfimos, esses
números podem contribuir para, ao menos, termos uma idéia do padrão etário presente nas
alforrias do clero.
Como as referências às idades não são homogêneas, tendo sido registradas de
diferentes modos, dividimos a variável “idade” em três, sendo as duas primeiras “ditas”
pela fonte primária e a terceira estipulada por nós. Primeiramente, “Idade I”, na qual a
idade do cativo foi registrada de forma direta pelo responsável do mesmo; “Idade II”
quando o documento faz algum tipo de menção à idade do escravo, contudo de modo
indireto, como: “menor”, “mulatinho” (a), “pardinho” (a), “negrinho” (a), “inocente“,
173 SCHWARTZ, Stuart. Op. cit., 2001, p. 189.

222
”velho”, “idade avançada” etc. E, por fim, a variável, “Idade III”, na qual classificamos os
escravos em crianças (0-15 anos), adultos (16-45 anos) e idosos (a partir de 46 anos).
Muitos registros de liberdade não fazem nenhuma referência à idade, mas a variável
“Idade II” somada a algumas informações sobre o manumisso, permitiram a identificação,
mesmo que de forma indireta, da idade e, assim, pudemos criar a variável “Idade III”. A
metodologia utilizada foi a seguinte: consideramos como “adultos” os escravos que, por
exemplo, eram casados ou viúvos, tinham “filho ainda de peito”, ou foram avaliados com
um preço considerado bem alto para o período, como foi o caso de Augusto pardo. Este,
apesar de não ter profissão registrada, só obteve sua carta de alforria mediante o pagamento
de 2 contos de réis ao vigário José da Costa Vallim174. Logo, concluímos se tratar de um
escravo adulto, visto que provavelmente, uma criança ou um idoso teria uma avaliação
menos onerosa.
Foram classificados como “crianças”, os cativos cujas cartas de alforria trazem a
recomendação do senhor de se “batizar como livre”, ou ainda, a informação de que se trata
de um “forro de pia”. Por último, consideramos como idosos, os que têm nos documentos
de manumissão alguma menção do tipo: “bons serviços por mais de 40 (50) anos” etc. A
partir dessa metodologia, extraímos mais 42 referências à idade, ampliando, dessa forma,
nosso cabedal de especificações etárias dos escravos libertos.175
A partir dessa metodologia, o padrão etário dos libertandos eclesiásticos entre os
anos de 1840 e 1871, conforme as tabelas 5 e 5.1 em anexo, caracteriza-se da seguinte
forma: os seculares alforriaram 34% de crianças, 44% de adultos e 22% de idosos. Os
regulares, 41% de crianças, 39% de adultos e 20% de idosos. Proporcionalmente, as ordens
alforriaram igualmente crianças e adultos, possivelmente, devido ao fato da maioria desses
escravos viverem em verdadeiras comunidades agrícolas, tendo a família, mesmo
matrifocal, como característica. Já entre o clero secular os adultos foram os mais
beneficiados.
Portanto, por ora sugerimos que a maioria dos “alforriandos eclesiásticos” estava
em idade de casar, ou seja, adultos e idosos somavam a maior parte dos libertandos. E o
padrão sexual, visto no capítulo anterior, reitera essa conclusão. Apesar de no período de
174 1° Ofício de Notas, livro 88, p. 248, Arquivo Nacional (RJ). 175 Ver anexos: 5, 5.1 e 5.2.

223
vigência do tráfico, haver uma significativa diferença entre as alforrias de homens e
mulheres concedidas por regulares, após 1851, malgrado o constante predomínio do sexo
feminino nas manumissões, a diferença percentual entre os sexos torna-se bem menor,
revelando um relativo equilíbrio para ambos “os cleros”. Logo, a “ausência” de
casamentos evidenciada nos documentos de liberdade, assinados por eclesiásticos, não pode
ser relacionado ao padrão etário desses libertandos. Essa conclusão reitera a hipótese acima
levantada, de o incentivo dos eclesiásticos não ultrapassou o plano ideal e teórico.
Voltando aos arranjos, os matrifocais foram predominantes entre os “escravos da
religião”, seguindo, por sinal, a tendência laica, na qual a “ausência” do pai também é uma
constante. Numericamente, 75% dos arranjos eram formados por mãe e filho (s) (vide
tabela 3). Assim, outra questão se impõe: os pais, onde estavam? Do total de 370 alforrias
emitidas por eclesiásticos, a figura paterna foi registrada em somente cinco. Dessa forma,
supomos novamente um sub-registro documental. Mas, também, os filhos de algumas
mães, supostamente solteiras, quiçá sejam frutos de relacionamentos dessas (ex) escravas
com seus (ex) senhores, visto que no século XIX o seguimento ao celibato era pouco
comum no Rio de Janeiro.
Até mesmo nos dias atuais esse dogma do celibato ainda traz muitos incômodos à
Igreja católica. Pesquisas internas realizadas por esta própria instituição religiosa apontam
que 5.500 padres brasileiros, ou seja, 32% deles, não obedecem ao voto de castidade
imposto pelo celibato. No resto do mundo esse número chega a 150 mil eclesiásticos.176
Um caso de “má conduta sexual” de um clérigo está correndo atualmente nos tribunais
brasileiros. A pernambucana Renilda Maria da Silveira, recorreu à Justiça em novembro de
2006 com um processo de reconhecimento e dissolução do casamento contraído com base
em erro, já que ela ignorava a condição de padre de seu cônjuge, Jaime Alves de Melo. Nos
autos do processo consta a seguinte afirmação:
Que pressionando o Jaime, o porque ele fez aquilo, pois se havia o juramento de castidade feito pela Igreja, mentindo porque assumiu uma casa, uma família, tendo ele rindo dito que a “depoente era muito
176 Reportagem realizada por Alan Rodrigues In: Revista Isto é. 29 de novembro de 2006; número 1936, pp. 50-54.

224
puritana, porque na Igreja isso era normal, porque os padres quando não tinham esposas, tinham maridos”.177 Portanto, se mesmo nos dias atuais ainda existe o desrespeito, por parte de
eclesiásticos, às regras impostas pela instituição católica, não se caracteriza como absurdo
imaginar que alguns dos “nossos alforriandos” fossem frutos de relacionamentos de seus
proprietários/padres com suas escravas.
Temos como exemplo o caso do monsenhor Antônio Pedro dos Reis. Ele aparece
em nosso banco de dados, no ano de 1852, registrando a alforria de seu escravo Cleto
Congo.178 Mas foi em seu inventário post-mortem, feito em 1878, ano de sua morte, que
pudemos conhecer mais detalhadamente sua história. Dentro deste documento encontra-se
um documento de perfilhação, no qual o monsenhor reconhece que, “por fragilidade
humana”, tivera seis filhos, não com escravas, mas com duas “pessoas livres e
desimpedidas”, D. Anna Praxedes Ferreira e D. Anna Nogueira da Luz. 179 Portanto, após
33 anos do nascimento de seu primeiro filho, o religioso reconheceu a paternidade de todos
os seis e desejou “que como tais fossem por todos reconhecidos e aceitos para gozarem de
todas as prerrogativas e vantagens que a essa condição possam ser inerentes, sucedendo-o
em todos os seus bens, direitos e ações”. Apesar de o Monsenhor Antônio não ter tido um
relacionamento com escravas, o exemplo evidencia o não cumprimento às obrigações
eclesiásticas.
Logo, histórias como essa não deviam ser incomuns no século XIX, embora não
tenhamos encontrado nenhum caso explícito de clérigos assumindo a paternidade de
crianças escravas. Mas, algumas alforrias fornecem pistas, abrem brechas a “suspeitas”. Por
exemplo, aos vinte e três de novembro de 1855 um representante do Mosteiro de São Bento
registrou o documento de liberdade “pura, gratuita e irrevogável a escrava parda de nome
Domingas”.180 Até aí seria uma carta como tantas outras passadas por esta instituição
religiosa. Porém, a alforria de Domingas parda foi a concretização do último desejo do
177 Idem, p. 52. 178 2° Ofício de Notas, livro 84, p. 185, Arquivo Nacional (RJ). 179 Inventário do Monsenhor Antônio Pedro dos Reis – Juízo de Órfãos; caixa: 3992; nº: 53; ano: 1878; Arquivo Nacional (RJ). Ver no anexo 14 a cópia integral do documento de perfilhação. 180 1° Ofício de Notas, livro 54, p. 174, Arquivo Nacional (RJ). Ver no anexo 15 a cópia integral do documento.

225
“Reverendíssimo Padre Pregador Geral Abade Frei Marcelino do Coração de Jesus”, que
no momento da morte pedira esse favor a sua Santa Comunidade. Seria errôneo imaginar
que o religioso em questão tivera como derradeira vontade a liberdade da própria filha?
Mas, apenas suposição...
Portanto, ressaltamos, ainda que de forma bastante incipiente, a pequena
repercussão da prática do projeto escravista-cristão entre os eclesiásticos católicos, assim
como percebido por Vainfas para os senhores laicos. O que se evidencia nos documentos de
liberdade é a ausência da família cristã legítima, ou seja, a família constituída sob os
preceitos teóricos e dogmáticos do catolicismo. O que podemos vislumbrar, por enquanto, é
a recorrência entre “os escravos da religião” do mesmo o que ocorria entre os pertencentes
a senhores laicos: a grande predominância da família/matrimônio consensual, ou mesmo
um sub-registro da fonte, no qual o nome de um possível cônjuge era negligenciado.
Além disso, se na teoria, a inserção do escravo do meio rural181 em uma rede
familiar parecia funcionar como um catalisador para sua liberdade, não o percebemos na
prática, visto que em 72% dos alforriados nenhuma referência familiar foi registrada.
Logo, podemos dizer, que a hipótese levantada por Hebe Matos, assim como o discurso
moral/religioso defendido pelo clero, não ultrapassou o plano ideal. Afora alguns religiosos,
como os dos exemplos acima citados, que buscavam exercer praticamente sua doutrina, a
grande maioria, concernente ao tratamento de seus cativos, agia seguindo a tendência da
“escravidão laica”.
181 Parte considerável, pouco mais da metade, dos escravos do nosso banco de dados eram residentes do meio rural.

226
Breves reflexões: A alforria condicional e o significado de liberdade
1 – Liberdades
“I see how the poor White people do. I ought to do so too, or else I am a slave”

227
Henry Adams (ex-escravo norte-americano)
Ao longo do desenvolvimento do trabalho, percebemos o quão redutora se mostra a
divisão das alforrias entre “pagas”, “gratuitas” e “condicionais”, visto que o processo
precedente à assinatura da carta era tão complexo, envolvendo os senhores, os escravos e
terceiros, que muitas vezes encontra-se numa só manumissão, traços de duas categorias,
complicando – e enriquecendo – a análise histórica.
Enfim, em nossa amostra de 370 manumissões, as alforrias condicionais perfazem
um total de 81, ou seja, 22%. Manumissões desse tipo ensejaram a busca pela compreensão
do sentido de liberdade para os ex-cativos, pois em muitas cartas, à primeira vista, a vida do
cativo não mudava de forma prática e ele continuava sob a égide do seu senhor. Então,
pretendemos analisar, mesmo que de forma ainda incipiente, o significado de uma carta
condicional para o escravo.
Para isso, desenvolveremos nesse breve texto, a temática da liberdade e seus
diferentes significados a partir de autores que já se debruçaram sobre esse tema, como:
Frederick Cooper, Thomas C. Holt e Rebecca J. Scott182, Hebe Mattos183, Eric Foner184,
Sidney Chalhoub185 e Henrique Espada.186
O livro de Cooper, Holt e Rebecca nos traz grande contribuição para o estudo dos
significados de liberdade. Esses autores partem da análise dos africanistas Igor Kopytoff e
Suzanne Miers, para analisar a díade “escravidão e liberdade”. Segundo esses dois
estudiosos, estes conceitos são fundamentalmente ocidentais e que, normalmente são
aplicados à África, porém, isso reduz o entendimento das sociedades africanas como
realmente eram. Na concepção ocidental, liberdade representa autonomia e falta de
restrições sociais. Todavia, na maior parte das sociedades africanas:
182 COOPER, Frederick, HOLT, Thomas C. & SCOTT, Rebecca J. Além da escravidão. Investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 183 MATTOS, Hebe. Op. cit., 1998. 184 FONER, Eric. A short history of Reconstruction – 1863-1877. Harper & Row, Publishers, New York. 185 CHALHOUB, Sidney. Op. cit., 1990. 186 ESPADA, Henrique. Sob o domínio da precariedade: escravidão e os significados da liberdade de trabalho o século XIX. In: TOPOI. Revista de História. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ / 7 Letras, vol. 6, n°. 11, jul-dez. 2005, pp. 289-325.

228
(...) a ‘liberdade’ não está em afastar-se numa autonomia sem sentido e perigosa, mas em apegar-se a um grupo de parentesco, um patrono, um poder – um apego que ocorria dentro de um arcabouço hierárquico bem definido.(...) A antítese de ‘escravidão’ não é ‘liberdade’, no sentido de autonomia, mas sim ‘pertencer’, ‘fazer parte’.187
Segundo os autores do livro “Além da escravidão”, esses apontamentos criam
corretamente uma verdadeira tensão no esquema conceitual. Alegam, porém, que ao
contrastar um conceito de autonomia essencialmente ocidental com um africano de “fazer
parte”, os dois africanistas deixam de observar o fato de que estas noções são contestadas
em ambos os contextos. Na América do Norte, os escravos alforriados lutaram para sentir
que faziam parte, como cidadãos, sociedade (veremos isso mais a frente na análise de Eric
Foner). Por outro lado, os africanos buscaram “escapar de formas opressivas de fazer
parte”,188 com o intuito de exercer o direito de escolha entre os tipos de redes de
solidariedade as quais desejavam pertencer.189
Em todas as sociedades escravistas, os escravos buscavam um mínimo de vida
social, tanto entre seus comuns quanto entre seus senhores.
Uma das questões mais enfatizadas por esses autores é a:
(...) simples questão da liberdade não ser um estado natural, mas sim um construto social, um conjunto de valores coletivamente comuns, reforçado pelo discurso ritual, filosófico, literário e cotidiano. A liberdade tem uma história que contém noções distintas cuja própria fusão numa tradição histórica específica é tão importante quanto a tensão entre elas. (grifo nosso)
Portanto, os significados de liberdade devem ser analisados dentro de todo um
contexto histórico e social específico, que faz com que muitas vezes esses significados
187 KOPYTOFF, Igor & MIERS, Suzanne.”African ‘Slavery’ as an institution of marginality”. In Miers e Kopytoff, Slavery in: Slavery in Africa, p. 17, apud COOPER, Frederick, HOLT, Thomas C. & SCOTT, Rebecca J. Op. cit., p. 45. 188 COOPER, Frederick, HOLT, Thomas C. & SCOTT, Rebecca J. Op. cit., p. 46. 189 Ibidem.

229
sejam conflitantes. Nos trazendo a conclusão de que cada sociedade com suas histórias e
tradições definem o que é ser livre e o que é ser escravo.
Eric Foner, em trabalho que aborda o tema da Reconstrução nos Estados Unidos,
trata de forma singular a temática dos significados da liberdade para os ex-escravos norte-
americanos. Primeiramente, o autor enfatiza que o conceito de liberdade em si mesmo
tornou-se um território de conflito, pois era aberto a diversas interpretações e, até mesmo,
contraditórias: possuía diferentes significados para brancos e negros, ex-senhores e ex-
escravos190.
Para os antigos donos de escravos, o trabalho livre significava simplesmente
trabalhar em troca de um salário, além da manutenção da hierarquia entre brancos e negros.
Todavia, para os ex-escravos, a liberdade tinha denotação diferente, tendo como eixo o
acesso a diversos setores social, como: a propriedade de terras, a independência econômica,
o controle sobre a instituição religiosa, a educação, o exercício da cidadania e, sobretudo, a
autonomia familiar.
Os libertos procuravam controlar as condições de trabalho e pôr fim à subordinação
aos brancos, além de buscar uma autonomia econômica. A liberdade representava mais do
que trabalhar algumas horas por salário; almejava-se a propriedade da terra e com isso, uma
independência completa.
Buscavam praticar livremente sua religião, detendo o controle de suas igrejas. Estas
se tornaram, nos Estados Unidos, as primeiras instituições sociais completamente
controladas por negros. A educação também foi parte central para a definição de liberdade.
Os ex-escravos criaram diversas organizações de ajuda mútua com o intuito de promover a
educação básica de seus filhos.
A incessante busca pelo reconhecimento de seus direitos foi característica marcante
dos libertos norte-americanos. Em 1865, por exemplo, organizaram uma série de
mobilizações e petições, nas quais se exigia igualdade civil e direito a voto. Henry M.
Turner, um ministro negro, afirmou: “freedom meant the enjoyment of our rights in
commom with other men. If I cannot do like a white man I am not free”.191
190 FONER, Eric. Op. cit. p. 35 191 Idem, p. 36.

230
Mas, o texto de Foner deixa claro que a liberação da família da autoridade do senhor
representava um dos maiores sentidos do significado da liberdade. Embora a família
escrava sempre ter existido, os “chefes” dessas famílias não possuíam completo domínio
sobre elas, visto que viviam constantemente sob o risco da separação e não tinham
autonomia sobre o trabalho e as regras familiares.
Como visto no capítulo 3, David Brion Davis afirmou que o casamento entre os
cativos criava uma situação teórica bastante conflituosa, pois colocava em questão a noção
de posse absoluta do senhor. O matrimônio gerava uma relação contratual de autoridade e
obediência no interior de uma família, que era incompatível com o conceito de posse
absoluta dos escravos por seus senhores.192 Dessa forma, o casamento, em sua concepção
pura, iria transferir parcialmente o poder dos senhores para o “escravo-marido-pai”,
desestruturando assim o próprio conceito de escravidão.
Porém, um dos maiores representantes da religião católica, Tomás de Aquino,
sempre incentivou o matrimônio em sua obra.193 O filósofo afirmou que o casamento não
poderia ser proibido pela autoridade do senhor, pois era uma necessidade social de um
mundo pecaminoso além de ser um direito natural, mas isso não deveria enfraquecer a
suprema autoridade dos senhores ou mudar o caráter essencial da escravidão.
Dessa forma, pode-se dizer que uma das primeiras atitudes dos “chefes de famílias”,
numa clara demonstração de autonomia conquistada, foi a retirada das mulheres e crianças
do trabalho no campo. Portanto, vê-se que a emancipação fortaleceu e pré-existente família
escrava/mista194, mas também modificou as regras e as relações entre seus componentes.
Por exemplo, abriu caminho ao paternalismo que, segundo Foner, era inexistente. A
escravidão colocava a mulher e o homem num mesmo patamar de autoridade sobre a
família, mas com a abolição as diferenças de ambos os sexos ficaram bem delimitadas.
Logo, supomos, a partir do trabalho de Eric Foner, que o exercício da autonomia plena
sobre a família, era o principal significado de liberdade para os ex-escravos do sul norte-
americano.
192 DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 125. 193 Idem, p. 126. 194 Sobre a questão da família mista juridicamente ver texto de Ana Lugão Rios: “A preparação ética e política para a liberdade: a última geração de escravos e senhores no Vale do Paraíba” In: RIOS, Ana Lugão & MATTOS, Hebe. Op. cit., 1998, p. 163.

231
Detendo-nos agora à historiografia brasileira, em Visões de Liberdade, Sidney
Chalhoub analisa a noção de liberdade apontada por Fernando Henrique Cardoso. Este
afirmou que somente “através de gestos de desespero e revolta e pela ânsia indefinida e
genérica de liberdade” o escravo conseguia superar sua condição natural de “coisa”. 195
Logo, podemos dizer, para Cardoso o cativo compreendia a liberdade como algo indefinido
e genérico, significando apenas a vida fora do cativeiro e sua inserção na sociedade.
Algumas décadas depois, num contexto bastante diverso e já pautado em novas
tendências e descobertas historiográficas, Chalhoub afirmou que a liberdade poderia
representar para os escravos a esperança de autonomia de movimento e de maior segurança
na constituição das relações afetivas. Não apenas a liberdade de ir e vir conforme a oferta
de mercado, mas a “possibilidade de escolher a quem servir ou de escolher não servir a
ninguém”.196 Enfim, o autor chega à conclusão de que a liberdade, em verdade,
desdobrava-se em liberdades e estas poderiam ter significados e sentidos bem opostos uns
dos outros.
Segundo Florentino, “a noção de liberdade manejada pelos escravos confundia-se
com a possibilidade de, em graus diversos, dispor de si”.197 Os cativos procuravam dispor
de si dentro da rotina do cativeiro, na medida em que associavam a liberdade a “pequenas
conquistas tendentes a alargar sua autonomia na escravidão”. Portanto, aqueles
desdobramentos de liberdade poderiam significar para o cativo até mesmo um sentido de
liberdade praticado ainda no cativeiro.
Hebe Mattos, num livro em que aborda os significados da liberdade na região
sudeste do Brasil, percebeu que a família esteve diretamente ligada ao significado de
liberdade tanto para os escravos como para os ex-escravos e configurava-se como “capital
social básico”.198 Conforme a autora, os laços familiares permitiam a reprodução de uma
experiência de liberdade construída em oposição à escravidão.
Hebe Mattos afirma que, assim como a mobilidade espacial, a família nuclear e a
rede de relações pessoais e familiares continuaram essenciais na vida dos libertos e dos
escravos. E para estes, a “obtenção de maiores níveis de autonomia dentro do cativeiro
195 CARDOSO, Fernando Henrique. Apud CHALHOUB, Sidney. Op. cit., 1990. 196 CHALOUB, Sidney. Op. cit., 1990, p. 80. 197 FLORENTINO, Manolo. Op. cit., 2002, p. 14. 198 MATTOS, Hebe. Op. cit., 1998, p. 178.

232
parece ter dependido, em grande parte, das relações familiares e comunitárias que
estabeleciam com outros escravos e homens livres da região”.199 Como já visto no capítulo
anterior, Mattos afirma que o casamento ou a união consensual poderia representar para o
escravo, interações com uma família e com a região onde vive, deixando dessa forma, a
condição de ser um estranho à comunidade.
Henrique Espada desenvolveu um estudo sobre a experiência do trabalho livre na
cidade de Desterro, no século XIX. O autor utilizou os “contratos de locações de serviços”
como seu principal objeto de pesquisa. Nestes contratos, Espada percebeu que na maioria
dos casos os libertos continuaram servindo como escravos. Portanto, superaram o mundo
do trabalho forçado, mas entraram num mundo de uma liberdade frágil, uma liberdade sem
proteção, que os levavam a aceitar contratos que não mudavam significativamente o seu
modo de vida e, de certa forma, continuaram sendo “forçados” a trabalhar, visto que
enfrentavam agora a face sombria da liberdade, ou seja, a necessidade, a fome.200
Conforme Espada, a contraposição que parece auto-evidente, a oposição radical
entre trabalho escravo e liberdade de trabalho, é carregada de ambigüidade.201 Visto que em
termos ideais, “o mundo do trabalho livre supõe: liberdade de escolha, ausência de coerção
para o trabalho, capacidade de mobilidade dos trabalhadores, impessoalidade na relação
patrão/empregado202” etc. No entanto, essa configuração é bastante ilusória. Admitir essa
oposição pura e simples nos conduziria a interpretar de maneira viciada, traduzida na leitura
das sociedades escravistas em termos evolucionistas.
Vejamos um exemplo de acordo firmado nos contratos de trabalho estudados por
Espada: Thereza, africana de 25 anos, contraiu, com Dona Filisberta Coriolana de Souza
Passos, uma dívida de cem mil réis para completar o valor de sua alforria. Em pagamento
dessa quantia, a ex-escrava comprometia-se a dedicar 25 anos de sua vida em serviço para
Dona Filisberta, agindo “como se fora sua cativa”, em troca, sua patroa assumia o
compromisso de vesti-la, sustentá-la e tratá-la em caso de doença.203
199 Idem, pp. 64 e 65. 200 ESPADA, Henrique. Op. cit., 2005, passim. 201 Idem, p. 5. 202 Idem, p. 6. 203 “Escriptura de loucação de serviços que faz a preta liberta Thereza, a Dona Filisberta Coriolana de Souza Passos”, In Livro 12 do 2º Ofício de Notas da Cidade do Desterro (1849), fls. 10 e 10v. Apud ESPADA, Henrique. Op. cit., 2005, p. 12.

233
Ao longo do Oitocentos, foram assinados diversos acordos semelhantes a este. A
maioria exigia do trabalhador uma postura, perante o patrão, de praticamente escravo.
Olhados assim friamente, os contratos de locação de serviço, parecem uma continuidade da
escravidão, um acordo imposto de cima para baixo. Porém, analisando com cautela e tendo
os conceitos de Giovanni Levi como sua base teórica, Espada afirma que os contratos
apontam para uma negociação ativa entre as partes – os ex-escravos e os contratantes dos
serviços.
Do livro “A herança imaterial”, de Giovanni Levi, retiramos dois conceitos que
servem como arcabouço teórico deste trabalho: estratégia e rede.
O relativo esgotamento das abordagens macro-analíticas, inaugurando um período de
revisões na forma de encarar a construção histórica, permitiu resgatar a sociedade pensada
como a soma de indivíduos que estabelecem relações e formam redes que interagem entre
si sem, contudo, negar por completo as estruturas. A liberdade do homem passa, então, a
ser vislumbrada através do resgate de suas práticas e estratégias.
O pressuposto de que as estruturas sociais são, na verdade, um conjunto de redes
estabelecidas pelos indivíduos a partir, até certo ponto, de seus próprios desejos e
interesses, é essencial para o trabalho. Levi empregou o conceito de rede como as relações
de consangüinidade ou de aliança e parentesco fictício. Redes, como as frentes familiares
em sua luta pela sobrevivência e pelo poder, são “os mecanismos protetores da caridade e
da clientela e uma certa rede de amizades, vínculos e proteções”.204
Levi utilizou o conceito de estratégia para analisar as relações estabelecidas pelos
habitantes de Santena no universo agrário que os cercava. Ele visou compreender os
comportamentos dos personagens analisados, ponderando a incerteza subjacente a toda
ação social, uma vez que o resultado de uma ação depende das ações paralelas, ou da
relação de outros indivíduos. Isto faz com que vejamos os personagens, em nosso caso os
escravos e seus senhores, enquanto sujeitos dinâmicos, construtores de diversas estratégias.
E estas como ações norteadas por uma noção de valores, cercadas por limitações, resultado
da interação racional do indivíduo com seu meio.
204 LEVI, G. A Herança Imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000; p. 96.

234
O autor percebeu as estratégias familiares em relação à mercantilização da terra, dando
o peso das relações interpessoais nas transações econômicas. Sua conclusão:
O objetivo não era somente o de enfrentar a natureza e a sociedade, correndo o menor número de riscos possível, mas o esforço contínuo de melhorar a previsibilidade dos fatos, de evitar a fatalidade de um mundo de famílias ou de indivíduos isolados, para desenvolver ativamente uma política de relações que desse frutos permanentes de relativa segurança, sobre os quais construir uma dinâmica social e um crescimento econômico.205 (grifo nosso)
Dessa forma, aplicando em sua pesquisa os conceitos de estratégia e previsibilidade,
Henrique Espada chega a conclusão, que: Transformar a escravidão em um contrato para o pagamento de uma dívida significava também a tentativa de garantir de algum modo a continuidade de uma ocupação que garantisse a subsistência e uma menor incerteza frente ao futuro. A compensação pecuniária desse trabalho – como sugerem, na verdade, os próprios contratos – era certamente subordinada a essa condição.206 (grifo nosso)
Aos recém libertos havia uma perspectiva não muito promissora dos significados
positivos da noção de liberdade, como o acesso à propriedade, um trabalho compensado
monetariamente, autonomia plena. Ao contrário tinham a certeza de que encontrariam um
mundo livre repleto de incertezas e precariedades. Portanto, os ex-escravos que se
submetiam aos contratos de locação, optavam por escolher uma certa estabilidade do
trabalho, capaz de prover uma subsistência apropriada e estável, em detrimento de ganhos
estritamente pecuniários.207 Logo, pode-se dizer, que a redução da incerteza era um dos
motores que propulsava as ações e decisões humanas.
205 LEVI, Giovanni. Op. cit., 2000, p. 167. 206 ESPADA, Henrique. Op. cit., 2005, p. 14. 207 Idem, passim.

235
2 – Liberdades e Alforrias condicionais
Vejamos neste momento uma breve análise das manumissões condicionais,
fragmento do nosso objeto de pesquisa, que são as alforrias concedidas por clérigos
católicos no Rio de Janeiro.
Diante da necessidade da divisão taxonômica, a carta condicional mostra-se como a
mais complexa de se “enquadrar”. Logo, acreditamos, a mais instigante para o historiador.
Cabe-nos explicar brevemente a metodologia utilizada para a classificação das cartas de
alforria.
Como visto no primeiro capítulo, consideramos como manumissões condicionais as
que exigiam do escravo o cumprimento de certas atividades estabelecidas pelos senhores.
Esse tipo de carta poderia ser acordado de diversas maneiras. Por exemplo: o escravo devia
servir ainda por um determinado período, variando entre meses e décadas; servir ao senhor
durante toda a vida deste ou a alguém por ele designado (além de ter, em alguns casos, de
arcar com o funeral e missas pela alma do senhor); realizar trabalhos, como garçom,
costureiro em algum período do ano; exercer funções militares, etc. Essa categoria, por
situar o ex- escravo numa situação ambígua na qual se vê, aos nossos olhos, livre e cativo
ao mesmo tempo, mostra-se como a mais difícil de se enquadrar na divisão, logo, a mais
instigante de se estudar.
Enfim, do total da nossa amostra documental, as alforrias condicionais somam 81
cartas, ou seja, 22 %. Apesar de numericamente inferiores, essas cartas fornecem histórias
inusitadas e instigantes ao estudo. Vejamos alguns exemplos.
Em novembro de 1851 o padre Leonardo José da Costa registrou a alforria de
Mateus José Crioulo. A manumissão foi motivada pelos bons serviços prestados pelo
escravo, não exigindo nenhuma condição deste, nem mesmo pagamento monetário. No

236
entanto, o senhor escreveu no documento o seguinte “pedido”: “(...) espero que o dito
escravo continue a me acompanhar”.208
Já, o frei Custódio Alves Serrão, bacharel e diretor do Museu Nacional, registrou
em cartório, em julho de 1844, a carta de liberdade de Maria Cabinda, de vinte e seis anos,
e da pequena Angélica parda, de dois anos, filha de Maria. Ambas foram alforriadas sob a
condição de prestação de serviços (o documento não fornece o tempo da condição) além da
seguinte observação: “(...) deverão continuar servindo, e o senhor poderá sublocar os
serviços dentro do município”.209 Além disso, o documento registra que as escravas
servirão “por alimentação, vestuário etc”.
Voltando às situações descritas, no primeiro caso, Mateus José Crioulo foi libertado
gratuitamente, não obstante seu senhor almejar que ele retribuísse esse gesto com sua
companhia, ou seja, esperava que ele permanecesse servindo-o como sempre. No segundo
caso a peculiaridade é mais explícita: Maria Cabinda teria de continuar servindo por
período indeterminado ao frei e a possíveis locadores. Enquanto o (ex) senhor continuaria a
lucrar, com a locação da (ex) escrava e, futuramente, da pequena Angélica. Dessa forma,
podemos supor que a alforria não mudou de forma prática a vida da escrava Maria
Cabinda e de seu dono Custódio. Todavia, isso não descaracteriza a importância da carta
como “divisor de águas” na vida das duas escravas.
A partir de alforrias como esta, surgiu a necessidade de, ao menos tentar, entender o
significado de liberdade para os manumissos condicionais, visto que em muitas cartas
parecia que a vida do cativo não mudava de forma prática e ele continuava sob a tutela do
seu senhor. Então, pretendemos analisar, mesmo que de forma incipiente, o significado de
uma carta condicional para o escravo, ou seja, em última instância, qual a representação de
liberdade contida naquela carta do ponto de vista do escravo.
Com relação às cartas de alforria condicionais, podemos dizer, que ocorria um
processo semelhante aos contratos de locações de serviços. Apesar de a primeira vista
parecer uma imposição do senhor, seu processo vinha carregado de estratégias forjadas
pelos próprios escravos. Estes, suponhamos, buscavam nas cartas condicionais – assim
208 1º Ofício de Notas, livro 51, p. 81 – Arquivo Nacional (RJ). 209 3º Ofício de Notas, livro 7, p. 75 – Arquivo Nacional (RJ).

237
como os libertos que assinavam contratos de locação de serviço, estudados por Espada –
uma redução da imprevisibilidade que envolvia a perspectiva dos recém-libertos.
Segundo Espada, os libertos viviam sob a ameaça da “individualidade”. Esta poderia
se mostrar maior que o próprio cativeiro, visto que a coerção ao trabalho seria substituída
pela nova realidade da “desfiliação social”, da coerção da miséria.210 Logo, partindo dessa
mesma idéia, as alforrias condicionais não representavam necessariamente a manutenção da
condição de escravidão ou, mesmo, num consentimento passivo por parte dos ex-escravos.
Acreditamos que eram resultados de uma negociação ativa, envolta de ações estratégicas,
com vistas à diminuição das incertezas provenientes da tão esperada liberdade.
Retornando aos autores Frederick Cooper, Thomas C. Holt e Rebecca J. Scott,
devemos admitir a existência de diferentes significados de liberdade. E o que, a princípio,
nos parece simples continuidade do cativeiro, para os libertos condicionais, possivelmente,
representava a segurança do “pertencimento”; a liberdade para eles poderia ser a garantia de
continuar mantendo vínculos sociais e a certeza de ter uma subsistência adequada e um certo
amparo em caso de enfermidade, como foi o caso, acima descrito, da ex-escrava Maria
Cabinda e sua filha Angélica.
Logo, numa perspectiva de resgate do indivíduo, este trabalho parte da idéia de que
os escravos não eram agentes cujas práticas eram determinadas exclusivamente pela
dinâmica escravista ou por uma lógica absolutamente econômica. Eram, isto sim, autênticos
agentes históricos, capazes de criar estratégias e inserir-se em redes sociais que o ajudavam
a viver melhor no regime escravista ou, até mesmo, concorriam para o alcance da esperada
liberdade.
Por fim, essas primeiras análises sobre os significados da liberdade para os escravos
alforriados condicionalmente ainda são superficiais. Ainda nos resta muito a pesquisar e
estudar sobre os escravos e alforriandos eclesiásticos, além de suas relações com seus
proprietários e interações com o catolicismo. Essas questões constituem um bom material
para um trabalho de doutorado que pretendo realizar brevemente.
210 ESPADA, Henrique. Op. cit., 2005, p. 16.

238
Considerações finais
Com o intuito de contribuir para um estudo específico da escravidão ministrada por
religiosos católicos na cidade do Rio de Janeiro, esse trabalho, que por ora se encerra,
identificou alguns padrões das alforrias concedias por eclesiásticos, como tipo, naturalidade
e padrão sexo-etário. Estes padrões permitiram-nos vislumbrar algumas peculiaridades
inerentes à escravidão exercida por este grupo restrito de senhores.
Percebemos, assim, que tais peculiaridades não se apresentam de forma homogênea
nos “dois tipos” de clero. Notamos, portanto, a fragilidade de se analisar a escravidão
exercida pelo clero católico concebido como um segmento único, face à existência de “dois
cleros” no interior de um mesmo grupo religioso, agindo de forma diferenciada no que
concerne à escravidão. Identificamos não só padrões diferentes, mas também opostos,
convencendo-nos da necessidade de uma análise específica para cada um deles.

239
Vimos, a partir da comparação com o valor médio das alforrias em geral, que as
pagas pelos escravos do clero custavam menos que as emitidas por senhores leigos. Dessa
forma, sugerimos que os religiosos preservaram uma antiga tradição: a de deixar o cativo
pagar por sua manumissão o preço de sua compra, apesar da maximização de seu valor.
Assim, vislumbramos um provável “desejo” de manutenção das tradições e
costumes que nortearam a ideologia e atos da milenar Instituição Católica, mesmo a
despeito das mudanças introduzidas pelo desenvolvimento do capitalismo. Talvez, isso
pudesse representar para os religiosos a vontade de manter os costumes em uma sociedade
na qual os “interesses” sobrepunham-se cada vez mais rápido às “paixões”.
Também analisamos, ainda que de forma incipiente, a pequena repercussão da
prática do projeto escravista-cristão entre os eclesiásticos católicos, assim como percebido
para os senhores laicos. O que se evidencia nos documentos de liberdade é a ausência da
família cristã legítima, ou seja, a família constituída sob os preceitos dogmáticos do
catolicismo. Logo, supomos a recorrência entre “os escravos da religião” da mesma
situação ocorrida entre os pertencentes a senhores laicos: a grande predominância da
família/matrimônio consensual.
Com base na análise das cartas de alforria emitidas em algumas décadas do século
XIX, podemos afirmar que o incentivo da Igreja à formação da “verdadeira família cristã”
entre os escravos ficou restrito à teoria dos tratados morais e dos Capítulos das ordens
religiosas.
Enfim, na última parte dessa dissertação discorremos brevemente sobre os
diferentes significados de liberdade para senhores e escravos. A partir daí, fizemos uma
análise sobre a questão da alforria condicional e chegamos à conclusão de que esta não
representava uma simples continuidade do cativeiro, já que poderia garantir a manutenção
de vínculos sociais e a certeza, para o alforriando, de ter uma adequada subsistência e
amparo em casos de necessidade.
Encerramos este trabalho com a convicção de que a complexidade das questões que
lhe constituem objeto demanda ainda pesquisa e estudo mais abrangentes. Indispensável
mais amplo cabedal de fontes: maior número de alforrias e inventários bem como registros
de batismo e casamento, além de uma maior amplitude no recorte temporal. Dessa forma,

240
poderemos adentrar mais confiantes no âmbito da teoria católica e sua conseqüente relação
com o universo escravista.
Anexos Anexo 1: Distribuição dos tipos de alforrias (1840-1850)
PAGA
GRÁTIS
CONDICIONAL
TOTAL 2
CLERO # % # % # % # %
SECULAR 16 17 49 54 26 29 91 100
REGULAR 19 45 10 24 13 31 42 100
TOTAL 1 35 26 59 45 39 29 133 100
Anexo 1.1: Distribuição dos tipos de alforrias (1851-1871)
PAGA
GRÁTIS
CONDICIONAL
TOTAL 2
CLERO # % # % # % # %
SECULAR* 28 23 62 50 34 27 124 100

241
REGULAR 61 53 47 40 8 7 116 100
TOTAL 1 89 37 109 45 42 18 240 100
* No ano de 1860 há uma carta identificada como “ratificação” no clero secular que não foi incluída na contagem. • Três cartas registradas como “cumpriu” foram consideradas, nesse trabalho, como tipo “condicional” sendo duas para o regular e uma para o secular. Anexo 2: Distribuição do número de alforriandos inseridos ou não em redes familiares:
1840-50
SOLITÁRIO APARENTADO ARRANJO TOTAL 2
CLERO
# % # % # % # %
REGULAR 26 60 4 10 13 30 43 100
SECULAR 57 72 7 8 16 20 80 100
TOTAL 1 83 68 11 9 29 23 123 100
Fonte: Livros de registros de notas do primeiro, segundo e terceiro ofícios do Rio de Janeiro, Arquivo Nacional (RJ).

242
Anexo 2.1: Distribuição do número de alforriandos inseridos ou não em redes familiares:
1851-71
SOLITÁRIO APARENTADO ARRANJO TOTAL 2
CLERO
# % # % # % # %
REGULAR 88 74 15 13 15 13 118 100
SECULAR 95 73 6 5 29 22 130 100
TOTAL 1 183 74 21 8 44 18 248 100
Fonte: Livros de registros de notas do primeiro, segundo e terceiro ofícios do Rio de Janeiro, Arquivo Nacional (RJ).

243
Anexo 3: Esquematização dos arranjos familiares
Anexo 3.1: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Custódio Alves Serrão (Carmelita)
Ano de Registro: 23/12/1844

244
Anexo 3.2: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Custódio Alves Serrão (Carmelita)
Data de Registro: 05/12/1845
Maria Cabinda
• Condicional
Angélica Parda
• Condicional

245
Anexo 3.3: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Mosteiro de São Bento
Joana Cabinda
20 anos
• Condicional
Eulália Parda
1 ano e 8 meses
• Condicional

246
Data de Registro: 25/10/1845
Anexo 3.4: Arranjo: Fraternal
Brígida
• Alforria paga
Filha por batizar
• Alforria paga

247
Proprietário: Padre Agostinho José da Silva
Data de Registro: 15/10/1845
Thomas Pardo
Isabel Crioula
• Alforria gratuita

248
• Alforria gratuita Observação: mãe, Maria Benguela
Anexo 3.5: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Padre João Coelho
Data de Registro: 30/10/1847
Severinda Rebolo
• Alforria gratuita

249
•Pai: Manoel Gongo.
* O Proprietário a libertou, pois ela iria casar.
Anexo 3.6: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Mosteiro de São Bento
Data de registro: 04/03/1948
Anastácia Crioula*
• Alforria gratuita
Maria Crioula
• Alforria gratuita
Sofia Crioula
• Alforria paga

250
Anexo 3.7: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Padre João Coelho
Data de registro: 15/03/1848
José Crioulo
• Alforria paga
Firmina
• Condicional

251
Prudenciano Carlos Félix
•••• Condicional •••• Condicional •••• Condicional
Anexo 3.8: Arranjo: Matrifocal Proprietário: Padre Antônio Joaquim de Souza Data de registro: 27/05/1851
Prudenciana
• Condicional

252
Anexo 3.9: Arranjo: Matrifocal Proprietário: Padre Jacinto Pires Lima
Joaquina Parda
• Alforria paga
Polucena
• Alforria paga
Generosa
• Alforria paga

253
Data de registro: 20/04/1852
Anexo 3.10: Arranjo: Matrifocal Proprietário: Padre Manoel Caetano de Almeida
Balbina Parda
• Alforria gratuita
Inocente Pardo
• Alforria gratuita

254
Data de registro: 15/04/1852
Augusto
•Alforria • Alforria gratuita
Anexo 3.11: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Convento São João Bernardino
Maria do Rosário
• Alforria gratuita
Contildes
• Alforria gratuita
Cristina
• Alforria gratuita
Maria
• Alforria gratuita

255
Data de registro: 02/05/1853
Filho recém- nascido •Alforria gratuita
Apolinária
• Alforria paga

256
Anexo 3.12: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Padre Reginaldo José Antunes
Data de registro: 14/02/1853
Constância
Cabinda
• Alforria paga
Carolina Crioula
• Alforria paga

257
Anexo 3.13: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Vigário Francisco Lopes Barbosa Data de registro: 21/12/1855
Rita Nação
• Condicional

258
Firmino Felipe
• Condicional • Condicional
Anexo 3.14: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Padre Joaquim Duarte Nunes
Data de registro: 15/08/1855
Ana Rebola
• Condicional

259
Anexo 3.15: Arranjo: Matrifocal Proprietário: Padre Joaquim Duarte Nunes Data de registro: 15/08/1855
Maria Crioula
• Condicional
Maria Crioula
• Condicional

260
Anexo 3.16: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Mosteiro de São Bento
Data de registro: 31/07/1856
Emiliana Crioula
• Condicional
Rogéria Crioula
• Alforria Paga

261
Balbino pardo • Alforria paga
Anexo 3.17: Arranjo: Matrifocal
Proprietário: Mosteiro de São Bento
Data de registro: 17/05/1859
Eufénia
• Alforria paga

262
Observação: Pai, Laurindo, ainda escravo.
Anexo 3.18: Arranjo: Matrifocal Proprietário: Padre Francisco de São José Vila Real Data de registro: 25/11/1859
Blandina
• Alforria paga
Polucena
• Condicional

263
Alex Antônio
• Condicional • Condicional
Anexo 3.19: Arranjo: Matrifocal Proprietário: Cônego José Antônio da Costa Velincas Data de registro: 26/08/1860
Cântida
• Condicional
Joaquina de
Nação
• Alforria paga

264
Anexo 3.20: Arranjo: Fraternal Proprietário: Convento da Ordem Terceira do Carmo Data de registro: 18/04/1864
Filha
• Alforria paga

265
Manoel Inocêncio
• Alforria paga •Alforria paga Observação: Mãe, ainda escrava do convento, pagou a alforria com a ajuda de um benfeitor.
Anexo 3.21: Arranjo: Matrifocal Proprietário: Padre Bernardo Antônio Lima Velasco Data de registro: 19/11/1870
Maria Crioula
• Condicional

266
Irmina
• Condicional

Anexo 4: Comparação da porcentagem de parentes ou não no interior do mesmo clero e porcentagem do clero em geral (1840-1871):
INSERIDOS EM REDE DE PARENTESCO
SOLITÁRIOS TOTAL 2 CLERO
# % # % # %
REGULAR 47 29 114 71 161 100
SECULAR 57 27 152 73 209 100
TOTAL 1 104 28 266 72 370 100
• Documento não faz menção a parentesco algum. Fonte: Livros de registros de notas do primeiro, segundo e terceiro Ofícios do Rio de Janeiro - 1840/1871, Arquivo Nacional (RJ).

14
Anexo 5: Distribuição do padrão sexo-etário dos alforriandos do clero regular da cidade do Rio de Janeiro – 1840 -1871.
CRIANÇAS ADULTOS IDOSOS TOTAL 2
SEXO # % # % # % # %
MULHERES 18 37 26 53 5 10 49 100
HOMENS 13 48 4 15 10 37 27 100
TOTAL 1 31 41 30 39 15 20 76 100
Fonte: Livros de notas do primeiro, segundo e terceiro Ofícios do Rio de Janeiro – 1840/1850, Arquivo Nacional (RJ).
Anexo 5.1: Distribuição do padrão sexo-etário dos alforriandos do clero secular da cidade do Rio de Janeiro – 1840 -1871.
CRIANÇAS ADULTOS IDOSOS TOTAL 2
SEXO # % # % # % # %
MULHERES 12 34 17 49 6 17 35 100
HOMENS 8 33 9 38 7 29 24 100
TOTAL 1 20 34 26 44 13 22 59 100

15
Fonte: Livros de notas do primeiro, segundo e terceiro Ofícios do Rio de Janeiro – 1840/1850, Arquivo Nacional (RJ).
Anexo 5.2: Distribuição do padrão etário a partir da idade bruta registrada nas manumissões concedidas pelo clero regular e secular da cidade do Rio de Janeiro – 1840 –1871:
CRIANÇAS ADULTOS IDOSOS TOTAL 2
SEXO # % # % # % # %
REGULAR 26 47 22 39 8 14 56 100
SECULAR 11 28 18 46 10 26 39 100
TOTAL 1 37 39 40 42 18 19 95 100

16
Anexo 6: Registro de alforria de João Cabinda – 2º Ofício de Notas; livro 73; p. 323v;
20/09/1843:
“Digo eu abaixo assinado que sou senhor e possuidor de um escravo de nome João
de nação Cabinda e, porque este me tem servido bem, não como escravo, mas como bom
amigo e bom cristão lhe dou de hoje para sempre plena liberdade e, peço à Justiça de Sua
Majestade, que supram qualquer falta que nesta possa haver e sirva de carta de liberdade
que de minha livre vontade lhe concedo. Rio de Janeiro, vinte e três de julho de 1843.
Cônego José Álvares Couto.”
Anexo 7: Registro de alforria de Caetano de Jesus Maria – 2º Ofício de Notas; livro 81; p.
169v; 03/09/1849:
“Eu abaixo assinado declaro que possuo um pardinho por nome Caetano de Jesus
Maria de idade de um ano que lhe dou a sua liberdade com condição de me acompanhar
enquanto eu viva for e, morta eu ele gozará de sua liberdade sem condição alguma nem
impedimento e, para maior clareza passo este somente por mim assinado. Rio de Janeiro,
três de setembro de 1849. Madre Maria de Jesus”.
Anexo 8: Registro de alforria de Joaquim Pinto de Gouveia - 2º Ofício de Notas; livro 94;
p. 18; 30/07/1859:

17
“O Padre Mestre Frei Luis da Conceição Saraiva D. Abade atual do Mosteiro de São
Bento do Rio de Janeiro. Por este Nosso Alvará damos liberdade pura e irrevogável ao
nosso escravo Joaquim Pinto de Gouvêa, pardo com vinte e três anos de idade, pouco mais
ou menos, Oficial de Barbeiro, nascido em nossa Fazenda de Campos, atualmente
empregado no serviço do Mosteiro, por havermos recebido a quantia de um conto de rei,
conforme foi deliberado em Conselho, nós obrigamos por nós e pelos nossos sucessores, a
fazer-lhe esta sua liberdade boa, e de paz pacífica, tirando-o de qualquer dúvida que a seu
respeito se possa mover, para que de hoje em diante, goze desta liberdade como se nascera
de ventre livre. Dado e passado neste Nosso Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro sob o
sinal e selo dele, aos cinco de abril de 1859”.
Anexo 9: Registro de alforria de Felicidade crioula – 3º Ofício de Notas; livro 10; p. 146v;
04/08/1852:
“Digo eu Dona Joana Francisca Nobre na qualidade de inventariante e testamenteira
e herdeira do finado padre João de São Boaventura Cardoso, que tendo o mesmo finado
deixado forra em testamento a escrava Felicidade, crioula, com a condição de servir-me
pelo espaço de cinco anos, declaro que desisto dos mesmos serviços, e lhe dou a plena
liberdade de hoje para sempre como se de ventre livre tivesse nascido, e rogo às Justiças de
Sua Majestade Imperial hajam de lhe dar o seu cumpra-se, e por não saber ler nem escrever
pedi ao senhor Francisco José Pereira que isto por mim fizesse e a meu rogo assinasse. Rio
de Janeiro, trinta e um de julho de 1852”.

18
Anexo 10: Registro de alforria de Presciliana – 3º Ofício de Notas; livro 32; p. 15v;
23/08/1870:
“Eu abaixo assinado declaro que tendo incluído em legado deixado pela finada
Senhora Dona Inocência Angélica da Conceição o usufruto dos serviços de sua escrava
Presciliana parda de 20 anos de idade com a cláusula de ficar a mesma livre depois de
minha morte, recebi da dita parda Presciliana a quantia de 700 mil réis por mão de sue
protetor o Ilustríssimo Senhor Doutor Castro pela cessão (sic) ou renúncia deste legado, a
fim de que entre ela desde já no pleno gozo e posse de sua liberdade, omitindo pois de mim
os direitos que tenho a tais serviços, constituo a referida parda Presciliana minha
procuradora em causa própria para defender em qualquer tempo perante quaisquer Juízos
ou Tribunais os seus direitos de liberdade de isenção dos serviços que a mim estava
obrigada. Rio de Janeiro, oito de setembro de 1870. Padre Francisco Manoel Marques
Pinheiro”.
Anexo 11: Registro de alforria de Teodora Monjola – 2º Ofício de Notas; livro 88; p. 115;
24/10/1854:
“Pela presente damos plena e geral liberdade a escrava Theodora de Nação Monjola,
do serviço de Nosso Convento por termos recebido outra em seu lugar e pelos bons
serviços prestados, cuja liberdade gozará de hoje em diante como se livre tivesse nascido. E
para constar se lhe passou a presente passada neste Convento de Nossa Senhora da
Conceição da Ajuda, e selada com o selo da comunidade. Rio de Janeiro, 18/10/1854.”

19
Anexo 12: Registro de alforria de Honorata cabra – 2º Ofício de Notas; livro 89; p. 104v;
06/07/1855:
“Pela presente damos plena e geral liberdade a escrava Honorata cabra natural de
Macacu (?), do serviço de Nosso Convento por termos recebido outra em seu lugar e pelos
bons serviços prestados, cuja liberdade gozará de hoje em diante como se livre tivesse
nascido. E para constar se lhe passamos a presente passada neste Convento de Nossa
Senhora da Conceição da Ajuda, e selada com o selo da comunidade. Rio de Janeiro,
1/07/1855.”
Anexo 13: Registro de alforria do casal Manoel e Helena – 3º Ofício de Notas; livro 19; p.
138v; 07/06/1859:
“Reverendíssimos senhores Padres Ministro Provincial e mais Padres da Mesa
Definitora. Os escravos Manoel e Helena, casados e pertencentes ao Convento de Nossa
Senhora do Amparo, do bairro de São Sebastião, tendo prestado ao Convento serviços que
podem ser atestados por seus senhores Padres Guardiões d’aquele Convento e contando já
de idade mais de cinqüenta anos, nos [?] tem tido oito filhos, todos escravos do Convento,
julgam-se com direito a virem implorar da caridade de Nossas Reverendíssimas a graça de
lhes concederem sua liberdade, para que possam gozar nos últimos dias das suas vidas este
benefício, por que tanto suspiram, por isso humildemente: pedem a Nossas
Reverendíssimas a esmola que pretendem. Espera receber mercê. Atendendo ao que alegam
os suplicantes e seguindo a disposição da Lei Capitular, concedemos-lhes gratuitamente a
liberdade que pedem, para o que o Nosso Irmão Síndico Geral, lhe mandará passar as
respectivas cartas. Vinte e três de maio de 1859. Frei Coração de Maria Almeida”.

20
Anexo 14: Documento de Perfilhação extraído do inventário do Monsenhor Antônio Pedro
dos Reis:
“(...) na sua condição de clérigo de Ordens Seculares, por fragilidade humana, tivera com D. Anna Praxedes [?] Ferreira, hoje falecida, e com D. Anna Nogueira da Luz, também, já falecida, pessoas livres e desimpedidas, os seguintes filhos: com a primeira, Augusto, nascido na cidade do Rio Preto da Província de Minas, em junho de 1840, hoje o bacharel Augusto Ferreira dos Reis; e com a segunda, Júlio Cezar Nogueira dos Reis, Maria Carmelita Nogueira dos Reis Hallais, casada hoje com o Dr. Hypolito Emílio Hallais, Constança Nogueira dos Reis, Adelaide Nogueira dos Reis e Antônio Nogueira dos Reis, nascidos: o primeiro nesta Corte em julho de 1850, a segunda, idem, em agosto de 1853, a terceira, idem, em julho de 1855, a quarta, idem, em julho de 1857 e o quinto, idem, em agosto de 1859. Todos menores à exceção do bacharel e da casada com o Dr. Hallais, sendo ele outorgando-se tutor dos menores. Acrescentou que aos mesmos reconhecia por seus filhos e queria que como tais fossem por todos reconhecidos e aceitos para gozarem de todas as prerrogativas e vantagens que a essa condição possam ser inerentes, sucedendo-o em todos os seus bens, direitos e ações (...) sendo sido declarou em tempo o outorgante que só é falecida hoje D, Anna Nogueira da Luz, sendo ainda viva D. Anna Praxedes Ferreira, e não falecida como por engano foi dito (...). Rio, 13/11/1873.”
Anexo 15: → Registro de alforria de Domingas Parda – 1º Ofício de Notas; livro 54; p.
174; 06/09/1856:
“O Padre Mestre Pregador Imperial Frei Manoel de São Caetano Pinto Dom Abade
atual do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Por este nosso alvará damos liberdade
pura, gratuita e irrevogável a escrava parda de nome Domingas, pertencente ao falecido
nosso Reverendíssimo Padre Pregador Geral Abade Frei Marcelino do Coração de Jesus,
por assim o haver pedido antes de sua morte à Santa Comunidade, e esta o haver

21
aprovado; e nos obrigamos por nós e pelos nossos sucessores a fazer. Lhe damos esta sua
liberdade boa e de paz pacífica, tirando-a de qualquer dúvida que a seu respeito se possa
mover, para que de hoje em diante goze desta liberdade como se nascera de vente livre.
Dada e passada neste Nosso Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, sob o nosso signo e
selo aos vinte e três de novembro de 1855”.
Fontes e Bibliografia
⇒⇒⇒⇒ Fontes
→→→→ Cartas de alforrias registradas nos 1º, 2º e 3º Ofícios de Notas do Rio de Janeiro,
depositadas no Arquivo nacional. Período: 1840-1871.
→→→→ Inventários:
• Padre Agostinho José da Silva - Juízo de Órfãos – maço: 439, nº: 8477; ano: 1864.
• Padre Antônio Joaquim de Souza - 3ª Vara civil / Juízo de Órfãos – caixa: 3614; nº: 2; ano: 1848 / 1852. • Monsenhor Antônio Pedro dos Reis - Juízo de Órfãos – caixa: 3992; nº: 53; ano: 1878.
• Padre Candido Olympio Martins Lage - Juízo de Órfão - caixa: 4027; nº: 654; ano: 1873 • Padre Francisco de São José Villa Real - Vara de Órfãos – caixa: 4127; nº: 1168; ano: 1858 - Juízo da Provedoria – caixa: 388; nº: 1366; ano: 1862.
• Padre Francisco José Medella - Provedoria – conta – caixa: 390; nº: 1448; ano: 1859. • Padre Joaquim Severino Gomes de Abreu - Caixa: 274957 nº: 6; ano: 1868. • Padre e senador José Custódio Dias - 1ª Vara Civil; caixa: 289; nº: 3546; ano: 1839.

22
⇒⇒⇒⇒ Bibliografia
• CARDOSO. Ciro Flamarion. Escravo ou camponês? O proto-campesinato negro nas
Américas. São Paulo: Brasiliense, 1987.
• CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro
na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
• CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da
escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
• CUNHA, Manuela Carneiro da. “Sobre os silêncios da lei. Lei costumeira e positiva nas
alforrias de escravos no Brasil do século XIX”. In: Antropologia do Brasil: mito, história,
etnicidade. São Paulo, Brasiliense / Edusp, 1986.
• __________. Negros, estrangeiros. Os escravos libertos e sua volta à África. São Paulo:
Brasiliense, 1985.
• DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2001.

23
• ENGEMANN, Carlos. “De grande escravaria à comunidade escrava”. Revista Estudos
Históricos. Franca: UNESP, v.9, n. 2, 2002.
• FLORENTINO, Manolo. “Alforrias e etnicidade no Rio de Janeiro Oitocentista: notas de
pesquisas”. TOPOI. Revista de História. Rio de janeiro: Programa de Pós-graduação em
História Social da UFRJ / 7Letras, set.2002, nº5.
• __________ . GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico
atlântico. Rio de Janeiro, c.1790-c.1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
• __________. “De escravos, forros e fujões no Rio de Janeiro Imperial (ensaio)”. In:
Revista USP, São Paulo, nº. 58, pp. 104-115, junho/agosto 2003.
• RIBEIRO, Ana Beatriz Frazão. O bem comum nas “Siete Partidas” de Alfonso X. Artigo
integral no link: http://www.ifcs.ufrj.br/~pem/html/textos.html.
• FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala. Rio de Janeiro: Record, 1989.
• __________. Sobrados e Mocambos. Rio de Janeiro: José Olímpyo, 1985.
• FRIDMAN, Fania. Donos do Rio em nome do rei: uma história fundiária da cidade do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, Ed. Garamond, 1999.
• GENOVESE, Eugene. A terra prometida. O mundo que os escravos criaram. Rio de
Janeiro: Paz e Terra; Brasília: CNPq, 1988.
• GOMES, Francisco José Silva. Quatro séculos de cristandade no Brasil. Comunicação
apresentada em junho de 2001 em Recife, no Seminário Internacional de História das
Religiões, promovido pela ABHR.
• GORENDER, Jacob. O Escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1884.

24
• GRINBERG, Keila. O fiador dos brasileiros. Cidadania, escravidão e direito civil no
tempo de Antônio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
• GUTMAN, Herbert G. The black Family in Slavery end Freedon - 1750-1925. N.Y:
Vintage, 1976.
• HARRIS, Merrick. Padrões Raciais na América. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1967.
• KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo:
Companhia das Letras, 2000.
• LEVI, G. A Herança Imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
• MACHADO, Helena P. T. “Em torno da autonomia escrava: uma nova direção para a
história social da escravidão”. Revista Brasileira de História. São Paulo: AMPUH / Marco
Zero, v. 8, nº 16, março de 1988 / agosto de 1988.
• MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do corpo, missionários da mente. Senhores,
letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das
Letras, 2004.
• MATTOSO, Kátia M. Queirós. “Propósito de cartas de alforria na Bahia, 1779-1850”.
Marília: Anais de História, v. 4, 1971.
• MERRICK, Thomas W. & GRAHAM, Douglas H. População e Desenvolvimento
econômico no Brasil. Rio de Janeiro, Zahar, 1981.

25
• PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVII:
estratégias de resistências através dos testamentos. São Paulo: ANNA_BLUME, 1995.
• PIRATININGA JUNIOR, Luis Gonzaga. Dietários dos escravos de São Bento:
originários de São Caetano e São Bernardo. São Paulo: HUCITEC; São Caetano do Sul,
São Paulo: Prefeitura, 1991.
• ROCHA, Mateus Ramalho. O Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. 1500/1990. Rio
de Janeiro: Studio HMF, 1991.
• SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Tradução Jussara Simões. Bauru:
São Paulo: EDUSC, 2001.
• SLENES, Robert W. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da
família escrava, Brasil-Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
• TANNENBAUM, Frank. Slave and Citizen. Boston: Bacon Press, 1946.
• VAINFAS, Ronaldo. Ideologia e Escravidão. Os letrados e a sociedade escravista no
Brasil colonial. Petrópolis: Vozes, 1986.