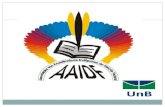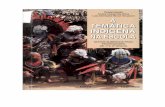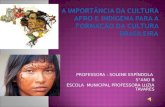Estudo de Caso sobre escolas indigena
-
Upload
kefron-primeiro -
Category
Documents
-
view
14 -
download
3
description
Transcript of Estudo de Caso sobre escolas indigena
-
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA FACULDADE DE CINCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM EDUCAO
BRINCADEIRAS E RELAES INTERCULTURAIS NA ESCOLA INDGENA: UM ESTUDO DE CASO NA ETNIA
SATER-MAW
JOO LUIZ DA COSTA BARROS
Piracicaba, SP 2012
-
BRINCADEIRAS E RELAES INTERCULTURAIS NA ESCOLA INDGENA: UM ESTUDO DE CASO NA ETNIA
SATER-MAW
JOO LUIZ DA COSTA BARROS Orientadora: Profa. Dra. Maria Nazar da Cruz
Tese apresentada Banca Examinadora do Programa de Ps-Graduao em Educao da UNIMEP, como exigncia parcial para obteno do ttulo de Doutor em Educao.
Piracicaba, SP 2012
-
BANCA EXAMINADORA
Profa. Dra. Maria Nazar da Cruz (Orientadora)
Profa. Dra. Altina Abadia da Silva (UFG) Profa. Dra. Cludia Beatriz de Castro Nascimento Ometto (UNIMEP)
Profa. Dra. Ida Carneiro Martins (UNINOVE) Profa. Dra. Roseli Pacheco Schnetzler (UNIMEP)
-
DEDICATRIA Ao meu eterno pai Luiz Barros, exemplo de vida e de presena nas minhas primeiras compreenses sobre o sentido da vida em famlia. minha amada me, Josefa Garcia da Costa, exemplo de f, esperana, alegria e amor nessa escola da vida. Ao meu eterno amor Anna Christina de Souza Barros, por tudo que vivemos e o que temos ainda por viver juntos nesta vida terrena, pessoa amorosa, dedicada, alegre, e por estar comigo em todos os momentos desta caminhada da vida e no trabalho docente. Aos meus filhos amados Luanna, Joo Vctor e Daniele Barros pela presena em vida, exemplos de esperana por um mundo mais justo, fraterno e digno de se viver. Ao amigo pai Edson Dantas pela presena significante em minha vida e de minha me.
-
AGRADECIMENTOS
Este espao dedicado aos agradecimentos significa reconhecer a gradido que
devoto a todos que, direta ou indiretamente, participaram de minha trajetria e elaborao desta Tese.
Comunidade Indgena Sater-Maw pela oportunidade de construirmos juntos esta tese, num caminhar que pretendemos continuar por longos anos.
Fundao de Amparo Pesquisa do Estado do Amazonas FAPEAM por financiar meus estudos integralmente no Programa de Ps-Graduao em Educao
e pelo incentivo em poder divulgar esta tese.
minha orientadora, Profa.Dra. Maria Nazar da Cruz, pela incansvel orientao, e por ser compreensiva com as minhas dificuldades no processo de
doutoramento, pelas suas palavras firmes nos encontros de orientao que foram
fundamentais para o meu crescimento pessoal e profissional e na concretizao
desta etapa.
As professoras que constituram a Banca do Exame de Qualificao e
Examinadora, Profa. Dra. Roseli Pacheco Schnetzler e Profa. Dra. Ida Carneiro
Martins, que atravs dos seus conhecimentos e pela dedicao colaboraram nesta
importante etapa de minha formao docente. Suas intervenes foram
fundamentais para os resultados alcanados.
As professoras convidadas para compor a Banca Examinadora, Profa. Dra.
Altina Abadia da Silva e Profa. Dra. Cludia Beatriz de Castro Nascimento Ometto,
que se dispuseram a contribuir com este trabalho atravs de suas orientaes e
esclarecedoras sugestes.
-
7
minha amiga Lcia Cludia, pelo apoio fundamental recebido nos momentos
mais decisivos desta caminhada.
A todos os colegas e funcionrios do Programa de Ps-Graduao em
Educao, pela fraterna amizade e prazerosa convivncia, sobretudo, por
compartilhar sentimentos e esperanas neste sonho coletivo.
Aos amigos professores da Universidade Federal do Amazonas Ufam, do
Instituto de Cincias Sociais, Educao e Zootecnia de Parintins/AM, do curso de
Educao Fsica, pelas constantes palavras de incentivo e prazerosa convivncia.
Aos professores do Programa de Ps-Graduao em Educao, que
colaboraram na realizao deste trabalho e por incentivarem minha eterna busca
pela produo do conhecimento.
Aos meus amigos da Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer e
da Secretaria Municipal de Educao que me deram fora para continuar meu
caminhar na vida acadmica.
O PRESENTE TRABALHO FOI REALIZADO COM APOIO DA FUNDAO DE
AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS -
FAPEAM/AMAZONAS/BRASIL
-
8
Com a ajuda da escola, com uma educao que realmente responda s nossas necessidades, queremos reconquistar a autonomia socioeconmica e cultural e sermos reconhecidos como cidados etnicamente diferentes. No queremos que a escola sirva para desestruturar nossa cultura e nosso jeito de viver; que no passe para nossas crianas a ideia de que somos inferiores e que, por isso, precisamos seguir o modelo dos brancos para sermos respeitados.
Professor Guarani Valentim Pires (1998)
-
9
RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo analisar as relaes interculturais que se estabelecem na educao escolar indgena, tendo como foco o brincar das crianas indgenas, na escola e nos contextos sociais especficos. Procura responder a questo: De que modo as relaes interculturais se articulam no espao escolar e nas brincadeiras das crianas indgenas Sater-Maw? Para o desenvolvimento deste trabalho realizamos um estudo de caso que teve como objeto de investigao a escola Tupan-Ypor, da aldeia Sahu-Ap. Utilizamos como procedimento de coleta de dados a observao participante na aldeia, na escola e nas brincadeiras das crianas e entrevistas semi-estruturadas com professores e lideranas na aldeia e, ainda, entrevistas coletivas com as crianas indgenas. Foram estabelecidos trs eixos de anlise para estudar o contexto de educao escolar intercultural, tendo o brincar como foco: a escola na aldeia; a participao da comunidade na escola e o sentido da escola para os indgenas; as brincadeiras das crianas na escola e na aldeia. A partir da anlise dos dados pudemos concluir que a educao das crianas indgenas possuem caractersticas diferenciadas e que a chegada da escola na aldeia deve se constituir enquanto um espao de trocas, respeito ao modo de vida dos indgenas, seus valores, seus costumes e suas brincadeiras e, sobretudo enquanto possibilidades da interculturalidade.
PALAVRAS-CHAVE: Brincar, Crianas Indgenas, Relaes Interculturais; Educao Escolar Indgena.
-
10
ABSTRACT
This research aims to analyze the intercultural relations that are established in indigenous education, focusing on the play of indigenous children in school and in specific social contexts. It seeks to answer the question: How intercultural relations are articulated in the school and the games of Satere-Mawe Indians children? To develop this work there were a case study that had as its object a investigation the School Tupana Yporo in the village Sahu-Ap. We used the procedure of data collection interviews, observation participant in the village, at school and at the children play and also semi-structured interviews, teachers and leaders the village, as well as collective interviews with are indigenous children. We established three lines of analysis to study the cultural context of school education, focusing on the play: a school in the village, community participation in school and the importance of school for natives and the games of children in school and in the village. From the data analysis we can conclude that the education of indigenous children have different characteristics, and the arrival of the school in the village would constitute as a space of exchange, respect the indigenous way of life, their values, customs and their play and, above all as possibilities of interculturality.
KEYWORDS: Play; Indigenous Children; Intercultural Relations; Indigenous Education.
-
11
SUMRIO
INTRODUO ........................................................................................................................ 12
CAPTULO I SOBRE A EDUCAO ESCOLAR INDGENA: EM BUSCA DA INTERCULTURALIDADE ..................................................................................................... 21
1.1 Constituio Histrica da Educao Escolar Indgena no Brasil ................. 24 1.2 Legislao Indgena e Polticas Pblicas para a Educao ......................... 35 Escolar Indgena: Questes Atuais. ............................................................................... 35 1.3 As escolas dos povos indgenas ....................................................................... 46
CAPTULO II - INFNCIA, BRINCADEIRA E EDUCAO : A IMPORTNCIA DO BRINCAR NOS PROCESSOS EDUCATIVOS. .................................................................... 57
2. 1. O lugar da criana e do brincar da Idade Mdia ao sculo XVII ....................... 60 2.2. O brincar das crianas do sculo XVIII aos dias atuais....................................... 70
CAPTULO III O POVO SATER-MAW E A CRIANA INDGENA .......................... 84 3.1. Criana indgena sater-maw ................................................................................ 93
CAPTULO IV - PROCEDIMENTOS METODOLGICOS.................................................99 4.1. Sujeitos da Pesquisa ................................................................................................. 99 4.2. Procedimentos para a recolha de informaes................................................... 101 4.3. Procedimentos de construo e anlise dos dados ........................................... 104
CAPTULO V ANLISE DOS DADOS .......................................................................... 106 5.1. A escola na aldeia .................................................................................................... 106 5.2. A participao da comunidade na escola e o sentido da escola para os indgenas. .......................................................................................................................... 120 5.3. As brincadeiras das crianas na escola e na aldeia .......................................... 129
CONSIDERAES FINAIS ................................................................................................. 150
REFERNCIAS ..................................................................................................................... 160
-
12
INTRODUO
Este trabalho fruto de um longo processo de aprendizagem: foi elaborado,
escrito, reescrito e mudado ao longo de todo o caminhar de vida profissional. O
tempo vivido na formao inicial e continuada, as experincias na docncia da
educao infantil ao ensino superior, as posturas e relacionamentos assumidos a
partir dos dilogos, dos encontros e ensinamentos contnuos que tive e tenho com
as crianas, jovens e adultos, seja em Manaus ou no interior do Estado do Amazonas, me fizeram buscar novos conhecimentos e saberes da minha terra, em
especial, das comunidades indgenas que ora estavam to distantes da cidade, e
que hoje, esto prximas da nossa vida cotidiana urbana e rural. Inicialmente, em 1986, como estudante do curso de graduao em Educao
Fsica participei do Projeto Rondon, visitando vrios municpios do interior do Estado, como Urucurituba, Itacoatiara, Manacapuru, Coari e Codajs, desenvolvendo atividades recreativas e esportivas para as crianas naquelas
localidades distantes do prprio centro urbano dos municpios. amos no barco da prefeitura, visitando cada comunidade distante da prpria sede, permanecendo por
l, pelo menos, cinco dias desenvolvendo as atividades programadas. Foi uma
realidade que me fez olhar e conhecer um pouco mais as dificuldades que as
pessoas que moram nas zonas rurais passam por estarem distantes dos centros
urbanos quanto mais da cidade de Manaus, como por exemplo: ausncia de
assistncia mdica sistemtica nas comunidades, poucas escolas e algumas
distantes de suas casas, acarretando s crianas indgenas ou no, terem que pegar
uma rabeta (canoa com motor) para se deslocar escola estadual ou municipal mais prxima de suas casas, sendo algumas sem professores para lecionar as aulas, sem
material didtico e sem energia etc.
-
13
Assim, pensei que investigar realidades to distantes e diferentes da nossa
vida urbana, poderia nos ajudar refletir sobre a prpria profisso/professor de educao fsica em relao as vrias modalidades de ensino, em especial, a
educao escolar indgena.
A escolha da temtica do brincar em minha ao profissional, se inicia em
1987, ainda no processo inicial da trajetria acadmica no curso de licenciatura em Educao Fsica, quando comeamos a trabalhar na educao bsica, em especial,
nas sries iniciais do ensino fundamental em duas escolas pblicas, sendo uma
estadual e a outra municipal.
Mais tarde, a partir 1991, atuamos tambm em uma escola particular no ensino
infantil e, assim, foram surgindo outros campos de atuao, mas sempre trabalhando
com crianas. Em 1999, numa IES privada, em Manaus, iniciamos a caminhada no
magistrio superior como professor convidado do curso de pedagogia para ministrar
a disciplina Teoria e Prtica do Jogo. Entendemos que a experincia docente na
educao infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e no ensino superior, fez
com que buscssemos conhecer e entender com mais rigor a rea da educao.
Alicerado em Arroyo (2009, p.199) podemos afirmar que a nossa histria constituda a partir de encontros, debates e reflexes, tendo o sentimento de que
todos professores envolvidos na interao agem, pensam, sentem, vivem, e isso no
interior e no exterior do trabalho, na totalidade dos seus espaos, dos seus tempos e
das suas relaes sociais.
No ano de 2004, ingressamos como docente no curso Normal Superior, da
Universidade do Estado do Amazonas UEA, no municpio de Parintins para
ministrar as disciplinas Educao Fsica na Educao Infantil e Sries Iniciais do
Ensino Fundamental, at o ano de 2005. Neste perodo, desenvolvemos vrios
-
14
trabalhos de iniciao cientfica e orientaes de TCC nos campos do brincar e na
formao de professores, entre eles o do acadmico Elias de Souza Menezes, de
origem da etnia Sater-Maw com o trabalho intitulado Jogos como forma de
aprendizagem em uma escola na zona rural do Municpio de Parintins, o que
despertou em mim curiosidade epistemolgica, pois era um tema a priori
desconhecido pelo meu contexto vivencial, mas ao mesmo tempo desafiador para a
produo de um conhecimento.
Em 2006 retornei Manaus, na Universidade do Estado do Amazonas para
implantar na Escola Superior de Cincias da Sade, o Ncleo de Desenvolvimento
Educacional em Sade, com o intuito de trabalhar a formao pedaggica juntos aos professores da Universidade. Nesta poca, criamos um espao de orientao
didtico-pedaggica aos indgenas que estavam adentrando Universidade pelo
sistema de cotas, pois muitos deles se assustavam com o ambiente da academia e a
deixavam.
Logo em seguida, em 2008, iniciamos o processo de doutoramento em
Educao. No ano de 2010, iniciamos os primeiros contatos com o possvel universo
da pesquisa, descobrindo mais tarde, nos dilogos informais, que o meu ex-
orientando Elias Menezes era sobrinho da professora indgena Juraci. Isso fez com
que nos aproximssemos e adquirssimos muito mais confiana da comunidade
indgena urbana Sater-Maw, situada em Manaus.
Nessas idas e vindas que antecederam o processo de escolha do lugar da
pesquisa, convivemos com a comunidade YApyrehyt em algumas festividades, tais
como: o Ritual da Tucandeira, significando a passagem da criana ao mundo adulto.
Convivemos com as crianas no seu cotidiano. Conhecemos o Cacique Moiss e o
-
15
professor indgena Timteo, junto aos quais pudemos nos familiarizarmos com as questes indgenas que norteavam a etnia Sater-Maw no Estado.
Mais tarde, durante a convivncia, a professora Juraci me informou que tinha
uma outra comunidade Sater-Maw, do outro lado do Rio Negro, no municpio de
Iranduba, cerca de 40 km de Manaus, me indagando se eu no gostaria de conhec-
la. Marcamos o encontro e nos dirigimos pra l. Quando chegamos na aldeia Sahu-
Ap, fomos bem recebidos pela Cacique Abac e por toda comunidade. Visitamos
todos os seus espaos, conversamos com as crianas que ficavam o tempo todo
conosco nos acompanhando juntamente com seus pais e a cacique Abac. Aps o trmino da visita, nos comprometemos a retornar para apresentar o projeto de pesquisa para sua anlise e parecer, o que aconteceu aps duas semanas.
Explanamos detalhadamente sobre o projeto para a cacique, para os pais e para as crianas e com muita alegria obtivemos sua aceitao imediata.
Descrevemos esse breve relato da experincia profissional e da aproximao
com a comunidade indgena para pensarmos de fato o dilogo desafiador, que nos
move na inteno da construo da tese, entre os saberes adquiridos na docncia
com a lgica do conhecimento cientfico que estamos desenvolvendo, considerando
nessa teia profissional, um novo conhecimento que deve ser debatido e construdo
atravs da pesquisa sobre a educao escolar indgena.
O estudo e a insero no contexto das relaes das polticas pblicas com a
educao escolar indgena, enfatizando o sentido e o significado do brincar na aldeia
e na escola Sater-Maw, comearam pela curiosidade de investigar esta realidade
que est to prxima da vida cotidiana da cidade de Manaus. Movidos pelas
incertezas do no saber, mas ao mesmo tempo conscientes da necessidade de
-
16
ampliar os saberes e conhecimentos na docncia, passamos a refletir sobre as
anlises de Berger e Luckmann (1985, p. 38-39) ao afirmarem que:
[...] tenho conscincia que o mundo consiste em mltiplas realidades. Quando passo de uma realidade a outra, experimento a transio como uma espcie de choque. Este choque deve ser entendido como causado pelo deslocamento da ateno acarretado pela transio [...] A realidade da vida cotidiana, porm, no se esgota nessas presenas imediatas, mas abraa fenmenos que no esto presentes.
Alm das razes anteriormente apresentadas, queremos frisar que o fato do
tema ser bastante efervescente na Universidade do Estado do Amazonas na poca,
na qual aconteciam seminrios, colquios e semanas acadmicas de curso voltados
especificamente para a questo, nos levou a estudar a temtica para formulao de
um projeto de pesquisa. Consideramos tambm que um dos fatores que constituiram a escolha do tema
da tese foi a vivncia de infncia, na qual tive a liberdade para vivenciar uma
diversidade de experincias motoras: nos campos, nas ruas, nas caladas e na
escola. Outro aspecto que contribuiu para a escolha foi minha atuao profissional
com as crianas, tanto na educao infantil, quanto nas sries iniciais do ensino
fundamental e, ao iniciar a docncia em um curso de Pedagogia junto aos futuros professores pude ressignificar as brincadeiras de infncia, por perceb-las em
diferentes espaos e tempos de minha vida.
O objetivo geral desta pesquisa analisar as relaes interculturais que se estabelecem na educao escolar indgena, tendo como foco o brincar das crianas
indgenas, na escola e nos contextos sociais especficos.
Dentre outros argumentos que justificam a tese, importante mostrar que a partir da Constituio de 1988 a educao escolar indgena vem obtendo avanos
-
17
significativos no que diz respeito s legislaes que a regulam quanto ao
reconhecimento de uma educao especfica e diferenciada. No entanto, na prtica
pedaggica, h enormes tenses, conflitos e contradies no que se refere s suas
aplicabilidades entre os entes federados: Unio, Estados, Municpios e movimentos
sociais indgenas.
Tomamos o brincar como foco da pesquisa por ser uma atividade central dos
processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianas, quer sejam indgenas ou no, nos seus contextos sociais e culturais. H que se ressaltar que, na casa das
crianas indgenas tais prticas vo desde sua vida na comunidade at a
incorporao de novos elementos decorrentes da chegada da escola na aldeia e da
sociedade circundante.
Interessou-nos analisar os modos pelos quais as concepes do brincar e da
educao foram historicamente produzidos no contexto branco/ocidental, os quais
foram ganhando espao nas comunidades indgenas, atravs da organizao de
tempos e espaos para aprender, para brincar e para trabalhar. Por outro lado,
identificamos por intermdio dos exemplos de vrias sociedades indgenas que as
crianas mostram a permanncia das tradicionais brincadeiras em suas prticas
cotidianas e que, historicamente, essas prticas fazem parte da cultura infantil de
vrias crianas de todo o Brasil.
Assim, procuramos contextualizar o problema da pesquisa com a seguinte
questo norteadora: De que modo as relaes interculturais se articulam no espao
escolar e nas brincadeiras das crianas indgenas Sater-Maw?
Para alcan-lo, estabelecemos um roteiro que se encontra no item
denominado procedimentos para recolha de informaes, que tem como objetivo encaminhar a discusso com o enfoque no brincar, na escola e nas relaes
-
18
interculturais que constituem a comunidade pesquisada. Logo, ressaltamos que os
objetivos das entrevistas e das observaes, juntamente com o referencial terico nos orientaram nos processos de anlise e na construo da tese.
Os captulos da tese foram organizados a partir dos agrupamentos dos textos
que foram produzidos no transcorrer dos encontros de orientao, dos estudos
exploratrios e descritivos e dos dilogos com a comunidade indgena pesquisada,
com professores e colaboradores e nos encontros tcnicos-cientficos que
participamos.
O primeiro captulo intitulado SOBRE A EDUCAO ESCOLAR INDGENA: EM BUSCA DA INTERCULTURALIDADE aborda a dimenso da interculturalidade
como um elemento constitutivo para a educao escolar indgena nos dias atuais,
mostrando ao mesmo tempo, vrias concepes sobre o modo como a
interculturalidade foi concebida, desde o perodo da colonizao, entre a sociedade
indgena e no-indgena, num modelo de educao integradora, que tinha como
pressuposto a assimilao dos ndios cultura dos brancos, com interesses de
dominao, explorao e imposio, remetendo-os a uma posio de dependncia e
de tutelados, sendo a escola um dos instrumentos dessa integrao. Entretanto,
embora este modelo tenha sido modificado a partir da Constituio Federal de 1988
com o reconhecimento desses povos a uma educao especfica, diferenciada e
intercultural, atravs de processos prprios de aprendizagem, ainda vemos inmeras
escolas indgenas obrigadas a seguir padres estabelecidos pela sociedade no-
indgena, desconsiderando a realidade dos povos indgenas e seus conhecimentos.
(PAULA, 1999; MELI, 1999; BORGES, 1999; SILVA & FERREIRA, 2001a; GRUPIONI, 2005; BERGAMASCHI, 2007; SAVIANI, 2008a; BERGAMASCHI &
MEDEIROS, 2010) entre outros.
-
19
O segundo captulo denominado INFNCIA, BRINCADEIRA E EDUCAO: A IMPORTNCIA DO BRINCAR NOS PROCESSOS EDUCATIVOS serviu para orientar a construo do objeto, focalizando aspectos histricos e educacionais relevantes ao contexto estudado. Ajudou rigorosamente na discusso com autores que estudaram e estudam as temticas da infncia e brincadeiras relacionadas
educao e vida em sociedade, servindo para compreender o ser criana em sua
totalidade. Destaca a importncia do brincar no processo educativo, tendo como
pano de fundo a abordagem histrico-cultural que valoriza o outro na interao
social, emergindo novos significados que ampliam a compreenso sobre o brincar.
(LUZURIAGA, 1973; ALTMAN, 2002; DEL PRIORE, 2002; RAMOS, 2002; RIES, 2011; VYGOTSKY, 2007, 2009) entre outros.
O Terceiro captulo O POVO SATER E A CRIANA INDGENA apresenta um breve estudo sobre o lugar da criana nas sociedades indgenas no Brasil.
Discute o contexto scio-histrico do povo Sater-Maw com foco na criana
indgena Sater-Maw. (LORENZ, 1992; TEIXEIRA, 2005; BERNAL, 2009; SOUZA, 2009; ALVAREZ, 2009) entre outros.
O Quarto captulo intitulado PROCEDIMENTOS METODOLGICOS Apresenta o universo e os sujeitos da pesquisa, os critrios de escolha, a relevncia e os objetivos da pesquisa, os problemas de investigao, a proposta metodolgica estudo de caso que serviu de base para a recolha de informaes, bem como a
construo e anlise dos dados. (LDKE e ANDR, 1986) O quinto captulo denominado ANLISE DOS DADOS descrevemos os dados
coletados, interpretando e discutindo teoricamente a partir da literatura estudada, o
que foi vivido na interao social com as crianas, professores e cacique na
comunidade indgena Sah-Ap, atravs dos registros do dirio de campo,
-
20
transcrio dos trechos de entrevistas e fotografias. Assim, elaboramos trs eixos
que nos ajudaram na organizao da anlise dos dados. Primeiro, a escola na aldeia: histria; localizao, estrutura fsica, condies materiais, rotina e
conhecimentos trabalhados. Segundo, a participao da comunidade na escola e os
sentidos da escola para os indgenas. Terceiro, as brincadeiras das crianas na
escola e na aldeia.
Concluimos este trabalho, com o objetivo de, a partir das concepes estudadas, discutir as dimenses acerca do brincar no contexto social indgena, e
propor a possibilidade de ampliao do seu significado no contexto da educao
escolar intercultural, pois identificamos o brincar enquanto uma prtica social das
mais relevantes na infncia e no mundo adulto indgena, o que nos permite apont-
lo enquanto um elemento essencial para o ensino na educao escolar indgena
num movimento compartilhado de apropriao e ressignificao de experincias
mediados pelas duas culturas: a indgena e no indgena. Desta forma, nosso intuito
foi contribuir para o entendimento de vrias concepes historicamente produzidas
sobre a infncia, enfatizando o modo como o processo de interculturalidade se
estabeleceu entre as culturas ocidental e indgena, bem como a reflexo sobre o
fazer pedaggico que envolva o brincar enquanto uma atividade fundamental no
processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianas indgenas.
-
21
CAPTULO I SOBRE A EDUCAO ESCOLAR INDGENA: EM BUSCA DA INTERCULTURALIDADE
Focalizamos neste captulo uma breve reviso de literatura sobre a educao
escolar indgena relacionada a realidade de algumas escolas pesquisadas por
autores que problematizam o processo de escolarizao entre os indgenas.
Ressignificar o aparecimento da escola em suas aldeias ou comunidades
segundo suas necessidades, nos parece ser um ponto fundamental muito discutido
por vrios estudiosos, pelas lideranas e professores indgenas, os quais lutam para
que a escola no desestruture sua cultura e o seu jeito de viver. (TEIXEIRA, 2005) Decorrente dessas reflexes iniciais, a literatura tem nos apontado algumas
contribuies de documentos oficiais e de autores que pesquisam o tema no sentido
de refletirmos sobre a implementao da escola na comunidade indgena, em
particular, os Sater-Maw, foco da pesquisa.
Abordaremos sobre o processo identidrio da constituio histrica da
educao escolar indgena no Brasil, desde a concepo colonialista at os dias
atuais. Neste sentido, podemos afirmar que estamos tratando com conhecimentos
desenvolvidos por sociedades e situaes histricas diferentes, em que as relaes
entre estas duas sociedades esto, efetivamente, ocorrendo numa situao
intercultural marcadas por conflitos e conquistas, tendo a prpria apropriao da
instituio escolar no contexto indgena como exemplo desse fato.
Assim, iniciamos por uma breve reviso da literatura sobre o tema, pontuando
os trabalhos mais recentes, entre aqueles que se ocupam, mais especificamente,
das polticas pblicas para a educao escolar indgena com a realidade das
escolas tomando como foco o brincar.
-
22
Escolhemos iniciar o texto, com um dado estatstico muito interessante sobre o
nmero de alunos matriculados na educao escolar indgena nos ltimos anos,
pontuando um crescimento significativo da demanda de crianas e jovens atendidas nos espaos educacionais, e que podem estar relacionado s inmeras pesquisas
sobre a presena e o significado da escola para o povo indgena.
Atualmente, no Brasil, existem cerca de 230 diferentes povos indgenas
distribudos por quase todos os Estados da federao, totalizando de 400 a 500 mil
ndios. Num pas de mais de 190 milhes de habitantes, a populao indgena se
constitui em torno de 0,2% da populao total do pas. (IBGE, 2010) Numa perspectiva comparativa, para fins de anlise dos processos de
escolarizao das populaes indgenas no pas, diante de uma populao total de
500 mil, os dados do censo escolar de 2006 mostram que a oferta de educao
escolar indgena alcanou o nmero de 174.255 estudantes matriculados na
educao bsica entre o perodo de 2003 a 2006, enquanto que, no censo escolar
de 2010, entre o perodo de 2007 a 2010, o nmero aumentou para 246.793
matrculas, o que corresponde um crescimento de aproximadamente 41%.
(BRASIL/CENSO ESCOLAR/2006, 2010) Dentro desse cenrio, podemos observar que uma das explicaes para a
expanso do nmero de matrculas na educao escolar indgena no pas nos
ltimos anos, est associada garantia dos direitos dos povos indgenas
conquistados a partir da constituio de 1988, com os desdobramentos legais e
institucionais que a ela se seguiram, seguindo a tendncia mundial de universalizar
o direito educao.
Entretanto, pensamos e concordamos com Benzadolli (2011) que este aumento do nmero de matrculas na educao escolar indgena pode estar relacionado aos
-
23
interesses administrativos, financeiros e pedaggicos das secretarias municipais de
educao, no que diz respeito ao fato de que:
Os gestores municipais descobriram rapidamente que quanto mais alunos declarados no Censo Escolar, mais recursos por meio do Fundeb recebiam. Como o controle social sobre o uso dessas verbas mnimo, observou-se a partir de ento, o ingresso de crianas abaixo da idade no ensino fundamental, inchando os nmeros de matrculas. Alm disso, como contratados ou concursados pelas secretarias de educao, os professores podiam ser mais facilmente contidos, tornando o controle social ainda mais difcil. Isso, sem deixar de lado o fato ainda atual de grande parte das escolas indgenas no serem reconhecidas, entrando no Censo Escolar como classes de extenso e, como tal, alm de no receberem os benefcios especficos Educao Escolar Indgena, torna impossvel qualquer controle sobre os recursos que seriam a elas destinados. (Benzadolli, 2011, p.179)
Vemos que o aumento do nmero de alunos indgenas matriculados nas
escolas indgenas, independentemente dos interesses ambguos entre o movimento
social indgena e o governo, ampliou as perspectivas do direito educao entre os
povos indgenas enquanto uma estratgia que poder ser essencial na construo
dos seus projetos por uma educao escolar especfica, deflagrando uma possibilidade de reconhecimento de sua cultura em relao a sociedade circundante,
de carter complementar e no contraditrio. (SILVA e FERREIRA, 2001b) Movidos por esse cenrio de expanso do nmero de alunos nas escolas
indgena e pela complexidade que o tema exige, compreendendo as experincias,
as questes legais e pedaggicas, modificaes ou complementos culturais com a
chegada da educao escolar nas aldeias, focalizaremos o processo histrico que
levou-nos a este contexto.
-
24
1.1 Constituio Histrica da Educao Escolar Indgena no Brasil
No contexto desta tese apresentamos e refletimos sobre processo de
constituio histrica da Educao Escolar Indgena no Brasil, iniciando pelas
primeiras interferncias dos brancos europeus sobre a educao e cultura dos povos
indgenas habitantes no nosso territrio. Pretendemos mostrar gradativamente a
participao do Estado Brasileiro na elaborao e aplicao de polticas
educacionais especficas na ateno aos ndios.
Realizamos uma pesquisa bibliogrfica sobre este percurso, buscando
conhecer, primeiramente, os caminhos que nortearam o processo de colonizao no
Brasil entre os sculos XVI a XVIII, com a presena dos jesutas, que foram os primeiros a sinalizarem a tentativa de aculturao e domnio sobre esse povo.
Posteriormente, explanaremos sobre os missionrios no Brasil Imprio do sculo
XIX, que mantinham a mesma relao de poder na aplicao do modelo jesutico. Finalizaremos com as polticas de Estado dos sculos XX e XXI que,
respectivamente, prescreveram e continuam a formular a estrutura e o
funcionamento das escolas para os ndios, considerando seus direitos educao e
a manuteno de seus hbitos, costumes, tradies, crenas e lnguas a partir de
sua integrao sociedade nacional.
Portanto, esse texto visa dar a ver o dinamismo histrico das relaes sociais
e culturais, que contribuiram para que os povos indgenas dessem um salto
significativo na afirmao de sua identidade, de seus direitos e interesses
registrados na prpria promulgao da Constituio Federal de 1988. Segundo o
texto da Constituio, em seu Ttulo VIII Da Ordem Social Captulo VIII Dos
ndios, Art. 231:
-
25
So reconhecidos aos ndios sua organizao social, costumes, lnguas, crenas e tradies, e os direitos originrios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo Unio demarc-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. (BRASIL, 2005, p.161)
Como afirma o parecer 14/99 do colegiado da Cmara do Ensino Bsico do
Conselho Nacional de Educao sobre o Referencial Curricular Nacional para as
Escolas Indgenas (BRASIL, 2008, p.9):
A introduo da escola para os povos indgenas concomitante ao incio do processo de colonizao do pas. Num primeiro momento a escola aparece como instrumento privilegiado para a catequese, depois para formar mo de obra e, por fim, para incorporar os ndios definitivamente Nao como trabalhadores nacionais desprovidos de atributos tnicos ou culturais.
Ao chegarem a terras brasileiras os portugueses encontraram vrias
comunidades primitivas que viviam numa determinada forma de organizao social,
na qual a educao se desenvolvia em relao prpria condio de vida, ou seja, os ndios tinham uma educao literalmente voltada para sua subsistncia e
manuteno de seus costumes e crenas.
De acordo com relatos de Fernandes (1989) e Ponce (2001), nos sculos XVI e XVII, as tribos indgenas no Brasil eram consideradas comunidades primitivas por
se constiturem de forma coletiva, natural e de subsistncia, como pessoas livres e
de economia comunitria, sem a presena de classes sociais. Todos tinham o direito
sobre a terra.
Nesse perodo, vale ressaltar, que os prprios ndios j eram utilizados como mo de obra para a explorao do pau-brasil numa relao de trabalho em forma de
trocas denominada escambo.
Em 1549, com a instituio do primeiro governo geral designado por Dom Joo
III, na colnia brasileira, tivemos a chegada dos jesutas com a inteno de
-
26
catequizar todos os habitantes que aqui viviam. Estes desenvolveram uma educao
aos nativos a fim de integr-los, instrui-los e domin-los culturalmente como meio de
fomentar a assimilao dos ndios civilizao crist. Segundo Saviani (2008b, p. 29) o processo de colonizao aconteceu em trs momentos historicamente situados: a posse e explorao da terra, a educao enquanto aculturao e a
catequese.
O autor (2008b, 31), comenta que h uma estreita simbiose entre educao e catequese na colonizao do Brasil. Em verdade, a emergncia da educao como
um fenmeno de aculturao tinha na catequese a sua idia-fora.
Cada momento histrico retrata a participao dos portugueses na estrutura
social dos silvcolas, com sua escravizao para o trabalho sobre a terra a ser
explorada; a imposio aos nativos da cultura europia, com prticas de dominao
religiosa e cultural atravs dos encontros da catequese crist em contraposio s
crenas tradicionais dos ndios.
O autor tece uma anlise reflexiva desse tempo histrico acerca do povo
Tupinamb, ressaltando suas caractersticas culturais e de educao em relao s
ideias religiosas e educacionais desenvolvidas pelos jesutas. A nosso ver, tais ideias, refletem as ideias pedaggicas dos dias atuais.
O exemplo dos Tupinambs mostra que, nessas circunstncias, a educao se desenvolvia em ntima articulao com as condies de vida, guiada pelo princpio do aprender fazendo. A educao assumia um sentido comunitrio, sendo os conhecimentos disponveis acessveis a todos; a diviso do trabalho limitava-se a caractersticas de sexo e idade, no se pondo o problema da alienao social do ser humano; no havia diferenciao por especializao, o que tornava igualitria a participao na cultura. A transmisso da cultura dava-se por contatos diretos e pessoais, no sendo requerida a educao sistemtica e o recurso a tcnicas pedaggicas especficas. Nessas condies, as idias educacionais encontravam-se organicamente identificadas com a prtica educativa. (SAVIANI, 2008b, p.444 - 445)
-
27
De modo geral, ordens religiosas como a dos franciscanos, jesutas e outras, atuaram na evangelizao dos povos indgenas por meio das escolas que fundaram
em vrios lugares do Brasil. Como alguns exemplos, temos: Olinda, Cear,
Maranho, Rio de Janeiro, So Paulo e o Amazonas.
No Amazonas, em 1653, com a vinda do padre Antnio Vieira, por
determinao da Coroa Portuguesa, os jesutas atuaram na catequese dos ndios numa poltica indigenista. Essa atuao durou at 1759 com suas expulses pelo
Marqus de Pombal.
Vemos, pois, que um dos principais objetivos da educao colonial foi a evangelizao e cristianizao dos indgenas e, posteriormente a educao geral
dos habitantes. Assim, os jesutas, com apoio literal da Coroa Portuguesa, defenderam a educao dos indgenas com os ensinamentos dos atos de ler e
escrever e, sobretudo, da doutrina crist.
Para exemplificar o plano inicial de instruo dos jesutas, na poca, elaborado por Manuel da Nbrega, recorremos ao que Saviani (2008b, p.43) denomina de Pedagogia Braslica, ocorrido no perodo de 1549 a 1599:
O plano iniciava-se com o aprendizado do portugus (para os indgenas); prosseguia com a doutrina crist, a escola de ler e escrever e, opcionalmente, canto orfenico e msica instrumental; e culminava, de um lado, com o aprendizado profissional e agrcola e, de outro lado, com a gramtica latina.
Contudo, esse plano encontrou resistncia dentro da Ordem Jesutica por no
atender s questes especficas da colnia. Um ponto interessante a salientar sobre
esse plano o que Saviani (2008b) comenta sobre a participao dos indgenas a respeito de uma solicitao para incluir as mulheres indgenas da Bahia no processo
-
28
educativo. O pedido foi negado por determinao da metrpole que controlava todos
os interesses sociais e culturais da colnia.
Com a institucionalizao da pedagogia jesutica ou Ratio Studiorum atravs da aplicao do Plano de Estudos da Companhia de Jesus por Incio de Loyola,
tudo mudou. O plano de Manuel da Nbrega foi superado e, assim, a partir de 1552,
comeava uma nova forma de conduo dos estudos no Brasil, o que aconteceria
at 1759, com a expulso dos jesutas pelo Marqus de Pombal. Nessa vigncia, do novo plano institudo, os povos indgenas foram totalmente excludos da formao
por parte dos jesutas. Saviani (2008, p.56) explana sobre o sentido do iderio pedaggico do Ratio Studiorum:
O plano contido no Ratio era de carter universalista e elitista. Universalista porque se tratava de um plano adotado indistintamente por todos os jesutas, qualquer que fosse o lugar onde estivessem. Elitista porque acabou destinando-se aos filhos dos colonos e excluindo os indgenas, com o que os colgios jesutas se converteram no instrumento de formao da elite colonial.
Portanto, mesmo as reformas pombalinas de 1759 a 1834 com as ideias laicas
advindas do iluminismo e se contrapondo aos pensamentos religiosos, o
aparecimento das aulas rgias1 e estudos nos seminrios e colgios, as tribos
indgenas do Brasil continuaram alheias a uma prtica educativa alinhada,
organizada e sistematizada que permitissem reconhecer sua organizao social,
crenas, tradies e lnguas na interao com os brancos.
Silva e Ferreira (2001a, p.72) nos ensinam que:
1 Ver Saviani (2008, p.108) o qual comenta que as aulas rgias eram sinnimos de escolas que, por
sua vez, se identificavam com determinada cadeira, funcionando, em regra, na casa dos prprios professores. Da as expresses aulas de primeiras letras, aula de latim, de grego, de filosofia etc. Eram aulas avulsas, portanto, os alunos podiam freqentar umas ou outras indiferentemente, pois, alm de avulsas, eram isoladas, isto , sem articulao entre si.
-
29
O primeiro e mais longo momento da histria da educao escolar para os ndios no Brasil do perodo colonial, em que o objetivo das prticas educativas era negar a diversidade dos ndios, ou seja, aniquilar culturas e incorporar mo-de-obra indgena sociedade nacional.
V-se, portanto, que nesse perodo, os indos ainda eram mantidos distantes
de sua condio enquanto seres historicamente situados. Na sociedade nacional
eles participavam to somente nas atividades extrativistas e como de mo de obra
domstica.
Em 1845, o governo imperial regulamentou as misses de catequese e de
civilizao, permitindo vrias aes missionrias, semelhana do modelo jesuta. A inteno era dar continuidade a difuso da doutrina catlica e, consequentemente,
preparar as crianas indgenas e vrios grupos de ndios, oriundos de suas aldeias,
a frequentarem os internatos e escolas dos salesianos, com o propsito de que,
instrudos de alguns ofcios e do aprendizado da leitura e escrita da lngua
portuguesa, pudessem servir nas construes das cidades e praticar um modo de
vida alheio sua cultura.
Silva e Ferreira (2001a, p.73) comentam que:
Nesses internatos, o ensino do portugus era imposto em detrimento do uso das lnguas nativas. Crianas eram separadas das famlias e, fundamentalmente, investia-se na capacitao profissional dos ndios, como forma de produzir mo de obra barata para a populao no ndia circunvizinha. [...] Os ndios tiveram de habitar casas distribudas e organizadas conforme os ideais catlicos, provocando transformaes na maneira como concebiam a si mesmos e o mundo.
Podemos perceber que as relaes de dominao e explorao econmica
por intermdio da integrao dos povos indgenas cultura europia, nos quatros
primeiros sculos, XVI a XIX, uniu doutrinao crist e instruo e,
consequentemente, se deu a supremacia cultural dos brancos europeus e a
desqualificao cultural dos habitantes nativos.
-
30
Do ponto de vista dessa reflexo, podemos afirmar que a luta dos ndios por
direitos humanos e sociais, de forma ainda tmida, e o interesse do Estado Brasileiro
em torn-los integrados sociedade nacional enquanto produtores agrcolas visando
o comrcio e as necessidades do mercado em geral, juntamente com o discurso pela defesa da diversidade lingstica e cultural, fizeram surgir, no comeo do sculo
XX, em 1910, o Servio de Proteo dos ndios SPI numa concepo poltica indigenista e integracionista.
Neste perodo, a princpio poder-se-ia pensar que teramos uma mudana
quanto o respeito aos direitos indgenas na implantao da poltica integracionista.
Entretanto, os discursos e as situaes prticas conceberam outro reverso. Como
est citado no Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indgenas (1998, p. 26-27):
A poltica integracionista comeava por reconhecer a diversidade das sociedades indgenas que havia no pas, mas apontava como ponto de chegada o fim dessa diversidade. Toda diferenciao tnica seria anulada ao se incorporarem os ndios sociedade nacional. Ao se tornarem brasileiros, tinham que abandonar sua prpria identidade. O Estado brasileiro pensava uma escola para os ndios que tornasse possvel a sua homogeneizao. A escola deveria transmitir os conhecimentos valorizados pela sociedade de origem europia. Nesse modelo, as lnguas indgenas, quando consideradas, deviam servir apenas de traduo e como meio para tornar mais fcil a aprendizagem da lngua portuguesa e de contedos valorizados pela cultura nacional.
Uma das maiores dificuldades continuava sendo a falta de densidade poltica
que levassem a mobilizao dos povos indgenas junto sociedade civil para fazer frente s aes integracionistas do Estado.
Alm disso, a poltica integracionista visava formao tcnica dos ndios
para o comrcio atravs do aprendizado de tcnicas primrias para a agricultura e
-
31
atividades domsticas, contribuindo assim, para diminuio de sua presena nas
escolas institudas tambm para a alfabetizao bilngue.
As mobilizaes sociais e polticas dos povos indgenas em meados da
dcada de 70 deram origem mais tarde, na dcada de 80, a criao da primeira
organizao representativa dos ndios do Brasil denominada Unio das Naes
Indgenas UNI, que por sinal, ocorreu em terras Sater-Maw. A partir da UNI
formaram-se inmeras organizaes indgenas regionais que contriburam com o
debate acerca da afirmao dos direitos indgenas sociedade nacional.
Silva e Ferreira (2001b, p.93-94) apontam que a partir de 1981 outros fatores importantes aconteceram na histria da educao escolar para os ndios, tais como
a criao dos ncleos de estudo e pesquisa nas Universidades, o que proporcionou
a elaborao de propostas educacionais e a organizao de eventos tcnico-
cientficos. Segundo as autoras:
Destacam-se o Ncleo de Estudos Indigenistas do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco; o Ncleo de Educao Indgena de Roraima; o Ncleo de Educao Indgena de Mato Grosso; o Ncleo de Estudos e Educao Indgena de Belm; o Seminrio Permanente de Educao e Estudos Indgenas da Universidade Federal do Rio de Janeiro; e o MARI Grupo de Educao Indgena da Universidade de So Paulo.
O exemplo concretizado dessa luta est prescrito na Constituio Brasileira de
1988 Captulo VII Dos ndios, no Art. 231, citada no incio do texto, com o reconhecimento dos direitos indgenas nos campos sociais, culturais e educacionais.
As novas perspectivas oriundas a partir da Constituio de 1988 sobre a
educao escolar diferenciada, especfica, intercultural e bilnge comeam a
instigar a produo de vrios documentos legais organizados pelos rgos do
governo para sua legitimao. Como por exemplo, resumidamente, podemos citar o
-
32
documento da Secretaria de Educao Continuada, Alfabetizao e Diversidade -
Secad (2005, p.45) do Ministrio de Educao intitulado As Leis e a Educao Escolar Indgena que diz o seguinte:
O direito assegurado s sociedades indgenas, no Brasil, a partir da Constituio de 1988, vem sendo regulamentado por meio de vrios textos legais, a comear pelo Decreto 26/91 que retirou a incumbncia exclusiva do rgo indigenista (Funai) de conduzir processos de educao escolar nas sociedades indgenas, atribuindo ao MEC a coordenao das aes, e sua execuo aos estados e municpios. A Portaria Ministerial No. 559/91 aponta a mudana de paradigmas na concepo da educao escolar destinada s comunidades indgenas, quando a educao deixa de ter o carter integracionista preconizado pelo Estatuto do ndio (Lei No.6.001/73) e assume o princpio do reconhecimento da diversidade sociocultural e lingstica do pas e do direito a sua manuteno.
A Constituio Brasileira de 1988 abriu caminhos, na direo de assegurar o
direito educao indgena diferenciada e o respeito a sua condio de ndio na
sociedade nacional. No Ttulo VIII Da Ordem Social Captulo III Seo
Educao em seu art. 210 encontramos: Sero fixados contedos mnimos para o
ensino fundamental, de maneira a assegurar formao bsica comum e respeito aos
valores culturais e artsticos, nacionais e regionais e, ainda no referido artigo, o 2
pargrafo garante que O ensino fundamental regular ser ministrado em lngua
portuguesa, assegurada s comunidades indgenas tambm a utilizao de suas
lnguas maternas e processos prprios de aprendizagem.
As transformaes prescritivas realizadas a partir da constituio de 1988
fizeram com que houvesse diversas mobilizaes junto s organizaes indgenas e sociedade civil gerando encontros, fruns e assembleias, os quais foram decisivos
na formulao de documentos que constavam reivindicaes quanto afirmao
dos seus direitos.
-
33
Acreditamos tambm que esses encontros abriram inmeras possibilidades para se
pensar princpios fundamentais que passariam a nortear a educao escolar
indgena.
Em outubro de 1994, aps as representaes indgenas terem sido
estruturadas em suas regies, aconteceu um grande encontro na cidade de Manaus,
a fim de discutir e elaborar 15 princpios que norteariam as ideias educacionais e
pedaggicas dos povos indgenas, que deveria ser gestada por uma escola indgena
ou uma escola diferenciada para os ndios.
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional promulgada no final
de 1996 garante o reconhecimento dos direitos dos ndios de forma constitucional a
fim de manter sua identidade cultural, o que fortaleceu os povos indgenas em suas
organizaes ao afirmarem princpios que norteariam tacitamente o uso da lngua
materna e os processos prprios de aprendizagem nas escolas indgenas.
De fato, a LDB (1996) no Ttulo V, captulo II Da Educao Bsica Seo III, no seu artigo 32 3 retrata fielmente o que j foi preconizado na Constituio Brasileira de 1988 no seu artigo 210 2, ou seja O ensino fundamental regular ser ministrado em lngua portuguesa, assegurada s comunidades indgenas
tambm a utilizao de suas lnguas maternas e processos prprios de
aprendizagem.
Cada momento histrico vivido na constituio da educao escolar indgena
quanto a legalizao e legitimao de suas prticas educativas levaram vrios
estudiosos do Ministrio da Educao - MEC, professores indgenas convidados,
Secretarias Estaduais e Municipais, Organizaes No-Governamentais a se
reunirem, refletirem e sistematizarem um documento que fundamentasse a
organizao e o desenvolvimento do currculo das escolas indgenas. Este
-
34
documento denominado Referencial curricular nacional para as escolas indgenas
RCNEI do Ministrio da Educao foi publicado em 1998.
A partir do referencial, abriu-se um dilogo denso e consubstanciado das
experincias pedaggicas nas escolas indgenas de todo o Brasil. O que possibilitou
reflexes sobre a prtica, contextualizadas com outros saberes plurais e
heterogneos de lugares distintos. Conhecimentos esses que necessitavam estar ao
alcance de todos os envolvidos, tanto dos anseios e interesses das comunidades
indgenas no campo da formao de educadores reflexivos quanto no
desenvolvimento do currculo. Como consta no RCNEI (1998, p.13) O referencial tem funo formativa e no normativa.
Enfim, o processo de constituio da educao escolar indgena no Brasil, no
seu tempo histrico, aponta para as diversas particularidades dos discursos que
ajudaram a refletir que os povos indgenas so constitudos de conhecimentos, saberes e valores, tantas vezes, desprezados pelo poder hegemnico, de cada
poca, a favor de interesses polticos e econmicos para manuteno do poder
dominante. (SILVA & FERREIRA, 2001) Contudo, hoje, existem movimentos organizados na sociedade indgena que
lutam pela consolidao de polticas pblicas para e com os povos indgenas no
campo educacional e pedaggico. Dessa forma, crescem os direitos coletivos dos
povos indgenas por uma educao escolar alinhada s realidades e necessidades
de cada comunidade. Mas, para isso acontecer preciso regulamentar e legitimar
nos espaos pblicos federal, estadual e municipal programas e projetos que possibilitem o dilogo e a reflexo constante dos processos educativos indgenas.
-
35
1.2 Legislao Indgena e Polticas Pblicas para a Educao Escolar Indgena: Questes Atuais.
Pretendemos aproximar os debates e reflexes atuais sobre a legislao da
educao escolar indgena, localizando os desdobramentos das questes de ordem
legal e institucional com as polticas pblicas.
Iniciamos o estudo, apoiando-nos na Constituio Federal de 1988, a qual se
tornou o marco referencial para os povos indgenas, devido ao fato de que sua
prescrio reconhece os direitos manuteno de suas lnguas, culturas e tradies,
considerando-os enquanto ndios em seus modos prprios de ensinar e educar seus
filhos. (BRASIL, 1988) Bendazolli (2011, p.147) considera a Constituio de 1988 um acontecimento
extraordinariamente importante para os povos indgenas na medida em que ela
delimitou o fim da tutela e o incio do direito manuteno de suas lnguas e cultura,
de se manterem ndios, com suas formas prprias de organizao social.
O fim da tutela ao qual a autora se refere anteriormente, relaciona-se ao modo
como era concebido e conduzido o oferecimento da educao escolar s
comunidades indgenas, desde o sculo XVI, at a promulgao da constituio de
1988. Naquele perodo a educao era to somente pautada na catequizao,
civilizao e integrao dos ndios sociedade nacional atravs dos missionrios
jesutas, dos especialistas do Servio de Proteo aos ndios e Funai. Grupioni (2005, p. 41) nos ajuda a resumir como era concebido o sentido de
escola para os povos indgenas, desde o processo de colonizao no pas at a
promulgao da constituio de 1988:
Num primeiro momento a escola aparece como instrumento privilegiado para a catequese, depois para formar mo-de-obra e, por fim, para
-
36
incorporar os ndios definitivamente Nao como trabalhadores nacionais desprovidos de atributos tnicos ou culturais. A idia de integrao firmou-se na poltica indigenista brasileira, desde o perodo Colonial at o final dos anos 1980. A poltica integracionista comeava por reconhecer a diversidade das sociedades indgenas que havia no pas, mas apontava como ponto de chegada o fim dessa diversidade. Toda diferenciao tnica seria anulada ao se incorporar os ndios sociedade nacional. Ao tornar-se brasileiros, tinham de abandonar sua prpria identidade.
a partir da Constituio de 1988 que a educao escolar indgena conquistou novas estruturas legais e conceituais com desdobramentos que levaram
a elaborao de leis, diretrizes, resolues e pareceres voltados aos direitos das
sociedades indgenas a uma educao escolar especfica, diferenciada e
intercultural, como podemos identificar atravs da Lei de Diretrizes e Bases da
Educao (Lei No. 9.394/96). Em suas Disposies Gerais, nos seus artigos 78 e 79, a lei reconhece literalmente o que foi assegurado s comunidades indgenas na
Constituio de 1988, a saber: o uso de suas lnguas maternas e processos prprios
de aprendizagem. (GRUPIONI, 2002) H que se ressaltar, a LDB explicitou, apenas em 1996, pela primeira vez, a
existncia da Educao Escolar Indgena no seu texto, incluindo-a em suas
disposies gerais e no em um nvel especfico de ensino. O texto evidenciava
possibilidades de desenvolvimento de programas de ensino e pesquisa.
(BENDAZOLLI, 2011) Do ponto de vista dos direitos conquistados pelos ndios a partir da
promulgao da Constituio Federal de 1988 podemos destacar respectivamente o
artigo 231, do Ttulo VIII Da ordem social captulo VIII, que diz So reconhecidos
aos ndios sua organizao social, costumes, lnguas, crenas e tradies, e os
direitos originrios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo
Unio demarc-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
-
37
Alm da Constituio de 1988 que reconhece os direitos dos ndios
manuteno de sua identidade cultural, abriu-se tambm a possibilidade para que a
escola indgena fosse instituda, e que de fato, tal escola pudesse ser um espao de
desenvolvimento tnico e cultural, considerando a prpria cultura indgena quanto o
acesso aos conhecimentos dos valores culturais da sociedade envolvente.
Desta forma, em decorrncia desse aparato constitucional inicial favorvel aos
ndios, a educao escolar indgena adquiriu novas redefinies de marcos jurdicos e institucionais. Com a publicao do Decreto No. 26/1991, ainda no governo
Fernando Collor de Mello oficializou-se a transferncia da coordenao da educao
escolar indgena da Funai para o Ministrio de Educao MEC, levando com isso,
sua execuo para os estados e municpios, nos mesmos formatos como acontecia
com a educao dos no-ndios. (BENDAZZOLI, 2011; GRUPIONI, 2005) Tais mudanas ocorreram com o intuito de ampliar a discusso sobre a
situao da Educao Escolar Indgena, pois as escolas mantidas pela Funai tinham
a ideia da educao dirigida somente para o trabalho. Os projetos elaborados e executados pela Funai nas escolas tinham os objetivos integracionistas de inserir e formar os ndios para a produo de mercadorias, gerao de renda e incluso na
sociedade nacional. (CUNHA, 1990) Outro aspecto a ser ressaltado, subsequente ao decreto anterior, est contido
na Portaria Ministerial No. 559/91, que trouxe modificaes na concepo da
educao escolar para as comunidades indgenas, quando afirmou que ela deixou
de ter o carter integracionista preconizado pelo Estatuto do ndio (Lei 6.001/73). Essa postura integracionista pelo Estado est relacionada aos modos como os
ndios eram incorporados comunidade nacional antes da aprovao da
Constituio de 1988, os quais eram considerados como uma categoria tnica e
-
38
social, historicamente conduzida extino, sem o direito diferena cultural e de
permanecerem enquanto ndios. (GRUPIONI, 2005) Essa Portaria Ministerial se fundamentou no respeito diversidade
sociocultural atravs da manuteno dos costumes, lnguas e organizao social das
comunidades indgenas na criao de sua escola, orientando-as na criao dos
Ncleos de Educao Escolar Indgena, vinculados diretamente s secretarias
estaduais e municipais de Educao. Essas escolas deveriam assegurar a
participao de representantes das entidades indgenas que atuam na rea
educacional, estabelecendo ainda, s condies para a regulamentao das escolas
indgenas quanto ao seu calendrio escolar, metodologia e avaliao de
materiais didticos. (GRUPIONI, 2005) Assim, constatamos que essa portaria reconheceu a Educao Escolar
Indgena enquanto um instrumento para assegurar a autonomia dos povos
indgenas, no que diz respeito organizao das escolas e o desenvolvimento do
ensino relacionado diversidade sociocultural.
Levando-se em conta este contexto e de outros pesquisados, podemos afirmar
que atualmente existe um movimento reivindicatrio muito forte por parte dos povos
indgenas no Brasil por uma educao escolar indgena especfica e diferenciada,
para que, de fato, sua aceitao no sistema pblico de ensino, se legitime. (SILVA, 2001; TASSINARI, 2001; GRUPIONI, 2005; BENDAZOLLI, 2011)
Nessa linha de pensamento, apoiamo-nos em Bendazolli (2011) ao afirmar que os avanos das discusses dos movimentos indgenas junto ao sistema de ensino dos Estados e municpios, por uma escola que atenda aos interesses e direitos dos
povos indgenas esto se ampliando, mas que sua implantao, ainda se apresenta
de forma crtica no Estado do Amazonas. Segundo a autora a poltica federal de
-
39
descentralizao da educao promovida a partir do governo de Fernando Henrique
Cardoso estimulou as Secretarias Estaduais de Educao a delegarem aos
municpios a responsabilidade pela educao escolar indgena.
Este tipo de medida acarretou, de certa forma, a municipalizao da categoria
escola indgena no sistema oficial de ensino no Estado do Amazonas, deixando para
os municpios a responsabilidade de implantar e gerenciar tal categoria. A medida foi
tomada mesmo sabendo da existncia de uma estrutura deficitria para o ensino dos
no-ndios quanto mais para a educao escolar indgena. (BENDAZOLLI, 2011) Atualmente encontra-se em tramitao nas reunies ordinrias do Conselho
Nacional de Educao o projeto de resoluo que institui as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educao Escolar Indgena na Educao Bsica. No
texto das Diretrizes encontramos os princpios norteadores que a amparam
legalmente e podem subsidiar as posies e orientaes na criao dos territrios
etnoeducacionais. Ao mesmo tempo, espera-se que sua efetivao seja assumida por todos os envolvidos na gesto das polticas educacionais indgenas e que
estejam alicerados tanto no protagonismo indgena, quanto na interculturalidade; no dilogo entre os povos indgenas com o sistema de ensino e demais instituies.
Espera-se o aperfeioamento do regime de colaborao entre os entes federados.
(BRASIL, 2012) Assim, no desenrolar desse arcabouo legal que norteia o processo histrico
de estruturao e funcionamento da educao escolar indgena, podemos destacar
dois documentos fundamentais relacionados necessidade de reconhecimento dos
direitos das comunidades indgenas a uma educao escolar especfica e
intercultural, integrada ao seu cotidiano, o Referencial Curricular Nacional para as
Escolas Indgenas (RCNEI) de 1998 e as Diretrizes Curriculares Nacionais
-
40
especficas para essa modalidade de ensino. Ambos aprovados atravs do Parecer
14/99 do Conselho Nacional de Educao.
O RCNEI foi elaborado por especialistas do MEC com a participao dos
indgenas, e tem como objetivo oferecer subsdios aos indgenas para a elaborao de propostas curriculares compostas por disciplinas da base comum do sistema
nacional de ensino, lnguas, matemtica, geografia, histria, cincias, arte e
educao fsica atravs do conhecimento de seus direitos fundamentais, seguido de
vrias experincias pedaggicas existentes no interior das escolas indgenas de
diversas regies do pas. (BRASIL, 1998) Visto deste modo, para Mindlin (2002, p. 37) o RCNEI representa um
importante passo para o dilogo e reflexo acerca dos preceitos legais conjugados com as questes pedaggicas e curriculares nas escolas das aldeias, para que haja, de fato, uma interao entre a realidade dos alunos e professores indgenas com os
conhecimentos de diversas culturas humanas:
O RCNEI, ao pensar na educao como um processo para formar uma sociedade pautada por valores escolhidos com muita reflexo, um achado, simples e complexo ao mesmo tempo, resultado de consultas a muitos setores, especialistas, ndios e professores. O esforo aproximar da realidade e do currculo de cada escola indgena os princpios e direitos assegurados pela CF e pelas leis como vimos avanados. Trata-se de construir modelos e contedos pedaggicos, elaborando a diferena, em vez de impor idias predeterminadas.
Ressaltamos aqui que este referencial contempla somente o ensino
fundamental, delimitando o atendimento s demais sries da educao bsica.
Porm, podemos observar que atualmente h uma mobilizao de ndios e no-
ndios para que se amplie e aprofunde essa abordagem para auxiliar os professores
-
41
na organizao e no desenvolvimento das escolas indgenas em todos os nveis do
ensino bsico.
Com relao s prticas sociais atravs do brincar nas comunidades indgenas
o RCNEI traz uma preocupao bastante interessante, justificando como motivo para implantao de uma proposta de Educao Fsica na escola indgena a questo do
abandono a prpria cultura indgena determinado por outros modos de jogar adquiridos entre os indgenas, devido aos contatos com a sociedade nacional. justamente a realidade que as crianas e os jovens vivem com as novas experincias sociais que poder lev-las a modificar os tipos de jogos que so praticados na educao indgena. (BRASIL, 1998)
Parece-nos que a justificativa apresentada pelo RCNEI no que se refere presena da Educao Fsica na escola indgena est no fato de que o brincar um
processo social vivido cotidianamente na comunidade indgena e, considerando sua
forma e contedo, poder se constituir como um dos elementos fundamentais para
que o professor conhea e compreenda o modo de brincar de cada povo indgena.
Entende-se, portanto, que a brincadeira no pode estar ausente dos espaos
educacionais e, em especial, da Educao Escolar Indgena, por ser uma das
possibilidades para que a escola possa ajudar a enfrentar as possveis situaes de abandono da prpria cultura. (BRASIL, 1998)
Do ponto de vista dessa reflexo, Kishimoto (2010, p. 65) explicita que:
A compreenso das brincadeiras e a recuperao do sentido ldico de cada povo dependem do modo de vida de cada agrupamento humano, em seu tempo e espao. Da emerge a imagem que se faz da criana, seus valores, seus costumes e suas brincadeiras.
-
42
Dada a dimenso do RCNEI frente aos gestores, professores e tcnicos das
secretarias de educao que desenvolvem as polticas pblicas para a Educao
Escolar Indgena na Educao Bsica, acreditamos que este documento pode ser
caracterizado como um ponto de partida para discusses e reflexes. Temas densos
foram apresentados de forma superficial, sem aprofundamento, se limitando a dar
nfase aos aspectos gerais que podem estar relacionados aos modos de vida dos
indgenas, e vice-versa.
Como resultado desses aspectos gerais, podem surgir contextos de tenso
entre conhecimentos indgenas e ocidentais, que venham a influenciar algumas
ideias errneas sobre essa relao entre a cultura branca e indgena. Muitos ainda
pensam que quando os povos indgenas modificam alguns aspectos no seu modo
de viver tornam-se aculturados, e no so mais autnticos. Acreditam que no
podem mais reivindicar os direitos fundamentais a sua condio de ndio, amparados
legalmente por leis, decretos, pareceres e resolues. (BRASIL, 1998) Entre os documentos que amparam legalmente a educao escolar dos povos
indgenas, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educao Escolar Indgena,
aprovada por meio do Parecer 14/99 da Cmara Bsica do CNE, e normatizadas
pela Resoluo 03/99, estabelecem a fundamentao da educao escolar
indgena, considerando a estruturao e organizao da escola, bem como o seu
funcionamento. Institui as diretrizes curriculares do ensino intercultural e a afirmao
da cultura e diversidade tnica dos povos indgenas.
Esse texto legal considera de suma importncia a participao das
comunidades indgenas na elaborao de projetos pedaggicos, regimentos, calendrios, currculos e materiais didtico-pedaggicos especficos. Garantem aos
-
43
professores indgenas a prioridade da docncia nas escolas das aldeias.
(GRUPIONI, 2005; BENDAZOLLI, 2011) Esses ordenamentos jurdicos explicitam objetivamente as atribuies da
Unio, Estados e Municpios, cabendo instncia federal legislar, elaborar diretrizes,
dar suporte tcnico e aporte financeiro aos sistemas de ensino dos Estados no
desenvolvimento da educao escolar indgena, na formao de professores e
preparao de material didtico especfico.
O problema na implementao de uma educao escolar indgena que atenda
aos princpios e normas estabelecidas pelas legislaes especficas no est
associado falta de recursos por parte do governo federal, aos estados e
municpios, mas a m vontade poltica. H que se considerar que existem programas
do MEC e FNDE destinados s escolas indgenas, os quais possibilitam o
atendimento atravs dos programas de Merenda Escolar, repasse do Fundeb,
programa Dinheiro Direto na Escola e Programa Nacional do Livro Didtico. H,
tambm, e mais o PAR Indgena voltado formao de professores indgenas,
construo de escolas, desenvolvimento do ensino e elaborao de material didtico
especfico aos povos indgenas, os quais so pouco ou quase nada destinados s
escolas das aldeias. (BENDAZOLLI, 2011) Como consequncia dessa realidade, Bendazolli (2011, p.179) nos aponta
inmeras reclamaes por parte dos indgenas na conduo de sua educao
escolar, o que nos parece serem os mesmos da escola municipal indgena Tupan-
Ypor, na aldeia Sah-Ap:
As queixas dos indgenas quanto a falta de atendimento atravs desses programas sempre foi uma constante: falta de merenda ou sua entrega espordica, atrasada e com produtos de m qualidade que j chegavam vencidos; contrato de professores que previa apenas o pagamento dos meses de aula, sem frias ou recesso; escolas que funcionavam em
-
44
moradias, casas de farinha e outros locais improvisados; imposio de projetos pedaggicos e calendrios vlidos para as escolas das cidades; entrega de poucos livros e quase sempre inadequados aos alunos indgenas.
Parece-nos, portanto, que os entraves apresentados na constituio das
escolas indgenas, em grande parte do pas so similares, a falta de vontade poltica
evidente na consolidao da Educao Escolar Indgena nos sistemas de ensino,
pois as reclamaes por parte dos professores que trabalham com a escola nas
aldeias so frequentes, sem que haja mudanas concretas para reverter tal realidade.
Atualmente, existe uma presso muito forte por parte dos movimentos
indgenas no Estado do Amazonas para que o Conselho Estadual de Educao
Escolar Indgena (CEEI/AM) se transforme em rgo normativo, desvinculando-se do Conselho Estadual de Educao (CEE/AM). Essa separao seria uma postura mais firme junto ao governo do Estado, tendo em vista a necessidade de cumprir com mais rigor os princpios e normas estabelecidas nas legislaes para Educao
Escolar Indgena. Ainda que o aparato legal garanta o respeito especificidade da
educao escolar indgena, os estados e municpios continuam a infringir as leis,
justificando-se pelo princpio de autonomia dos entes federados. (BENDAZOLLI, 2011)
O que observamos no debate atual sobre a educao escolar indgena no
Brasil, o embate que ocorre entre o movimento indgena pela concretizao da
legislao especfica apresentada pelo MEC, com as limitaes das aes que os
Sistemas Estaduais de Ensino desenvolvem pela educao escolar indgena. O
movimento indgena considera que deve haver um tratamento diferenciado de
escolarizao, j os sistemas Estados e Municpios necessitam, ainda, se estruturar
-
45
para cumprir essas prescries estabelecidas por leis, decretos, resolues e
pareceres. Precisam organizar-se com um corpo tcnico qualificado que desenvolva
as aes necessrias que, de fato, possam fortalecer a autonomia dos povos
indgenas.
Cabe lembrar que o projeto de resoluo sobre as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educao Escolar Indgena na Educao Bsica, j foram aprovadas e homologadas pelo Conselho Nacional de Educao atravs do Parecer
CNE/CEB No. 13/2012.
As diretrizes propem uma mudana significativa quanto universalizao da
escolarizao para os povos indgenas, deixando de se limitar to somente ao
ensino fundamental, como preconizava o Plano Nacional de Educao (2001-2010 Lei No. 10.172/01). O documento entende a necessidade de estender a escolarizao indgena por toda educao bsica: da educao infantil ao ensino
mdio, e nas modalidades de ensino: educao especial, educao de jovens e adultos (EJA) e educao profissional e tecnolgica.
Percebe-se, portanto, no plano terico, atravs dos movimentos indgenas,
sociedade civil e governo federal o quanto educao escolar indgena est sendo
amparada legalmente, o que abre prerrogativas suficientes para a construo de
instrumentos adequados para que os Estados e Municpios possam transformar em
polticas pblicas todo esse aparato legal.
Contraditoriamente, percebe-se, na prtica, o distanciamento de sua real
concretizao por parte dos Estados e municpios, sua implementao segue os
mesmos caminhos normatizados e burocratizados da administrao da educao
escolar no pas, ou seja, uma mquina mal preparada para o trato da diferena. (SILVA,1998; BENDAZOLLI, 2011)
-
46
1.3 As escolas dos povos indgenas
O incio do ano de 2001 representou um marco significativo na rea da
educao escolar indgena. Vrias obras desenvolvidas e organizadas pelo grupo de
Educao Indgena, do Departamento de Antropologia da USP, constitudo de uma
equipe multidisciplinar de pedagogos, antroplogos e historiadores, publicam trs
obras que se tornaram referncias em vrios trabalhos de dissertaes e teses no
Brasil: Prticas Pedaggicas na Escola Indgena, organizada por Silva e Ferreira
(2001), Antropologia, Histria e Educao, organizada por Silva e Ferreira (2001) e Crianas Indgenas: Ensaios Antropolgicos, organizada por Silva, Macedo, Nunes
(2002). So coletneas de textos decorrentes de pesquisas bibliogrficas e de campo,
que abordam a construo de uma educao escolar indgena respaldada pelos
direitos conquistados, considerando as especificidades de cada povo indgena de
vrias regies do pas.
Em linhas gerais, as autoras baseiam-se num grande nmero de experincias
escolares concretas, envolvendo no s a definio de currculos e prticas
pedaggicas locais, mas tambm toda uma ampla soma de projetos e cursos de formao de professores indgenas. (SILVA e FERREIRA, 2001; SILVA, MACEDO e NUNES, 2002)
Assim, selecionamos um cenrio deste livro que nos interessa discutir aqui.
Relacionados tese de Silva (2002, p. 38) encontramos uma importante experincia com dois povos indgenas, autodenominados A`Uwe - Xavante e Xerente de Mato
Grosso, no que se refere ao modo de vida das crianas, pequenos xams, com a
educao escolar indgena nas aldeias.
-
47
Nesta pequena escola rural perdida no meio do Brasil, construda nos moldes tradicionais que permitem ao mestre vigiar e punir, tempo e espao pr-definidos no so suficientes para impedir a brincadeira inusitada para a hora do recreio: o calor convida, o banho no crrego inevitvel. Crianas molhadas voltam aos lpis e cadernos no espao regrado das carteiras escolares.
Essa experincia relatada pela pesquisadora nos mostra que as crianas
A`uwe na educao escolar modificaram seu modo de estar na escola quando
tiveram a condio do tempo do recreio, da liberdade de se movimentar nos espaos
da aldeia, o que lhes peculiar, e que essas crianas nos ajudaram a refletir sobre este importante momento de independncia e de exerccio de seu modo prprio de
aprender vivendo, experimentando, e que seus movimentos podem se constituir
instrumentos de aprendizado no processo de escolarizao. (SILVA, 2002) Assumimos a experincia desse lugar refletindo com Silva (2002, p.57):
possvel superar a contradio que existe entre a escola, instituio
homogeneizadora por excelncia, e as especificidades das populaes indgenas,
extremamente diversificadas em todos os sentidos?.
Decorrente dessa reflexo, entendemos que talvez a questo da dimenso da
interculturalidade no cotidiano da escola indgena possa estar ligada questo do
conhecimento, o que pode ser entendida como uma das condies necessrias para
que haja um espao que reflita a vida dos povos indgenas na prtica pedaggica, o que acontece na sala de aula retrata fatos vivenciados pelas crianas, uma vez que
no se distanciam do que est acontecendo na vida da comunidade, isto , essas
experincias com as crianas devem ser pensadas nos processos educativos de
cada povo.
Assim, identificamos em vrias literaturas que o movimento por uma educao
escolar no seio de suas comunidades indgenas no Brasil pode ser traduzido como
-
48
sendo uma das possibilidades que a escola encontre para que possa ser um lugar
onde se desenvolva densamente o sentido de interculturalidade entre duas
sociedades: indgena e no indgena. Essa perspectiva abriria espao para um
dilogo intercultural, com troca de conhecimentos, configurando-se como um espao
de encontro e de interao entre duas concepes de mundo. (SILVA & FERREIRA, 2001; TASSINARI, 2001a; BERGAMASCHI & MEDEIROS, 2010)
Bergamaschi & Medeiros (2010, p. 61) identificam trs possibilidades interpretativas, no que se refere ao lugar da interculturalidade na escola:
Veem-na como uma necessidade para o dilogo intercultural, na medida em que preciso conhecer a sociedade nacional para com ela se relacionar. Mas, tambm, veem-na como um risco ao modo de vida tradicional, uma invaso dentro de sua prpria terra, j que, a escola uma instituio alheia ao modo de vida dos povos indgenas e historicamente tem causado danos aos processos prprios de educao e ao uso de seus idiomas [...]. E por fim, veem-na como um modo de transformar a escola num processo de apropriao, ressignificao e de recriao, evidenciando assim a possibilidade de incorporar aspectos da cultura do outro sem perder os elementos constitutivos da cultura indgena.
Observamos nos estudos de Meli (1999) que o termo alteridade est fortemente inserido nos seus trabalhos a partir das experincias com o povo Arawk
que habita a regio oeste do Estado de Mato Grosso. O autor destaca que um dos
principais mtodos indgenas a participao da comunidade na ao pedaggica.
precisamente a participao da comunidade que assegura a alteridade desse povo.
Ele afirma que esses ndios nunca se mostraram dissociados de sua cultura,
mesmo perante a escola, continuam mantendo estratgias prprias na conduo do
seu modo de vida, no s mantendo a diferena entre as culturas, mas tambm
mostrando que a alteridade indgena, enquanto ao pedaggica, poder servir de
-
49
exemplo sociedade nacional atravs de um mundo mais humano e de pessoas
livres na sua alteridade e em suas diferenas. Porm, destaca que tal questo pode
estar ameaada com a presena da escola em diversas aldeias no pas, pois essa
aproximao com os novos conhecimentos advindos da escola seria entendida, para
alguns, como um dos fatores decisivos de generalizao e uniformidade. (MELI, 1999)
Dessa maneira, assumimos e concordamos com o autor, que a chegada da
escola nas comunidades indgenas poder, em muitos casos, ser compreendida
como uma ao pedaggica que no descaracterize o modo como se transmite a
educao tradicional de cada um dos povos indgenas; e que essa alteridade, de
fato, no desaparea mediante a aproximao com o sistema de ensino nacional.
Acreditamos na escola como um lugar onde professores e os movimentos indgenas
consigam debater e defender seus direitos sobre a terra, contra a discriminao e a
falta de respeito, pois torna-se necessrio que os professores e alunos possam se
posicionar de maneira diferente diante do Estado e da sociedade circundante,
devido aos conhecimentos advindos da escola. (MELI, 1999) Por outro lado, a conquista por escolas indgenas nas aldeias poder levar ao
esvaziamento da ao pedaggica tradicional para a alteridade devido ao fato de
que, em geral, se encontram nos livros e cartilhas de lngua materna um currculo
adaptado realidade indgena. Tambm h que se considerar a contratao de
professores indgenas por parte dos Estados e municpios, caso contrrio
acontecer uma fragmentao na relao entre a escola e a cultura indgena.
(MELI, 1999) Segundo o autor:
-
50
A lngua com palavras indgenas pode no ser indgena; a adaptao de currculos e contedos pode ficar reduzida ao campo do folclrico e do bvio; os professores podem ser cooptados pelo Estado e pelas instituies, com efeitos mais destrutivos, precisamente porque parece que j foram satisfeitas as demandas e as exigncias dos indgenas. (Meli ,1999, p. 14)
Esta constatao fica clara no bojo de outras literaturas consultadas, tais como: o texto de Silva & Monteiro (2010) intitulado: Escolarizao da Educao Indgena entre os Sater-Maw: O war e a Epistemologia Escolar e o livro coordenado por
Teixeira (2005) denominado: Sater-Maw retrato de um povo indgena, principalmente no que se refere ao processo de escolarizao da educao indgena
entre os Sater-Maw, localizados esquerda do rio Waikurapa, no baixo
Amazonas, prximo da cidade de Parintins. Em especial destacam-se as
comunidades de So Francisco de Assis, Nova Alegria e Vila Batista, por considerar
suas formas tradicionais de conhecer, de registrar e de produzir a vida vm sofrendo
impactos preocupantes quanto chegada da educao escolar nos seus territrios e
redondezas.
Constatamos nos estudos que um dos fatores impactantes no processo de
negao da prpria identidade Sater-Maw est associado ao processo migratrio
que vem ocorrendo nas aldeias, pois, na grande maioria das escolas indgenas, no
h o ensino fundamental e mdio completos, fazendo com que os alunos indgenas,
busquem outros lugares distantes de suas origens, tais como a cidade de Parintins,
Barreirinha, Maus, e at mesmo Manaus, para a continuao dos estudos.
(TEIXEIRA, 2005; SILVA & MONTEIRO, 2010) Identificamos que a expanso do processo de escolarizao entre os povos
indgenas no Brasil tm provocado profundas mudanas na vida das comunidades,
nas dimenses social, poltica e cultural. (GOMES, 2006)
-
51
A prescrio relativa ao direito criao e aos parmetros de funcionamento e
organizao das atividades didticas referentes s escolas indgenas no Brasil est
amparada legalmente pelos textos da Constituio Federal de 1988, no ttulo VIII,
captulo VIII, art. 231; da Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional de 1996,
no ttulo V, captulo II, artigo 32 3, ainda no captulo V Da Educao Especial, atravs do ttulo III, artigo 78; do Referencial Curricular Nacional para as Escolas
Indgenas, de 1998; do documento da Secretaria de Educao Continuada,
Alfabetizao e Diversidade Secad, de 2005, do Ministrio da Educao intitulado
As Leis e a Educao Indgena.
Neste ltimo documento, o sentido legal procura garantir as exigncias e as
caractersticas de cada povo indgena em torno da insero do espao escolar no
contexto da rea indgena, sem que provoque profundas mudanas na vida das
comunidades, sobretudo, na educao tradicional indgena, especialmente na
utilizao da lngua materna e aos processos prprios de aprendizagem.
Refletindo sobre essa questo, podemos apontar dois sentidos em relao
entrada da escola no contexto indgena: uma por parte do Estado nacional brasileiro,
juntamente, com os pensamentos das lideranas e professores indgenas. Essa frente considera que a educao escolar poder ajudar a melhorar a condio de vida das pessoas, essencialmente quando se trata da construo da cidadania em
um Estado democrtico, h interesse de que os direitos constitucionais possam ser
refletidos, discutidos e assegurados de forma coletiva para as comunidades
indgenas.
O outro sentido est mais atrelado s aes pedaggicas de professores,
caciques e outras lideranas num movimento de apropriao e transformao da
escola em prol de suas prticas sociais resultantes da dinmica das relaes sociais
-
52
historicamente to disseminadas com o mundo no-indgena que, ainda, so e
fazem parte desse processo civilizatrio entre as duas culturas.
fato que, a Lei de Diretrizes e Bases da Educao 9394/96 permitiu a construo de novas propostas pedaggicas de ensino para as sociedades
indgenas, reconhecendo suas especificidades.
Grupioni destaca (2005, p. 23 e 24):
Artigo 32 3 - O ensino fundamental regular ser ministrado em lngua portuguesa, assegurada s comunidades indgenas a utilizao de suas lnguas maternas e processos prprios de aprendizagem. Art. 78 I proporcionar aos ndios, [...] a recuperao de suas memrias histricas; a reafirmao de suas identidades tnicas; a valorizao de suas lnguas e cincias; II garantir [...], o acesso s informaes, conhecimentos tcnicos e cientficos [...]. Art. 79 da educao intercultural [...] fortalecer as prticas scio-culturais [...],manter programas de formao pessoal [...], desenvolver currculos e programas especficos [...], elaborar e publicar material didtico especfico e diferenciado.
Segundo Brostolin (2003), o cenrio que se apresenta nas escolas indgenas, mesmo com as condies prescritas nas legislaes constitudas sobre os direitos
sociais e educacionais dos povos indgenas, aparece num modelo de educao
homogeneizadora, dificultando o dilogo intercultural no interior da escola.
Assim, concordamos com o autor, quando afirma:
A realidade, como se apresenta hoje na maioria das aldeias, de uma escola que nada tem de diferenciada, e sim de modeladora e uniformizadora. As escolas situadas nas aldeias indgenas seguem programas estabelecidos para a educao bsica geral. Se tais programas j so deficitrios para as crianas da prpria sociedade nacional envolvente,quanto mais para uma etnia diferenciada em que seus problemas ficam margem. O modelo de educao escolar oferecido, ainda se centra na aculturao. (BROSTOLIN, 2003,p.98)
-
53
Visto desta maneira, para Silva e Monteiro (2010) a escola apresentada aos indgenas, em suas comunidades, parece ser uma experincia acompanhada por um
estranhamento, oposio, abstrao, sem vnculos com o universo dos afazeres
indgenas. A escola aparece de modo explcito como uma mquina ou aparelho no
seio da comunidade.
Neste sentido, h a necessidade de olharmos a criana na escola indgena no
to somente em sua condio de aluno, mas consider-la em sua vida social, pois
elas possuem liberdade e autonomia nas sociedades indgenas. Essa caracterstica
recorrente nos estudos realizados sobre a infncia indgena. (COHN, 2005; NUNES, 2002; TASSINARI, 2009).
Isto posto, pensamos e concordamos com Tassinari (2009, p. 9) quando argumenta que a idia refletir sobre as formas como essa liberdade e autonomia
se concretizam em situaes especficas de interao e aprendizagem.
Quando a discusso sobre o processo de escolarizao das crianas Sater-
Maw se apresenta no seio das comunidades indgenas, acreditamos que h
necessidade de reconhecer que sua participao na escola deve ocorrer num
contexto amplo de comunicao de conhecimentos e saberes p