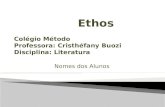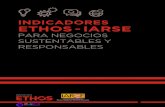Ethos no discurso didático (2010)
-
Upload
luanamachado -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Ethos no discurso didático (2010)

IDA LUCIA MACHADO
RENATO DE MELLO
(Orgs)
ANÁLISES
DO DISCURSO
HOJE volume 3
2010
ETHOS NO DISCURSO DIDÁTICO: COERÊNCIA E PLURISSIGNIFICAÇÃO
MARIA APARECIDA LINO PAULIUKONIS
UFRJ
(SEGUNDO A TEMÁTICA GERAL PROPOSTA, ESTE ARTIGO OBJETIVA FOCALIZAR OS PROCESSOS DE
LEITURA E DE PRODUÇÃO TEXTUAL, A PARTIR DE CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE ETHOS E DO
CONCEITO DO ATO DE LER COMO "A METONÍMIA DA VONTADE DE ENTENDER O MUNDO E A ATITUDE DE
ESCREVER, A METONÍMIA DA PRETENSÃO LEGÍTIMA E TRANSCENDENTE DE TRANSFORMAR O MUNDO”,
CONFORME PROPÕE GUSTAVO BERNARDO EM REDAÇÃO INQUIETA (1985, P.291).
Dada a temática geral, “ethos no discurso didático: coerência e plurissignificação”, parte-se aqui da
definição do ato de ler como “a metonímia da vontade de entender o mundo e a atitude de escrever,
a metonímia da pretensão legítima e transcendente de transformar o mundo”, conforme propõe
Gustavo Bernardo em Redação Inquieta (1985, p.291). Meu objetivo é focalizar os processos de
leitura e de produção textual, segundo o conceito de Ethos dos enunciadores, um dos temas que

norteia as temáticas deste Simpósio.
A intervenção terá três momentos: primeiramente, propõe-se situar a questão do didático face a
novos teorias que vêem o texto como discurso/ enunciação, depois, analisar o tratamento que a
Escola tradicional tem dedicado ao assunto e, finalmente, verificar como algumas recentes teorias e
perspectivas da Análise do Discurso podem contribuir para um novo conceito de ensino de leitura e
de produção de texto e, consequentemente, para uma mudança em relação ao à construção do ethos
dos enunciadores.
TEXTO E DISCURSO: OPERAÇÕES DISCURSIVAS NA ENUNCIAÇÃO
A temática escolhida permite iniciar pelo enfoque do texto como discurso e tem como intuito
demonstrar como uma perspectiva discursiva sobre os gêneros textuais pode oferecer propostas
que vão auxiliar a discussão mais em evidência no meio didático: é possível ensinar a ler e
interpretar textos de forma mais eficiente? Ou, pode-se resolver o problema do baixo desempenho
de alunos de vários níveis, nos vestibulares e em avaliações de leitura, em escala mundial, como
ocorreu em fatos recentes e amplamente divulgados na imprensa? Segundo pesquisas, apenas vinte
e cinco por cento dos escolarizados são capazes de apreender ou entender o que lêem e quase todo
o restante coloca-se na categoria de analfabetos funcionais, eufemismo usado para rotular aqueles
que não conseguem ler ou produzir um texto de relativa complexidade. Preencher, portanto, essa
lacuna da escola, em favor de uma prática mais ediciente de leitura e produção de textos ainda é um
desafio para os profissionais da Educação. No meio educacional, apesar de tantas obras que
analisam o problema, ainda se nota uma preocupação dos professores com o acúmulo de teorias e
sua pouca funcionalidade.
Aceita-se que, há bastante tempo, decretou-se a falência de uma proposta de ensino tradicionalista,
fruto de má interpretação da obra de Saussure que resultou numa prática de ensino da “língua em si
mesma e por si mesma” e , nesse sentido, parece ter razão Robert de Beaugrande (1997, p.6), ao
dizer que “quanto mais a linguística chamada pura separa a descrição da língua do conhecimento
de mundo, dos falantes e da sociedade onde vivem, tanto menores serão os progressos significativos
e relevantes na explicação até mesmo dos fatos tidos como “puramente linguísticos”.
Em função disso, pode-se afirmar, como já preconizaram funcionalistas, cognitivistas e analistas do
discurso que, dos dois sistemas de regras envolvidas na organização das línguas naturais, enquanto
um é de ordem fono-morfossintática, o outro é de ordem semântico-pragmática e que ambos se

completam; a atenção a esse fato implica modificações nas práticas pedagógicas.
Quando hoje se propõem novas metodologias para a interpretação de textos, assume-se que não há
lugar para um ensino produtivo de língua, se estiver descontextualizado, fora do texto, como se nota
em recorrente prática escolar tradicional, quando insiste em uma descrição metalinguística de
classificação e reconhecimento das partes constituintes da gramática da frase.
O ponto de vista adotado por uma análise comunicativa do texto como discurso parte da
problematização do sentido de um texto, que consiste em compreender e analisar o "significado
textual" em função não só dos referentes reconstruídos discursivamente, como da identidade dos
contratantes do ato comunicativo e do poder do projeto de influência ou da ação ilocucionária do
sujeito enunciador sobre o sujeito interpretante/ receptor. Ou seja, o significado textual fundamenta-
se em vários fatores, que podem se reduzir a dois principais: o "contrato de comunicação" que
existe entre emissor e receptor e o "projeto de fala" do emissor, e ambos necessitam ser
reconhecidos e acatados pelo receptor. (cf. Charaudeau, 2007).
Pesquisa realizada por Carneiro (2003), em Tese de doutoramento na USP, intitulada A
Interpretação interpretada, analisou coleções de livros didáticos e o enfoque textual dado,
demonstrando que nos livros “há uma inconsciência ou incompreensão mesma, quanto a um
conceito mais atual de texto e ao seu funcionamento como mecanismo produtor de sentido”.
Segundo o Autor, esse conservadorismo ou essa resistência ao modo de tratar o texto
diferentemente, deve-se a uma sistemática de ensino tradicional já aceita sem discussão e, por isso,
mais cômoda, e ao desconhecimento das novas teorias do texto e do discurso que ainda não
chegaram à prática do magistério, apesar de publicações relevantes a respeito.
Constatada a grande influência do livro didático no meio dos professores, destaca-se a
responsabilidade desses Autores na renovação ou não do ensino. Uma mudança na metodologia e
nos conteúdos dos livros didáticos contribuiria de forma mais sistemática, para uma renovação de
métodos de ensino. A conclusão de Carneiro é de que essas mudanças estão vindo devagar, mas de
forma definitiva, sobretudo após novas diretrizes dos PCNs, adotadas nos formatos de exames
vestibulares e provas de ENEM.
Há um fato recente que também endossa essas conclusões: refere-se às reações positivas de
professores ao Projeto de Análise do livro didático – PNLD e ao Programa Nacional do Livro do
Ensino Médio- PNLEM. A última versão -PNLEM/2006, de Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira, foi feita segundo convênio entre o MEC/UFRJ, - Projeto de que fomos a coordenadora,-

cujo catálogo com as obras aprovadas foi publicado e apresentdo às Escolas em 2008. Na ocasião
da análise, verificou-se a dificuldade que alguns livros apresentaram, quando tentavam passar do
ensino tradicional de descrição da Gramática da Frase, para propostas de aplicação da Gramática ao
Texto. Apesar de exceções, é claro, muitos dos livros ainda mantêm uma atitude tradicional: os
conteúdos gramaticias são apresentados separadamente, como um apêndice ao final dos volumes, e
os exercícios dos textos objetivam exemplificar casos de prescrição ou descrição por meio de frases
isoladas do contexto; e mesmo quando o s exemplos são retirados do texto servem meramente de
pretexto, para comprovações e análises metalinguísticas. O que se nota é que há ainda um longo
caminho para se chegar a uma sistematização e a uma compreensão do processo textual como um
todo.
Sabemos, também, que o problema não se resume apenas em substituir ou propor uma nova
nomenclatura, - já fizeram isso com a introdução das pesquisas linguísticas em relação à Gramática
dita tradicional e, apesar da relevância das conquistas das várias áreas da Linguística, os resultados
não foram suficientes para a melhoria do ensino, como os otimistas pensavam. Muitas vezes a
simples adoção de nomenclatura de novos conceitos em si mesmos só serviu para confundir mais os
professores, acostumados a uma prática didática tida como eficiente. Não se trata de substituir uma
teoria gramatical por outra, mas de compreender e aplicar novos posicionamentos, que já se
tornaram consenso e que permitem uma outra visão sobre língua, linguagem e texto.
Dentre as várias teorias sobre o Discurso, consideramos que a proposta da Teoria Semiolinguística
de Patrick Charaudeau é um desses acertos, cuja aplicabilidade pode resultar bastante produtiva
para o ensino da leitura, porque busca levar em consideração os meios linguísticos de expressão, - a
forma como portadora de sentido- segundo uma gramática de base semântica (cf. Grammaire du
sens (1992) e Linguagem e discurso: modos de organização (2008)), - a partir do uso na interação
social, em função de um projeto de influência e de intenção dos interagentes. Também contribui o
fato de que a nomenclatura proposta por Charaudeau está bem próxima da tradicional, utilizada nos
meios didáticos, o que pode levar à aceitação dos conceitos e da metalinguagem por parte dos
professores.
Por outro lado, depois do aparecimento e das discussões propostas pelos PCNs, está havendo uma
transição lenta e gradativa mas efetiva para uma nova abordagem linguístico-discursiva dos
conteúdos de textos de diversos gêneros que passaram a fazer parte do cotidiano dos alunos.
Somado a isso, há um desejo por parte dos professores por mudanças, no sentido de superar a
concepção tradicional que se estratificou num tipo de ensino que enfatiza ainda o estudo da

metalinguagem e da prescrição gramatical, em si mesmas, em detrimento da compreensão dos
processos de como os sentidos são criados e reconstituídos nos textos interativamente. Dessa forma,
por meio de uma visão discursiva e comunicativa dos fatos da linguagem é possível que cheguemos
a resultados mais eficientes no processo de leitura e de interpretação textuais.
O usuário comum sabe que o que importa mesmo são os sentidos que circulam na sociedade e que
se buscam por meio de vários métodos; todavia sentidos não são entidades em si mesmas, estão
materializados nos enunciados linguísticos, organizados em textos; assumir a tarefa de sua
decodificação significa resolver operações epilinguísticas e metaenunciativas, para isso há que se
dar mais atenção ao estudo dos mecanismos de construção dessas unidades de comunicação, quer
em níveis frasais, quer em níveis textuais. Isso significa reconhecer que o sentido necessita de uma
abordagem discursiva por meio de operações discursivas que podem descodificá-lo.
Partindo-se da hipótese de que a linguagem firma-se não só como meio informativo, mas sobretudo
como uma forma de atuação política entre os homens, o texto, como resultado do processo
interativo e de influência, passa a se constituir, assim, como um mecanismo dinâmico de forte
cunho argumentativo-persuasivo. Essa noção de texto como discurso, portanto, prevê que ele é o
resultado de uma operação estratégica produzida por um enunciador e descodificada como tal por
um leitor, em três níveis: o referencial, que diz respeito ao conteúdo, o situacional, referente aos
entornos sociais e o pragmático, relativo ao processo interacional. Ler torna-se, desse modo, um
trabalho de desvendamento ou interpretação de operações linguístico-discursivas utilizadas na e
pela construção textual.
Sabe-se hoje que, dentre tantos desafios, a Escola busca delimitar o conteúdo e a metodologia mais
adequada para o ensino da leitura/interpretação e da produção textual. Tradicionalmente o ensino de
leitura e de produção do texto sempre se deparou com muitas dificuldades; em primeiro lugar,
porque não apresenta um conteúdo programático definido, como existe, por exemplo, para a
sintaxe, a morfologia e a fonologia, temas da Gramática da Frase e, em segundo, também pelo
espaço menor de tempo dedicado a ele pelos professores, sobrecarregados pelos extensos
programas, centrados em uma metalinguagem de classificação e de reconhecimento dos elementos
gramaticais.
Em pesquisa realizada, Neves (1990, p.13) concluiu que mais de setenta por cento do conteúdo das
aulas de português do ensino fundamental e médio referem-se a descrições dos temas da morfologia
e da sintaxe tradicionais: as tradicionais classes de palavras, com as conhecidas listas de paradigma
das conjugações e o reconhecimento das funções sintáticas, sendo que os exercícios sobre

areconhecimento de classes de palavras e de funções sintáticas correspondem a setenta e cinco por
cento do total das aulas.
Além dessa questão metodológica, colocam-se vários outros problemas, alguns relativos à real
função do ensino da nomenclatura da Gramática da frase para a melhoria da leitura e da produção
textual dos alunos e outros, relacionados à forma como a Escola tem se empenhado na busca de
soluções.
PROGRAMA E METODOLOGIA DE ENSINO
Atualmente, quando o tema é ensino de interpretação ou produção de texto, surgem ainda muitas
indagações quanto ao conteúdo programático e à metodologia de ensino de textos: existe um
parâmetro único de interpretação ou vale tudo o que a intuição do leitor trouxer à tona? A obra
literária é aberta? Textos informativos ou científicos são sempre imparciais e demonstram
objetividade?
Bem diverso é o questionamento quando se trata do ensino da Gramática da frase: professores e
alunos estão seguros quanto à temática a ser ensinada, a metalinguagem usada para a descrição dos
elementos gramaticais e o conteúdo a ser administrado em cada série. Após a padronização da
NGB, todos estão de acordo quanto à nomenclatura e ao conteúdo das disciplinas.
Por outro lado, é lugar comum a insatisfação generalizada dos professores diante do fracasso dos
alunos, quando solicitados a redigir ou a ler e interpretar textos, sobretudo os argumentativos. Os
resultados não são animadores: queixam-se os mestres de que os alunos interpretam ou redigem
mal, embora fiquem desde o primário aprendendo classes de palavras, memorizando listas de
coletivos, repetindo modelos de análise sintática e aprendendo regras de conjugação de verbos, de
pontuação, de acentuação gráfica, de concordância e regência, etc.
Alguma coisa, portanto, deve estar errada com essa metodologia de ensino e todos concordam que
ela precisa mudar. Não adianta alegar que os alunos não lêem, não se interessam, ou que só os mais
pobres têm dificuldade, já que os pais não interagem com o trabalho escolar. Sabe-se que a questão
é bastante complexa e a resposta pode variar de acordo com o enfoque teórico. Devido a
delimitações de espaço, nessa colocação apenas dois pontos vão ser destacados: a variação dos
objetivos do ensino de textos nas últimas décadas e as soluções que a Escola tem procurado adotar

para a crise da leitura e da produção textual.
A ESCOLA E O ENSINO DE TEXTO
Os objetivos para o ensino de texto têm variado muito: até as décadas de quarenta ou cinquenta, o
princípio em que se baseava a escola para o ensino de texto era de natureza normativa, estética e
moralizante; havia uma preocupação maior com a formação dos alunos, criando-se a imagem do
texto como modelo formador de caráter; daí a ênfase em textos literários, mais conotativos, e os de
forte cunho ideológico, cujos temas eram o amor à Pátria, à família e aos deveres dos cidadãos; o
recurso a textos como fábulas com moral edificante, ou outros moldados para esse fim era a tônica;
tal fato parece indicar que o objetivo da leitura era mais formador do que informativo. Acreditava-se
no texto como produtor de determinados sentidos conotativos e no papel (ethos) do professor como
orientador; para a problemática da interpretação, o texto era considerado a fonte segura de
conteúdos únicos e homogêneos.
Numa segunda fase, sem eliminar a primeira, predominou a leitura com finalidade mais
informativa, lia-se para ficar bem informado; incentivava-se a pesquisa, a leitura de enciclopédias e
livros de cunho científico, revistas de diversos tipos. Os jornais tornaram-se, aos poucos, tambem
aceitos na sala de aula; notícias e textos opinativos manteriam os alunos bem informados a respeito
do que se passava no mundo; o conteúdo do texto jornalístico passou a ser um referencial em provas
e em redações nos exames vestibulares dos últimos anos.
Com essa preocupação predominantemente informativa, o ensino de texto buscava fixar o
verdadeiro conteúdo dos textos, o significado estaria na palavra, ou seja, o foco era a temática, ou o
que os autores propunham. A centralização no pensamento do Autor derivava de um conceito de
texto tido como produto, ou ainda, o texto como uma unidade de sentido transmitida do emissor ao
receptor, que a ela deveria se conformar. Essa foi e tem sido ainda a tônica das aulas de
interpretação, e o aluno, diante do texto, comporta-se como se a leitura tivesse uma única fonte, que
lhe é apresentada pelo professor, considerado um leitor mais experiente.
Sempre se concordou, porém, que havia problemas com essa metodologia de ensino, centrada nos
conteúdos proposicionais dos textos. A prática fez concluir que, por mais que se ensinasse a ler
textos, nunca se ia esgotar o potencial da interpretação possível, sobretudo dos textos literários,
mais presentes nas aulas de interpretação, por exemplo. Ao final de uma série de análises de textos,
apresentadas em livros didáticos, o aluno não aprendia o “método”, já que que ele estava sempre a

frente de um novo texto, que ia exigir-lhe uma nova estratégia de interpretação e produção. Decorre
o sentimento de impotência do aluno diante de novos textos, ou diante da página em branco, no
momento da redação. O ensino de redação, por sua vez, não era concebida como uma técnica de
produção textual e, muitas vezes, resultado de um dom criador. Para o aluno parece que só o
professor dominava o mistério das técnicas de interpretação e produção textuais. Diante dessa
antiga e ainda atual problemática, restam algumas perguntas pertinentes: existem mesmo as tais
técnicas de interpretação – e, se existem, a Escola pode e deve ensiná-las?
TEXTO: INSTRUMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO REAL
Aceita-se hoje, que para um ensino mais produtivo de produção e interpretação de textos, talvez
seja preciso abandonar a noção do que se entendeu tradicionalmente por texto, ou seja, a de que ele
é um produto, o resultado ou efeito, algo pronto e acabado, que sai da cabeça de um Autor, a que
portanto, deve aderir a sensibilidade do leitor. Em vez dessa busca de um significado, ou sentido
principal, finalidade maior do ensino escolar ainda hoje, talvez se devese partir para o enfoque e a
análise da forma como o texto foi produzido; ou seja, deslocar-se do significado efeito para o exame
das operações e estratégias que o produziram. Desse modo, em vez de se procurar o que o texto, ou
o Autor diz, deve-se procurar analisar como diz e por que diz de um determinado modo, pois a
forma como foi produzido também contribui para as significações.
O importante é, pois, analisar no texto as operações que são produtoras de sentido e que são
recuperadas como tais pelo leitor. Assim, é da interação entre o leitor e o texto que surgem as
informações e as emoções de vivências anteriores que farão parte do momento e do conteúdo da
interpretação. Nesse sentido, é oportuno lembrar aqui a máxima de um autor espanhol, citada em
uma palestra por Agostinho Dias Carneiro: “ Para se ler o mundo, o texto, como instrumento, é
apenas o interruptor, mas a lâmpada cada um tem a sua”.
Essa concepção de leitura como prática social vai de encontro à tentativa de impor significados
hegemônicos. É possível ensinar ao aluno perceber que há várias possibilidades de significação e a
reconhecer operações que geram essas possibilidades. Para isso é preciso colocar a Gramática ou a
Língua em prática, em vez de se ensinar apenas sobre ela, como faz, prioritariamente, a Escola dita
tradicional, com a transmissão de uma metalinguagem, muitas vezes como um fim em si mesma. Se
no trabalho com a frase ou com o texto, ensino o aluno a reconhecer e a descodificar uma estratégia
específica de produção de sentido, quando ele a encontrar ou concretizar em seu próprio texto, terá
possibilidade de ver que ela produzirá, por ser uma técnica, os mesmos efeitos de sentido. Dessa

forma, é possível ensinar a interpretar e a produzir textos, sim, com parâmetros ou instruções de
como decifrar ou usar as estratégias de produção de sentido que deverão estar presentes nos mais
diversos tipos de textos.
A essa altura é melhor meditar um pouco mais sobre o conceito de estratégia de que se está falando
aqui, definindo o que se entende por essa noção no estudo de texto.
O termo estratégia provém da linguagem militar, e significa o melhor caminho para se finalizar
algo. Isso inclui planejamento estratégico, surpresa, cooperação, encurtamento de caminhos e
objetividade, entre outros requisitos. No ambiente militar o termo é usado quando se empregam
certas técnicas com o intuito de se ganhar uma ou várias batalhas.
Na linguagem do texto, examinar estratégias é analisar a busca pelos caminhos de que se valeu o
Autor para melhor se aproximar de seus leitores, conseguir a adesão de espíritos ao que ele propõe.
Se se pretende emocionar, prender a atenção, fazer rir ou causar terror, diferentes serão os meios;
enfim deve-se tentar descobrir as várias técnicas de comunicação que o Sistema linguístico coloca a
serviço do enunciador de um texto e que vão ser recuperadas, conscientemente ou não, pelo leitor.
Esse processo de leitura e reconhecimento de técnicas de composição do texto é passível de ser
ensinada com sistematicidade aos alunos.
Para isso, parte-se do pressuposto de que interpretar constitui um trabalho de re-construção de
sentidos, uma operação interativa que demanda uma articulação de diferentes fatores; não é apenas
uma descodificação dos elementos instrucionais, mas uma reconstrução de estratégias que
configuram os sentidos possíveis, que são recuperados por processos de inferência, análise de
pressupostos e implícitos situacionais de diversas ordens.
Nesse sentido, decifrar um texto é mobilizar um conjunto diversificado de competências
(linguísticas, situacionais e pragmáticas) para percorrer de modo coerente uma superfície discursiva
orientada temporalmente. Isso não significa que a compreensão é um processo de integração linear
sem o menor obstáculo. Como sublinha Teun Van Dijk (1987, p.187), com propriedade:
[...] os processos de compreensão têm uma natureza estratégica, pois muitas vezes, a
compreensão utiliza informações incompletas, requer dados extraídos de vários
níveis discursivos e do contexto de comunicação e é controlada por crenças e
desígnios variáveis de acordo com os indivíduos.

Essa concepção de leitura das estratégias permite decifrar melhor alguns processos cognitivos de
que se vale o leitor para interpretar seus textos: assim antecipações, reajustes constantes, resumos,
paráfrases e percursos feitos pelo leitor vêm demonstrar que, decididamente, a leitura não segue
apenas um roteiro linear. Essas operações mobilizam conhecimentos não-linguísticos,
reconhecimentos de contextos da enunciação, gêneros discursivos diversos e suas
restriçõesklinguístico-discursivas. Não se pode esquecer também que, no ato de uma simples
leitura, o saber de outros textos, a intertextualidade, obriga o leitor a tecer hipóteses interpretativas
que excedem o sentido literal dos enunciados; em uma palavra, é preciso estar atento ao uso
estratégico de elementos linguísticos e extralinguísticos, presentes em qualquer texto,
independentemente do gênero textual.
Ao agir dessa forma, enfatizando-se o desvendamento de operações linguístico -discursivas
estratégicas usadas na construção de textos, a Escola estará colocando em prática a noção de ensino
produtivo de texto, a que já se referia Travaglia (1996, p.180), ao afirmar que um dos objetivos do
ensino de língua materna é desenvolver a competência comunicativa do aluno e que, em
decorrência disso, deve-se estimular um ensino produtivo de texto que muito contribuirá para a
aquisição de novas habilidades. O ensino descritivo e o normativo é lógico, também tem seu lugar ,
mas deve ser redimensionado em comparação com o que se tem observado na escola tradicional.
O que significa dar prioridade a um ensino produtivo de texto? Para se responder a essa questão, é
preciso considerar prioritariamente que toda linguagem é uma forma de interação; que o texto é um
conjunto de marcas, de pistas que funcionam como instruções para o estabelecimento dos efeitos de
sentido da interação social; e que o domínio e a compreensão das técnicas de linguagem exigem
uma forma de reflexão sobre o fenômeno da textualidade.
Concluindo esse raciocínio, pode-se asseverar que todo recorte linguístico deve sempre ser visto e
analisado como parte integrante de um texto interativo e o que lhe dá sentido é o fato de ser ele uma
unidade integrada em uma outra unidade maior que é o texto, linguisticamente configurado.
IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO
Diante de tantas variáveis, necessário se faz uma atenção especial à noção de contexto, tratado em
sentido amplo, em suas vertentes sócio-histórica e interacional. O tratamento de uma única frase ou
de um fragmento qualquer de texto, exige atenção ao contexto. A Língua só expressa parte do que
se quer transmitir, por isso para saber interpretar textos não basta conhecer a Gramática da Língua,

o aluno deve ser instruído quanto ao valor do contexto sócio-histórico em que aquilo foi dito. Por
isso é importante saber a respeito das condições de produção em que se deu o texto, ou reconhecer
quem é o Autor e saber que ao escrever teve certas intenções, que podem ser recuperadas por meio
do exame das operações linguísticas utilizadas e do contexto em que foi escrito.
Se todo discurso ou texto em sentido amplo é a configuração de uma intencionalidade
comunicativa, ao se interpretar o texto como discurso, busca-se recuperar essa intencionalidade a
partir da relação entre as proposições encontradas e o conhecimento que se tem do mundo, o que
permite estabelecer várias coerências em níveis linguísticos e pragmáticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ponto de vista adotado aqui buscou abranger o que a análise discursiva do texto denomina de
problematização do sentido ou da interpretação de texto em função de operações discursivas
estratégicas e específicas. Tal perspectiva consiste em compreender e analisar o significado textual
em função da atuação do sujeito enunciador sobre o sujeito receptor em um determinado contexto
sócio-comunicativo. Considerada a relevância dessa noção de texto como discurso, postula-se uma
mudança de enfoque no ensino de interpretação te da produção textual: em vez de se focalizar a
linguagem como forma ou como portadora de um conteúdo proposicional, deve-se evidenciar sua
natureza dialógica e acional, construtora de identidades sociais, que coloca em cena além de valores
informativos (referenciais), conceitos extralinguísticos e informações sobre os ethé dos
participantes do ato comunicacional, dados esses que, desvendados pelos receptores, acarretam
mudanças na significação global do texto.
Nesse sentido, a Escola tem muito a ensinar a seus alunos, se se dispuser a formar leitores críticos e
independentes, conforme apregoam os preceitos dos PCNs (1998):
Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê;que
possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando elementos
implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos; que
saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga justificar sua
leitura a partir da localização de elementos discursivos que fazê-lo.
REFERÊNCIAS
BEAUGRANDE, R. New foundations for a science of text and discourse, Internet, 1997, p.6.
(www.scielo.br.Org/php/articleXML)

BERNARDO, G. Redação Inquieta. Rio de Janeiro, Globo, 1985.
CARNEIRO. A. D. A interpretação interpretada. São Paulo: USP. Tese de Doutorado, 2003.
CHARAUDEAU, P. Linguagem e discurso: modos de organização. São Paulo: Contexto, 2008.
CHARAUDEAU, P. Grammaire dus sens et de l'expréssion. Paris: Hachette, 1992.
CHARAUDEAU, P. Uma análise semiolinguística do texto e do discurso. In: PAULIUKONIS, M.
A.L. & GAVAZZI, S. Da língua ao discurso: reflexões para o ensino. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2a. ed. 2007.
NEVES, M. H. M. Gramática na escola. São Paulo, Contexto, 1990.
PAULIUKONIS, M.A.L & GAVAZZI, S. Da língua ao discurso:reflexões para o ensino. Rio de
janeiro. Nov aFronteira, 2a.ed, 2007.
SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa.
Brasília: MEC. Secretaria do Ensino Fundamental. 1998.
TRAVAGLIA, L. C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de Gramática na Escola.
São Paulo: Cortez, 1996.
VAN DIJK, T. Texto e contexto. São Paulo: Contexto, 1987.