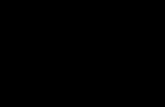Etnografia e memória
Click here to load reader
-
Upload
hugo-ciavatta -
Category
Documents
-
view
217 -
download
2
description
Transcript of Etnografia e memória

“(...) o mundo é muito chato ou, o que dá no mesmo, o que acontece nele carece de interesse se não for contado por um bom escritor."
(Enrique Vila-Matas)
Memória e etnografia: uma leitura de “Tristes Trópicos”
Hugo Ciavatta
ApresentaçãoEquivocado de minha parte seria apresentar aqui reflexões sobre a pesquisa que
me propus, quer seja, a análise e construção de narrativas biográficas de ex-moradores
de rua na cidade de São Paulo como exercício etnográfico, centrado em “Esmeralda –
por que não dancei”, de Esmerada do Carmo Ortiz (2000), porque pesquisa de fato não
houve, apenas um pequeno levantamento bibliográfico. Desse modo, o que se segue são
curtas considerações metodológicas sobre a abordagem da pesquisa, pensada a partir de
uma leitura de “Tristes Trópicos”, livro de memória de Claude Lévi-Strauss (1996). Tal
leitura, ainda, esteve atenta às condições da pesquisa de campo, das expedições
etnográficas realizadas por Lévi-Strauss no interior do Brasil nos anos 30, e também à
relação do etnógrafo com seus interlocutores e informantes.
Narrativa, Memória e Etnografia
É pela união de lembranças pessoais à experiência de uma pesquisa de campo, à
uma expedição etnográfica, que pretendo abordar “Tristes Trópicos”, de Claude Lévi-
Strauss (1996). Sem esquecer da complexa relação que envolve a construção de uma
narrativa de memória, também inventiva, e que apresenta pretensões de verdade
etnográfica, é preciso ter como referência ainda que “Tristes Trópicos” é, de fato, “uma
obra multifacetada, irredutível a uma única dimensão” (Peixoto, 2006b: 288).
Escrito cerca de quinze anos após deixar o Brasil, “Tristes Trópicos” pode ser
considerado um livro de memória, pois nele não encontramos o autor exclusivamente
contando sua própria vida, como numa autobiografia. Mesmo assim, por outro lado, o
livro apresenta aspectos da obra teórica, problemas que o autor iria desenvolver
posteriormente, o que não procuraremos desenvolver aqui. Como livro de memória,
“Tristes Trópicos” se diferencia de outros estudos de história de vida, como, por
exemplo, os que podem ser arrolados entre biografias, diários e história oral (Bom
Meihy, 2005).

O livro de Lévi-Strauss (1996) não é um diário, como o de Bronislaw
Malinowski (1997), cuja repercussão foi enormemente discutida na história da
antropologia desde os anos 80, produzindo desdobramentos teóricos e metodológicos
muito importantes para a antropologia 1. Nesse sentido, interessante é notar a
justificativa de Valetta Malinowska, viúva do antropólogo, quando faz o prefácio dos
escritos: “Quando existe o diário ou a autobiografia de uma personalidade marcante,
acredito que esses “dados” relativos à sua vida cotidiana e interior e seus pensamentos
devem ser publicados, com o propósito deliberado de revelar essa personalidade e
vincular esse conhecimento à obra por ele realizada” (idem: 13). Em outra direção
ainda vão as palavras de Raymond Firth, para quem os detalhes da personalidade de um
cientista poderiam não influenciar diretamente a obra e a abordagem dos problemas
teóricos propostos, mas apenas sugerir sutis influências. Entretanto, é substantivo o fato
de Valetta Malinowska tratar os escritos do diário como um “dado”, não somente como
um exemplo, ou mera ilustração do trabalho intelectual, ou da elaboração e construção
de uma etnografia, por exemplo. Evidentemente, não acredito que o termo “dado”
utilizado por ela seja no sentido da elaboração teórica e descritiva que pode caracterizar
a antropologia, mas talvez somente para apontar que aqueles eventos e acontecimentos
narrados por Malinowski também poderiam ser vistos como constitutivos do próprio
trabalho do etnógrafo.
“Tristes Trópicos”, diferentemente, não é um documento privado escrito sem
intenção de ser publicado, como o diário de Malinowski (1997), nem íntimo ou mesmo
de campo, com fatos registrados de maneira quase que instantânea e cotidianamente, ou
com regularidade que apresente detalhes, impressões, falas, descrições, observações,
pensamentos ou desabafos minuciosos. Há muitos elementos nesse sentido em “Tristes
Trópicos”, claramente com aspectos confessionais, todavia, prefiro pensá-lo como livro
de memória para não abandonar os traços autobiográficos da obra. A escrita dele está
temporalmente distante, também. E Lévi-Strauss (1996) é autor, escritor, narrador e
personagem de sua própria obra, marcada, ao mesmo tempo, por um cuidadoso trato
com a linguagem, mais próxima do desencanto de um viajante, em alguns momentos,
que do rigor acadêmico de uma monografia. Mas, sem dúvida, a narrativa da viagem
torna-se tema inseparável da experiência etnológica (Peixoto, 2006b) na história da
disciplina, e isso não está ausente no livro.
1 Ver Clifford, James (1998), por exemplo.

Como também mostrou o júri do prêmio Goncourt, em 1955, “Tristes Trópicos”
é emblemático, pois naquela data o livro fora lançado na França, e o júri então
lamentava não poder declará-lo vencedor do concurso de melhor obra da literatura
francesa do ano, justamente por se tratar de uma obra de não ficção. Por isso, logo
quando é publicada, a obra aparece ambiguamente, com o campo literário rejeitando-a,
mesmo que paradoxalmente a elogiasse através da manifestação de pesar ao não premiá-
la. E, ao mesmo tempo, “Tristes Trópicos” perdera – ou nunca quisera ter – o estatuto
monográfico do fazer antropológico e etnográfico, porque o trabalho de campo no
Brasil, “A vida familiar e social dos índios Nambiquara”, já havia sido publicado por
Lévi-Strauss sete anos antes. (Carvalho, 2011)
Assim, pensando como Fraya Frehse (2006), que busca compreender as
transformações sócio-econômicas ligadas ao advento histórico da modernidade, no
espaço urbano da cidade de São Paulo, através dos indícios de regras de
comportamentos corporais provenientes das memórias de infância e juventude de
estudantes de Direito, e de mulheres das elites paulistanas, por que não procurar em
“Tristes Trópicos” ao menos indícios etnográficos sobre os Bororo, os Nambiquara, os
Cadieu, ou sobre as condições de uma pesquisa de campo no interior do Brasil? Ou,
como pretendo desenvolver aqui, a respeito da relação entre o desenvolvimento de uma
etnografia e o papel dos informantes, como abordado por Schumaker (2001) a respeito
do Rhodes-Livingstone Institute, na África central, revelando assim as diferenças
temporais e possíveis transformações disciplinares?
Carlo Ginzburg (2004), nesse sentido, no conjunto de ensaios que compõe
“Nenhuma ilha é uma ilha”, examina as ilhas inventadas, como a “Utopia” de Thomas
More, na Inglaterra, afastando-se de análises que ficassem restritas ao conteúdo dos
próprios textos estudados. O autor faz uma comparação entre o exercício de um
historiador e a prática dos poetas, sugerindo, por fim, que “os historiadores devem ir
além da mera descrição de um fato e de suas circunstâncias, tentando evitar tanto os
exageros dos “novos oradores” como a liberdade de invenção concedida a poetas e
artistas.” (2004: 51) Ginzburg coloca isso para reforçar o caráter das análises
empreendidas, longe de considerar, por exemplo, a referida obra de More como mera
ficção, porém, para demonstrar que existe uma relação complexa entre a invenção e a
pretensão à verdade (idem: 64).
Também quando Fernanda Peixoto (2006a), a procura das figurações do espaço
urbano no pensamento social nacional, lembra o “Guia prático, histórico e sentimental

do Recife”, de Gilberto Freyre, o faz a partir da apresentação que o autor realiza da
mesma cidade, como se conduzisse um turista pela cidade, para além do próprio leitor.
Freyre faz isso amparando-se no passado, na história do lugar, contudo, é a história
pessoal dele e a memória do lugar que articulam a narrativa construída no texto. Através
da própria experiência vivida do autor aparece o cenário então atual repercutindo a
história da cidade: são elementos que caminham juntos no “Guia prático...”, as
lembranças pessoais de Freyre e a história do lugar, da cidade de Recife.
Maurice Halbwachs (1990) fornece uma outra entrada ainda para “Tristes
Trópicos”, na medida em que ele ajuda a situar os aspectos pessoais da memória, como
uma sucessão de eventos individuais produzindo alterações em relação aos grupos com
os quais essas memórias, ditas pessoais, estão envolvidas:
“(…) a memória coletiva não explica todas as nossas lembranças e, talvez, ela não explica por si mesma a evocação de qualquer lembrança. Apesar de tudo, nada prova que todas as noções e imagens tomadas dos meios sociais de que fazemos parte, e que interveem na memória, não cubram, como uma tela de cinema, uma lembrança individual, mesmo no caso em que não a percebemos. (…) Haveria então, na base de toda lembrança, o chamado a um estado de consciência puramente individual que – para distingui-lo das percepções onde entram tantos elementos do pensamento social – admitiremos que se chame intuição sensível.” (idem: 37)
A ênfase de Halbwachs (1990) recai principalmente na maneira como a memória
coletiva, social, de grupos sociais, se manifesta através das memórias ditas individuais,
então, no caso de Lévi-Strauss, o contexto de “Tristes Trópicos” também permite
pensar o envolvimento das lembranças pessoais do autor junto à formação do campo de
pesquisa acadêmica – não somente da antropologia –, no Brasil, com a fundação da
Universidade de São Paulo, para a qual ele viera como convidado. Contrário ainda ao
argumento de que a evocação do passado traria apenas uma pequena porcentagem de
verdade – no caso da possibilidade de avaliar o grau de fidelidade dos eventos
rememorados à ocorrência deles de fato –, Halbwachs (1990) coloca que mesmo sendo
pequena essa percentagem, não seria admissível evitá-la. Ancoro-me, portanto, numa
espécie de “intuição sensível” de Lévi-Strauss (1996), concentrado-me sobretudo nos
“resíduos etnográficos de suas evocações” ao longo de “Tristes Trópicos”2. A narrativa
de memória, portanto, é tomada aqui como “dado” de pesquisa, central para uma
2 “Em "Tristes Trópicos", sob influência de Proust, Lévi-Strauss toma como modelo a comparação do diverso e a associação do extemporâneo, revelando a literatura como um modo de conhecimento possível, em que o sujeito (o autor) passa a ser o pivô - pela memória, pelas sensações - das oposições de objetos heteróclitos, um "conhecimento total" em oposição ao conhecimento das partes, típico da análise científica.” (Carvalho, 2011)

reflexão sobre a narrativa etnográfica. Pois se antropologia moderna preza pelo
convencimento do leitor, explicitando o método de pesquisa, por exemplo, isso também
está presente em “Tristes Trópicos”.
Narrativa, Memória e Etnografia
No início do capítulo “Como se faz um etnógrafo”, Lévi-Strauss (1996) usa de
pequenas ironias para se referir ao trabalho, ao ensino de filosofia que deixara para
então se dedicar à etnografia, dizendo que
“todo problema, grave ou fútil, pode ser liquidado pela aplicação de um método, sempre idêntico, que consiste em contrapor duas visões tradicionais da questão; em introduzir a primeira pelas justificações do sentido comum, depois, em destruí-las por meio da segunda; por último, opô-las mutuamente graças a uma terceira que revela o caráter também parcial das outras duas, reduzidas pelos artifícios do vocabulário aos aspectos complementares de uma mesma realidade (…). Tais exercícios logo se tornam verbais, baseados numa arte do trocadilho que ocupa o lugar da reflexão (…), piruetas especulativas por cuja engenhosidade se reconhecem os bons trabalhos filosóficos.” (1996: 49)
Longe de explicitar os métodos de pesquisa etnográfica neste trecho, as
generalizações vindas com o inicial pronome indefinido “todo”, no trecho acima, e o
advérbio “sempre”, logo em seguida, dão ao trecho ênfase e exagero para se referir à
docência de filosofia. Lévi-Strauss (1996) ainda usa de ironia, com “piruetas
especulativas”, para falar do horror que foi descobrir que a vida dele seria uma repetição
dando os mesmos cursos num liceu a partir da reprodução de aulas que ele havia
rapidamente preparado, o que o fez, então, optar por seguir outro caminho: a etnografia,
que era oposta ao que poderia ser considerado como uma profissão, e que era também
uma forma extrema de refúgio. A etnografia lhe daria prazer intelectual, satisfazendo
seu espírito ávido por novos materiais de reflexão, já que a união de pontos díspares,
como a história do mundo e a história do próprio estudioso, estaria presente num
esforço por aproximar a obra de sociedades pelo mundo, o pensamento de indivíduos
outros, levando em conta as diferenças e mudanças entre uma perspectiva social e outra
individual. Dito de outra forma, a etnografia possibilitaria também compreender o
homem não apenas em relação a ele próprio e sua sociedade, senão em relação ao
etnógrafo e à sociedade deste.
Depois desse momento no livro, aparece então a primeira experiência de contato
com uma sociedade indígena, quando um suposto viajante romântico, por exemplo, dá
lugar a um melancólico observador. Como se o “Novo Mundo” não fosse de fato novo,

aparecendo o paradoxo do “viajante moderno”, “entre a nostalgia por uma realidade,
por uma época não vivida, e a decepção do mundo encontrado” (Peixoto, 2006b: 195):
“(…) para minha grande decepção, os índios do Tibaji não eram nem inteiramente “índios verdadeiros” nem, muito menos, “selvagens”. Mas, ao privaram de sua poesia a imagem ingênua que o etnógrafo principiante forma de suas experiências futuras, davam-me uma lição de prudência e objetividade. Se encontrei-os menos intactos do que esperava, iria descobri-los mais secretos do que sua aparência poderia deixar supor. ” (Lévi-Strauss, 1996: 144)
Lévi-Strauss se encontrava na reserva de São Jerônimo, quando fala rapidamente
também dos guias junto a expedição, 'caboclos' do 'sertão' vizinho, comentando ainda a
dificuldade por conseguir objetos para a coleção que ele estava formando por meio da
troca de diversos materiais para estabelecer um contato amistoso. Lévi-Strauss cria
assim pequenos diálogos junto aos guias e diante dos indígenas. Esses momentos
mostram um pouco das dificuldades de estabelecer relações em campo: ““Ele não
pode”. “Se o objeto fosse de sua fabricação, ele o daria de bom grado, mas ele mesmo
o comprou há muito tempo de uma velha que é a única que sabe confeccionar esse
gênero de coisas. Se nos dá, como substituí-lo?” A velha, claro, nunca está lá. Onde?
“Ele não sabe”, gesto vago, “na floresta...”” (1996: 147).
Posteriormente, já entre os Cadieu, Lévi-Strauss (1996) desenvolve outras
considerações sobre a experiência de campo, o trabalho etnográfico, quando da relação
daqueles índios com a máquina fotográfica que o pesquisador levava consigo. As
mulheres Cadieu exigiam insistentemente serem fotografadas, enquanto o etnógrafo
tinha em mente antes que os indígenas teriam receio de serem registrados e, por isso,
talvez fosse conveniente presenteá-los quando fotografados. Mas as mulheres Cadieu,
além da constante solicitação da máquina, também pediam dinheiro. Lévi-Strauss não
resiste aos pedidos, mesmo que disparasse a máquina sem registrar uma imagem, pois
aquelas manifestações não poderiam ser sinal de decadência ou mercantilismo, por
exemplo, já que “reapareciam assim traços específicos da sociedade indígena:
independência e autoridade das mulheres de alta estirpe, ostentação diante do
estrangeiro, e reivindicação da homenagem pelo homem comum. O traje podia ser
fantasia e improvisado: o comportamento que o inspirava conservava todo o seu
significado; cabia-me restabelecê-lo no contexto das instituições tradicionais.” (idem:
165)
É assim que Lévi-Strauss faz, despretensiosamente, uma narração de situações
cotidianas e inusitadas para apresentar o cenário de reflexões sociológicas. Não só a

procura do contexto das instituições tradicionais, mas seguindo também por análises da
arte, do plano estilístico Cadieu, no caso. Em seguida, ele realiza ainda análise e
comparação dos sistemas sociais, das estruturas sociais Mbaiá. Guaná e Bororo.
Estes últimos, os Bororo, são os que estavam na aldeia Quejara, próximo ponto
de parada da expedição. É aí que aparece uma dos principais personagens, talvez, de
“Tristes Trópicos”, um intérprete e informante bororo. À maneira descrita por Lévi-
Strauss (1996), o informante era conhecedor da língua portuguesa pois havia sido
educado em uma missão. Depois de visitar Roma e o Papa, esse informante havia
resistido ao casamento nos ditames do cristianismo, e, na volta, por fim, retornara à vida
Bororo. Como afirma Lévi-Strauss, foi esse informante que se tornou um excelente
professor de sociologia bororo para o etnógrafo (idem: 204).
São os informantes Bororo, também, que descreveram, conforme nos diz Lévi-
Strauss:
“esse balé em que duas metades de aldeia obrigam-se a viver e a respirar uma por meio da outra, trocando as mulheres, os bens e os serviços em meio a uma fervorosa preocupação de reciprocidade, casando seus filhos entre si, enterrando mutuamente seus mortos, garantido-se uma à outra que a vida é eterna, o mundo, caridoso, e a sociedade, justa. Para comprovar essas verdades e para manter essas convicções, seus sábios elaboraram uma cosmologia grandiosa; inscreveram-na na planta de suas aldeias e na repartição das habitações. As contradições em que esbarravam, enfrentaram-nas e reenfrentaram-nas, jamais aceitando uma oposição a não ser para negá-las em favor de outra, dividindo e separando os grupos, associando-os e defrontando-os, fazendo de toda a sua vida social e espiritual um brasão em que a simetria e a assimetria se equilibram...”. (1996: 229)
Assim, findou-se a primeira expedição de campo, de cerca de três meses, e Lévi-
Strauss (1996) somente no ano seguinte voltaria ao interior do Brasil para uma outra
expedição, dessa vez, de caráter mais amplo. No ano posterior, essa segunda expedição
foi organizada na cidade Cuiabá, em diálogo com especialistas da região, tropeiros e ex-
empregados da linha telegráfica. Depois dessa pesquisa e negociação, enfim, ficou
decidido um conjunto de quinze homens, liderados por um antigo boiadeiro, Fulgêncio,
que foi quem finalizou a escolha dos peões e animais que comporiam toda a expedição.
Já de partida, surge outra das marcas mais evidentes a respeito das condições de
pesquisa, constitutiva da própria experiência etnográfica:
“decidimos deixar os animais partir antes, o menos carregados possível; eu mesmo pegaria a estrada com um grande caminhão enquanto a pista permitisse, (…). Oito dias depois da partida da “tropa” – nome dado a uma caravana de bois – nosso caminhão pôs-se em marcha com sua carga. Não havíamos andado cinquenta quilômetros quando encontramos nossos homens e

nossos animais, tranquilamente acampados no cerrado, (...). Tive aí meu primeiro acesso de raiva, que não seria o único. Mas eu precisaria de outras decepções para entender que a noção de tempo já não cabia no universo onde eu penetrava. Não era eu que dirigia a expedição, não era Fulgêncio: eram os bois. Esses animais pesados transformavam-se em princesinhas cujas indisposições, alterações de humor e gestos de fastio precisávamos vigiar...” (Lévi-Strauss, 1996: 249/50)
Neste momento, da descoberta de uma nova noção de tempo para o pesquisador,
no entanto, é como se Lévi-Strauss (1996) encontrasse João Guimarães Rosa (2007), em
“Conversa de Bois”, conto publicado em 1946 ao lado de outros oito no livro
“Sagarana”. No conto, Guimarães Rosa constrói uma narrativa em que homens e bois
se confundem nos diálogos, bois são humanizados e homens são animalizados ao
mesmo tempo. Neste paralelo, é como se Lévi-Strauss e Guimarães Rosa, ou o narrador
do conto, comunicassem ao leitor noções de tempo outras, distantes daquelas por eles
vivenciadas.
Depois deste momento, já com a expedição em andamento, Lévi-Strauss (1996)
encontra os Nambiquara, com os quais vive maiores dificuldades, especialmente pelo
fato deles não empregarem publicamente os nomes próprios entre si. Curiosa assim é a
forma que o etnógrafo encontra para descobrir os nomes dos índios aldeados. Assim,
quando da brincadeira e desentendimento de duas crianças, Lévi-Strauss se aproveita da
vingança de uma delas, que revelou o nome da outra em represália. Ele passou então a
incitar as crianças umas contra as outras para, enfim, descobrir o nome não somente
delas, mas dos adultos também, antes que estes descobrissem as artimanhas das crianças
e as repreendessem. (1996: 262/63)
Apesar da maneira quase burlesca como aparece o evento acima, Lévi-Strauss
diz ter conhecido bem dois chefes de bandos distintos entre os Nambiquara, e que foram
muito importantes ao longo do trabalho de campo, especialmente o chefe tarundê: “Com
ele, o trabalho etnográfico nunca é unilateral: concebe-o como uma troca de
informações, e as que lhe trago são sempre bem-vindas.” (1996: 291/2) Emergem,
assim, elementos da relação do etnógrafo com seus informantes, mais uma vez,
mesclados que estavam aos elementos corriqueiros e aparentemente banais.
Cabe lembrar, também, o que Lévi-Strauss (1996) chama de “Lição de Escrita”
entre os Nambiquara. Pois, sem conhecer a escrita, os índios surpreendem o etnógrafo
tentando imitá-lo, já que ele era o único até então a utilizar lápis e papel entre eles. E
mesmo não aprendendo a escrever propriamente, Lévi-Strauss entende que o efeito de
imitar o ato demonstrava a compreensão da função representativa da escrita. Fato

aventado justamente pela encenação de um chefe que, ao lado do etnógrafo, reproduzia
o ato da escrita por rabiscos e linhas sobre papéis, e então reunira todo seu pessoal para
mostrar uma suposta a lista de presentes e objetos de troca equivalentes para o
antropólogo:
“A escrita fizera, pois, sua aparição entre os Nambiquara; mas não, como se poderia imaginar, ao termo de um trabalhoso aprendizado. Seu símbolo fora imitado, ao passo que sua realidade continuava a ser desconhecida. E isso, com vistas a uma finalidade mais sociológica do que intelectual. Não se tratava de conhecer, reter ou compreender, mas de aumentar o prestígio e a autoridade de um indivíduo – ou de uma função – às custas de outrem.” (idem: 281)
Depois, já se encaminhando para o final do livro, surgem mais claramente os
elementos de desencanto e melancolia do etnólogo, com o desfecho da experiência
etnográfica, diante, por exemplo, das limitações de suas observações e análises, e uma
série de questionamentos sobre isso:
“Basta que eu consiga avistá-los, e eles se despojaram de sua estranheza: eu poderia muito bem ter ficado na minha própria aldeia. Ou, como aqui, que a conservem: e, nesse caso, essa estranheza não me adianta nada, já que nem sequer eu sou capaz de entender o que a faz ser assim. Entre esses dois extremos, quantos casos equívocos nos fornecem as desculpas das quais vivemos? Quem afinal está sendo de fato tapeado com o distúrbio causado em nossos leitores por nossas observações – elaboradas justo o suficiente para se tornarem inteligíveis, e no entanto interrompidas no meio do caminho, já que surpreendem seres semelhantes àqueles para quem esses costumes são óbvios? O leitor que acredita em nós, ou nós mesmos, que não temos o menor direito de estarmos satisfeitos antes de conseguirmos dissolver esse resíduo que fornece um pretexto para nossa vaidade?” (Lévi-Strauss, 1996: 314/5)
Pouco antes do desfecho do livro, ainda, Lévi-Strauss fará outra vez uma espécie
de manual do etnógrafo, resumindo as condições e deveres de um etnógrafo em campo,
como estar desperto o dia todo, antes e depois dos indígenas, ser discreto e ao mesmo
tempo nunca ausente dos acontecimentos, e, sobretudo, estar sempre a procura de
informações com quem quer que seja, anotando tudo (1996: 355). Nesse instante,
também, fica claro o elemento da viagem, tão caro ao trabalho etnográfico, pois o
pesquisador está longe de amigos, parentes, abandonou seu ambiente de trabalho e
vivência comum até então. Enfim, é como se o autor encontrasse a “égide do empírico”
com o qual nasceu a antropologia no século XIX, e depois com Malinowski, nas Ilhas
Trobriand, no caso, especial e paradoxalmente no caso do conhecido estruturalismo
lévi-straussiano. Se Malinowski pode ser considerado fundador de uma nova
metodologia na antropologia, isto é, o intenso trabalho de campo e a observação
participante, em resumo, “a nova disciplina parece, portanto, inexoravelmente ligada

ao ato de viajar. Mais do que meio de acesso a outras culturas, a viagem é, neste caso,
ferramenta fundamental do processo de conhecimento” (Peixoto, 2006b: 290).
Os especialistas em antropólogos
Não posso acreditar fazer aqui uma leitura de Lévi-Strauss (1996) pela obra
“Africanizing Anthropology”, de Lyn Schumaker (2001). Isto seria um grande
equívoco, uma vez que, apesar das aproximações que tentarei esboçar, há 45 anos
separando uma publicação da outra. Assim, depois de um acúmulo de décadas de debate
teórico e epistemológico, no que tange especialmente à antropologia, seria uma injustiça
exigir de um trabalho como “Tristes Trópicos”, que não se propõe científico, uma
leitura acadêmica através de outra publicação, direcionada especificamente ao campo
antropológico, como o de “Africanizing Anthropology”. Ou mesmo desconsiderar
contextos tão distintos para propor uma comparação, ou melhor, simplesmente pelo
efeito de colocá-las em proximidade, e de maneira sucinta, sobretudo para mostrar suas
diferenças.
Schumaker (2001) retira do segundo plano e traz para o centro da análise o
trabalho dos informantes, também como um trabalho antropológico. Ela ressalta a
importância dos informantes na construção do pensamento antropológico. Como certos
indivíduos se especializam em antropólogos? Quais foram os caminhos de campo
escolhidos, as negociações? Enfim, são essas algumas das questões sobre as quais ela se
deteve.
A construção do conhecimento é relacional, também pela relação, ou talvez
justamente a partir da relação que se estabelece com os informantes, este é um
pressuposto importante de seu trabalho. Por isso, a antropologia, através do RLI
(Rhodes-Livingstone Institute) – fundado em finais da década de 1930 na Rodésia do
Norte, atual Zâmbia –, especialmente no que tange ao envolvimento com a
independência da região, foi africanizada, ou, dito de outro modo, é como se a
antropologia tivesse sido capturada pelos africanos, na conclusão de Schumaker.
O campo de pesquisa, o trabalho etnográfico, assim, aparece em Schumaker
(2001) como um espaço de negociação, um campo propriamente de discussão do qual
emerge a construção do conhecimento. Há um processo colaborativo na coleta de dados
e uma associação entre pesquisadores e assistentes, auxiliares. Evidentemente, enquanto
uma situação colonial, vivida pelo RLI, essa relação não foi igualitária, e exigiu uma

constante renegociação entre forças coloniais e anti coloniais, o que por vezes trouxe
impedimentos ao próprio trabalho do RLI.
Importante ainda colocar que, tratando do RLI, o que Schumaker (2001)
analisou como “assistente de pesquisa” foi uma categoria bastante abrangente, não só no
que tange ao perfil das pessoas que trabalharam para o instituto, mas também da gama
de atividades diferentes que ali desenvolveram. Nisto, dada a variedade de pessoas e
atividades, é importante destacar, ainda, a posição intermediária de ambos,
pesquisadores e assistentes, no interior da sociedade da então Rodésia do Norte.
Ocupando esta posição mediana na estrutura social, eles puderam atuar captando
anseios políticos de independência, atentos para os efeitos políticos das pesquisas
naquele contexto. Schumaker utiliza o termo “culture brokers” – talvez mais bem
traduzidos como “agentes culturais” –, para se referir aos assistentes, especialmente na
profissionalização dessa atividade, também intelectual, que no contexto pós
independência acabou por formar uma espécie de “clientela” para perícias
antropológicas diante das políticas sociais de proteção do Estado independente que
emergia. E mesmo políticas de caráter mais sociológico, já que alguns desses assistentes
foram trabalhar, também, na administração nacional do Estado. É isso também o que a
autora denomina de “cultura de pesquisa”. E, segundo Schumaker, através das
entrevistas que realizou com alguns dos assistentes do RLI, eles muitas vezes
descreviam sua atração pelo trabalho entendendo “cultura” aparentemente como um
reflexo dos dizeres dos antropólogos. Contudo, o mesmo tempo, os antropólogos do
RLI estavam envolvidos por um contexto, o do colonialismo, em que o trabalho de
campo lhes exigia maior compromisso com o conhecimento pelo qual eram
responsáveis, especialmente em termos metodológicos, no trato diário propriamente, o
que retira qualquer unilateralidade de antropólogos para assistentes. Como resume
Schumaker:
“For some research assistants, attachment to an anthropologist meant not only a relatively high-paying job and enhanced local prestige. The most important feature attracting some Africans to this position was the opportunity to play a role in the creation of tribal history and ethnic identity, processes that were of vital interest to Africans in this period. (…) In terms of methodology, [of the anthropologists] their commitment to participant observation required them to live with their informants and observe their daily life instead of, or in addition to, the more formal questioning that had characterized earlier anthropological methods. Participant observation made anthropologists more amenable to pressure to adopt local pratices and encouraged them to identify with local interests, whether or not they managed to attain the ideal of a total immersion in and understanding of the local culture.” (idem: 197)

Concomitante ao este processo, em que assistentes de pesquisa investiam nesta
posição em função de afirmar identidades étnicas, também era importante diferenciar a
atividade de pesquisa do RLI dos administradores coloniais, ou mesmo de missionários,
já que os entre os assistentes, como alguns disseram a Schumaker (2001), era comum
ocultar informações que pudessem causar constrangimentos diante de membros de suas
etnias e, também, diante dos administradores locais e missionários.
O exemplo de David Kalimosho, um informante de Max Gluckman, é ilustrativo
nesse sentido. Pois os interesses do antropólogo, no caso, pareciam voltados a bruxaria,
a coleta de dados sistemática sobre a bruxaria. Esses dados, para Kalimosho, no entanto,
poderiam representar provas, acusações contra “bruxas” judicialmente, tal como vistos
por administradores e missionários. Desse modo, como informante, como assistente,
Kalimosho teria agido, conforme o que Schumaker (2001) relata de sua entrevista com
ele, no sentido de selecionar os movimentos e a percepção do antropólogo. Kalimosho
havia também trabalhado como cobrador de imposto do governo, o que teria contribuído
para a interpretação dele do trabalho de assistente de pesquisa. A autora ressalta ainda
que isso não apontava para o fato de que pesquisadores só viam ou percebiam o que
assistentes lhe davam acesso, todavia, mais uma vez, o que estava em jogo era uma
negociação constante entre interesses e possibilidades em campo.
Lembramos, assim, do chefe tarundê entre os Nambiquara, como quem conviveu
Lévi-Strauss (1996), cuja relação era sempre numa troca de informações, bem como
com o “índio do Papa”, o professor de sociologia Bororo, com que o etnógrafo em
“Tristes Trópicos” pareceu desenvolver uma relação importante para seus estudos. Não
podemos esquecer, ainda, do significado que a escrita teve entre os Nambiquara, a
“lição de escrita” do chefe comunica ao etnógrafo também o quão ele é objeto das
relações que estavam se desenhando em campo. Se Lévi-Strauss não está num cenário
de colonização, as relações em campo não deixavam de ser relações de poder, marcadas
por negociações, trocas e interesses.
Pelo que Schumaker (2001) aponta, pesquisadores e assistentes passaram a
entender do trabalho uns dos outros. E num ambiente profundamente politizado, foi
fundamental para os antropólogos compreenderem a motivação dos assistentes no
trabalho de pesquisa, que depois configurou o que ela chamou, mais uma vez, de uma
“cultura de pesquisa”, ou do trabalho, como ela resume:

“The term “work culture”, as it has been used here, is intended to capture the way that a heterogeneous group of people drawn together for a long-term project develops a shared identity and style of pratice and uses these to produce knowledge. (…) What the concept of work culture does is to show how a science connects with its context through the partly overlapping networks of the people involved in the research. It show how a field science becomes a part of its field context while at the same time distingishing itself from other activities within that context, producing a group identity. The identity of a scientific project and the people involved in it are constructed from what is available in the field context in addition to what particular members bring from their background and training.” (idem: 237/238)
Desse modo, Schumaker (2001) sintetiza seu argumento a quatro principais
elementos que guiaram sua antropologia: a formação das redes sociais, a configuração
de uma cultura de pesquisa, a coprodução do conhecimento científico, e o campo como
espaço construído e negociado para a própria produção do conhecimento, não somente
como uma fonte de dados (idem: 227). Para concluir, enfim, ela diz que o interessante
do trabalho de campo são as relações, tanto entre método e teoria antropológica, como
entre antropólogos e as pessoas que eles estudam. No Rhodes-Livingstone Institute,
tudo isso assumiu um caráter particular, senão subversivo em relação ao sistema
colonial, a relação entre teoria e método antropológico teve sim pequena contribuição.
Pois, no final, ela destaca a antropologia se expandindo fora dos limites do colonialismo
e permanecendo ainda como uma atividade realizada pelos africanos.
Conclusão
Se não é possível dizer que a antropologia de Lévi-Strass (1996), ou mesmo a
fundação da Universidade de São Paulo, para a qual ele havia sido convidado a vir para
o Brasil, contribuíram para um processo revolucionário de independência, ou de
permanência da antropologia como uma atividade também de Bororos e Nambiquaras,
ou ainda, se não houve um empoderamento da antropologia, ou mesmo um
desempoderamento do antropólogo, no caso de Lévi-Strauss, todavia, o etnógrafo
também esteve atento ao contexto envolvente:
“Nesse Brasil que conhecera certos êxitos individuais brilhantes, mas raros (…), a cultura permanecera, até época recente, um brinquedo para os ricos. E era porque essa oligarquia precisava de uma opinião pública de inspiração civil e laica, para fazer frente à influência tradicional da Igreja e do exército, assim como ao poder pessoal, que, ao criar a Universidade de São Paulo, ela se propôs levar a cultura a uma clientela mais vasta.” (idem: 97)
Lévi-Strauss (1996) vai mais longe ao afirmar que aqueles jovem aglutinados
nas aulas disputavam títulos de olho em empregos acessíveis, inspirados justamente por

uma tradição francesa, que reproduzia em ritmo acelerado a diferenciação entre campo e
cidade, destes se fazendo ao trabalho daqueles.
Além disso, o empreendimento aqui apresentado, desse modo, ao tratar a
memória pessoal de Lévi-Strauss (1996), nos ditames de uma abordagem residual, com
Hawbach (1990), e também como se essa memória informasse resíduos de um trabalho
de campo, chega a algumas conclusões.
A partir das lembranças pessoais de Lévi-Strauss (1996), as reminiscências se
tornam uma espécie derivada do “diário de campo” também, sobre o qual ele mesmo se
debruça para recuperar os elementos da experiência vivida no Brasil anos atrás. É a
memória do etnógrafo quem revela as condições de realização do trabalho de campo, a
montagem da expedição que percorreria determinados territórios do interior do Brasil e
as próprias relações estabelecidas em campo, em meio às sociedades pesquisadas, como
tentei mostrar. Porém, é bom lembrar, o autor faz tudo isso também voltando aos diários
de campo de fato, como quando transcreve um trecho de seu caderno de viagem, do dia
3 de dezembro de 1938, poucos dias depois de deixar os Tupi-Caraíba, evocando uma
imagem do seringal 3. Portanto, não é meramente um exercício de recordação. Nos
diários, que acessamos pela transcrição apresentada no livro, ele havia registrado
cotidianamente a experiência no Brasil, como os percalços da expedição pelo interior do
território. Sem dúvida, com isso, nos deparamos com uma escrita que reflete sobre sua
própria condição, de si enquanto escrita memorialista, de um Eu autoral, autobiográfico,
mas também etnográfico, como vimos, preocupado com o próprio fazer da etnografia.
Milton Hatoum (2004) nos lembra da diferenciação entre o texto antropológico e
o de ficção. A despeito de suas particularidades, existe algo de essencial que os une,
ambos falam de um Outro, elaboram um discurso sobre a alteridade, ainda que
persistam distanciamentos importantes. “Tristes Trópicos”, principalmente, não deixa
de ser uma etnografia, entretanto, seu escopo não se restringe aos ditames tradicionais
de uma monografia dita clássica, ou moderna, fazendo justamente nublar essa mesma
diferenciação.
E se pensarmos na preocupação de um texto antropológico moderno, ou seja,
com a explicitação do método que retira o caráter de heroísmo dos empreendimentos
etnográficos, como as viagens, a importância dos informantes na construção do
pensamento antropológico ganha destaque, como em Schumaker (2001), ou como
observa Edmund Leach (1981) analisando a natureza da antropologia empirista de
3 Ver Lévi-Strauss (1996: 348-49).

Bronislaw Malinowski. Neste último, justamente quando a explicitação do método é
instaurada na antropologia, apareceria também o uso restrito de informantes no trabalho
de campo. Segundo Leach, os informantes de Malinowski apareciam apenas para
completar aquilo que o antropólogo já sabia, pois os primeiros aspectos eram sempre
provenientes da observação direta do próprio etnógrafo. Apesar do reconhecimento de
Leach, ao dizer que foi Malinowski quem retirou os “selvagens” da reprodução de uma
tradição qualquer, tratando-os como seres humanos dotados de atividade, que elegiam
determinados meios para expressão de um dinâmico sistema de organização social, a
relação com os informantes acaba como artifício para facilitar o acesso ao significado
da conduta observada. No entanto, Leach também coloca outro ponto de vista, com um
contra exemplo oferecido por Malinowski em “A vida sexual dos selvagens”, sobre a
análise dos mitos. Quando compara os mitos a “cartas” das instituições sociais,
Malinowski diz ser do mesmo feitio as descrições de informantes, uma espécie de mito,
ou uma “carta” para a ação humana, cuja importância não seria diminuída se as
observações a respeito das normas sociais não correspondessem exatamente aquilo por
eles dito (idem: 310).
Como lembra, ainda, Antônio Motta (2006), se voltando para “África
Fantasma”, de Michel Leiris:
“O gosto e a sedução pela especulação, o intelectualismo, a ausência de um verdadeiro método etnográfico e um certo descaso pelo empírico são alguns dos elementos que constituem uma espécie de clichê já firmado quando se pretende explicar os motivos pelos quais a pesquisa de campo na França não chegou historicamente a lograr um status reconhecidamente importante, especialmente quando comparada aos vizinhos do canal da Mancha” (idem: 262/63)
Possivelmente, o mesmo poderia ser dito para “Tristes Trópicos”, publicado
mais de vinte anos depois da obra de Leiris, quando o assusto é rigor. Se em Leiris a
experiência etnográfica se revelaria pelo conteúdo, menos do que pela técnica narrativa
de um diário de campo, como afirma Motta (2006), também com “Tristes Tópicos” a
intromissão do narrador estabelece rupturas entre descrições. No entanto, fruto do diário
de campo, “África Fantasma” se distancia nesse sentido do livro de memória de Lévi-
Strauss (1996) e, ao mesmo tempo, em ambos persiste aquilo que Motta em Leiris
chama de uma tentativa de manter a separação entre razão e sensibilidade, os dois muito
presentes em “Tristes Trópicos” 4.
4 “Não pode haver redenção nem mesmo pelo sensível e pela imaginação, já que nada detém o curso da história (no caso, o desaparecimento das civilizações indígenas). Por isso, é preciso recorrer a

Ou seja, entre os limites e ambiguidades de um trabalho de antropologia, do que
foi e do que tem sido, também, só posso reafirmar as múltiplas dimensões de deste texto
de Lévi-Strauss (1996), em que encontramos uma discussão perfeitamente atual, como a
de Lyn Schumaker (2001), perpassando a própria história da disciplina desde sua
institucionalização.
Bibliografia
BOM MEIHY, José Carlos Sebe (2005). Manual de História Oral. São Paulo, Loyola.
CARVALHO, Bernando (2011). A pena do etnólogo. Folha de São Paulo, Caderno Ilustríssima, 9 de janeiro de 2011. Resenha de: Debaene, Vincent. "L'Adieu au Voyage -L'Ethnologie Française entre Science et Littérature", Gallimard, 2009.
FREHSE, Fraya (2006). Do impacto da modernidade sobre a civilidade das elites nas ruas de São Paulo no século XIX. In: Frúgoli Júnior, H. Andrade, L. & Peixoto, F. (orgs). As cidades e seus agentes: práticas e representações. Belo Horizonte; São Paulo: Ed. PUC Minas; EDUSP.
GINZBURG, Carlo (2004). Nenhuma Ilha é Uma Ilha: quatro visões da literatura Inglesa. São Paulo, Companhia das Letras.
HALBWACHS, Maurice (1990). A memória coletiva. São Paulo: Vértice, Editora Revista dos Tribunais.
HATOUM, Milton (2004). Laços de Parentesco – Ficção e Antropologia. In: Pontes, H., Schwarcz, L.M. & Peixoto, F.A. Antropologias, histórias, experiências. Belo Horizonte: Editora UFMG.
LEACH, Edmund R. (1981). “La base epistemológica del Empirismo”. In: Firth, R. Fortes, M., Leach, E. R., Mair, L. Nadel, S.F., Parsons, T. & outros Hombre y Cultura – La obra de Bronislaw Malinowski. Siglo Veintiuno editores. México, España, Argentina, Colombia.
MALINOWSKI, Bronislaw (1997). Um diário no sentido estrito do termo. Rio de Janeiro: Record.
MOTTA, Antônio (2006). A África Fantasma de Michel Leiris. In: Grossi, M. P., Cavignac, J. A. & Motta, A. (orgs). Antropologia Francesa no século XX. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangama.
modos de articulação entre a experiência e o saber. Ou seja: "O 'segundo livro' - Tristes Trópicos, pois o primeiro havia sido “ A vida familiar e social dos índios Nambiquara” – “não é uma condenação da ciência ou uma compensação das suas insuficiências, mas o relato da experiência subjetiva que a tornou possível, ou o relato da construção do objeto teórico, ou uma combinação dos resíduos que todo empreendimento do conhecimento deixa para trás".” (Carvalho, 2011)

PEIXOTO, Fernanda Âreas (2006a). As cidades nas narrativas sobre o Brasil. In: Frúgoli Júnior, H., Andrade, L. & Peixoto, F. (orgs). As cidades e seus agentes: práticas e representações. Belo Horizonte; São Paulo: Ed. PUC Minas; EDUSP.
_______________________ (2006b). O nativo e o narrativo – os trópicos de Lévi-Strauus e a África de Michel Leiris. In: Grossi, M. P., Cavignac, J. A. & Motta, A. (orgs). Antropologia Francesa no século XX. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangama, 2006.
ROSA, João Guimarães (2007). “Conversa de bois”. In Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.