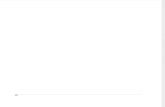Expediente - foradasala.files.wordpress.com · Apresentação.....4 Conceito de saúde ......
Transcript of Expediente - foradasala.files.wordpress.com · Apresentação.....4 Conceito de saúde ......
ExpedientePublicação: Publicação: Publicação: Publicação: Publicação: Fórum Sul da Saúde (PR. SC e RS) e Centro de Educação e AssessoramentoPopular de Passo Fundo (CEAP)
Elaboração do texto: Elaboração do texto: Elaboração do texto: Elaboração do texto: Elaboração do texto: Henrique Kujawa, Valdevir Both e Volmir Brutscher(Educadores populares)
Revisão de texto:Revisão de texto:Revisão de texto:Revisão de texto:Revisão de texto: Adriana Sandini Mioto ([email protected])
Planejamento gráfico e ilustrações: Planejamento gráfico e ilustrações: Planejamento gráfico e ilustrações: Planejamento gráfico e ilustrações: Planejamento gráfico e ilustrações: Leandro Malósi Dóro([email protected]) . Tel.: (51)92160160
Endereço para informações:Endereço para informações:Endereço para informações:Endereço para informações:Endereço para informações:
Centro de Educação e Assessoramento Popular de Passo Fundo (CEAP)
Rua Senador Pinheiro, 304
Caixa Postal: Caixa Postal: Caixa Postal: Caixa Postal: Caixa Postal: 576
CEP:CEP:CEP:CEP:CEP: 99070-220 - Passo Fundo (RS)
Fone/fax:Fone/fax:Fone/fax:Fone/fax:Fone/fax: (54)313-6325
Correio eletrônico: Correio eletrônico: Correio eletrônico: Correio eletrônico: Correio eletrônico: [email protected]
2
4
Sumário
Apresentação.....4
Conceito de saúde.....5
Elementos do histórico das políticas públicas de saúde no Brasil no século XX.....13
Princípios do SUS.....21
Controle social.....31
Organização e funcionamento do sistema.....39
Avaliação do SUS.....51
Educação popular e saúde.....61
Anexo 1....69
Anexo 2.....77
Hoje existem dois conceitos de saúde. Um que considera a saúde
como ausência da doença e outro que a considera igual à qualidade de vida.
Este, portanto, está relacionado com moradia, trabalho, alimentação, lazer,
relações sociais etc.
A forma como as pessoas concebem a saúde (conceito de saú-
de) não é algo pronto e ocasional, mas é construído historicamente e
permeado por determinada ideologia.
Histórico, pois seu significado modificou-se em conformidade com
os períodos históricos sofrendo influência do contexto e das experiências
de cada sociedade. Ideológico, porque na construção da compreensão desse
conceito está contida uma concepção de homem, de sociedade, de organiza-
ção da economia e da política. Demonstraremos, embora muito rapidamen-
te, como nos diversos momentos históricos se construíram conceitos de
saúde e modelos de atenção motivados pelo contexto do momento que, ao
mesmo tempo, contemplava uma compreensão ideológica.
Conceito de Saúde Feudal (séc. V - XV)
A sociedade feudal foi marcadamente teocêntrica, tendo em Deus a explicação de todas as coisas. Por
meio de Deus se justificava a ordem social, principalmente a exploração dos senhores (donos das terras) sobre
os servos (trabalhadores). Dentro desse contexto, o conceito de saúde que se estabelece é de que ela é
BÊNÇÃO DE DEUS.
A morte para os servos era sinônimo de ir para o céu, pois a sua pobreza e miséria eram justificadas e
compensadas com a promessa de receber em troca o céu. Surgem, nesse contexto social de justificativas para
exploração, processos de resistência. Uma delas foram as BRUXAS que eram perseguidas e queimadas vivas nas
fogueiras em praças públicas pelos tribunais da Inquisição, porque faziam um processo de resistência ao
teocentrismo e à dominação feudal. As bruxas praticavam a medicina através de rituais (não reconhecidos pela
igreja) e da utilização de chás, o que lhes permitia questionar o poder da igreja e o pensamento de que a saúde
e a morte eram determinações divinas, pensamento esse hegemônico na época.
6
A forma como as pessoas concebem asaúde(conceito de saúde) não é algopronto e ocasional, mas construído
historicamente e permeado por deter-minada ideologia.
7
Note como, na Idade Média, a saúde era pauta para fazer a disputa de projeto político. Não existia
política pública para a saúde e o modelo de atenção era a caridade ao doente. Os doentes eram considerados um
castigo de Deus (fruto dos pecados da sociedade) que deveriam ser escondidos ou afastados. Com isso surgem
as práticas diferentes: as bruxas que são perseguidas por representar uma contestação.
Idade Moderna (séc. XV – XVIII)
Nesse período, a economia pelo comércio (mercantilismo) predominava. O poder político estava com
os reis. As metrópoles (Portugal) buscavam as colônias (Brasil). Para ir em busca dessas colônias, dominá-las e
explorá-las, precisava do aumento populacional. Ao mesmo tempo, vínhamos de um contexto de baixa densi-
dade demográfica devido aos problemas sofridos no século XIV e XV. Nesse contexto, o escravo valia dinheiro,
pois era necessária grande quantidade de mão-de-obra. O aumento populacional, na época, significava poder
econômico para os reis.
O objetivo era, então, evitar epidemias,
pois as pessoas não podiam morrer, porque seu
trabalho era necessário para “desenvolver” a eco-
nomia.
Para manter as pessoas vivas e haver um cres-
cimento populacional também era preciso dar atenção às condições de higiene. Começa-se exigir do Estado a
política da saúde, ou seja, exigir a intervenção para se garantir crescimento populacional.
Embora não seja objetivo analisar as políticas de saúde adotadas em cada período, é importante, a título
de ilustração, transcrever a justificativa de um médico da época para convencer o rei investir na saúde:
Suponhamos que nos domínios do Rei existam 9 milhões de pessoas, das quais 360 morram a cada ano, e das quais
nasçam 440 mil. E suponhamos que, pelo avanço da arte da medicina, morra uma quarta parte a menos. Então, o Rei ganhará e
poupará 200 mil súditos por ano que, avaliados em 20 libras por cabeça, o mais baixo preço de escravos, significará 4 milhões de
lucros para a coroa1.
Petty, traduz claramente qual era a compreensão de saúde do período mercantilista, bem como a con-
cepção ideológica contida ali. Os seres humanos, que não compunham a nobreza, eram considerados mercado-
1PETTY, William, citado por José Carlos de Souza Braga e Sérgio Góes de Paula na obra Saúde e Previdência, Estudos de Política Social. S.P: Hucitec,
1986.
rias. Por isso ter saúde era considerado estar vivo, au-
mentar a população para atender as necessidades eco-
nômicas da época.
Revolução Industrial
O desenvolvimento industrial traz consigo um
conjunto de transformações econômicas e sociais.
Diversos teóricos, até hoje, se ocupam da discussão e
divergem sobre os benefícios e os prejuízos sociais
trazidos pela industrialização. Sem pretensão de en-
trar nesse debate é importante frisar que a Revolução
Industrial trouxe novos problemas sociais, entre eles
destacam-se: necessidade de maior quantidade de mão-de-obra, divisão do trabalho, urbanização, consolidação
do assalariado (venda da força de trabalho) e, portanto, de uma nova forma de exploração.
A característica central da Revolução Industrial é a mecanização da produção, acompanhada da urbani-
zação forçada pelas indústrias. As pessoas tinham que viver perto das fábricas para que o custo da produção
baixasse. Na Europa, acontecerão os cercamentos para criar ovelhas que produziriam matéria-prima. Isso exigiu
que as pessoas saíssem de suas propriedades. Surge a lei dos pobres da Inglaterra que vai punir os andarilhos.
Com isso todos iam para as cidades.
• O conceito de saúde passa a ser ter condições de trabalhar nas fábricas
Começa a discussão do saneamento e se cria, pela primeira vez, o conceito de que o pobre deve ter
assistência para se tornar mão-de-obra. A atenção, nesse período, é diferenciada para os operários e para os
indigentes. Especial para os operários, pois deles dependia a mão-de-obra das fábricas. A atenção com os
indigentes é apenas para não alastrar epidemias.
• Conceito Clássico de Saúde (Pensamento Liberal)
Nesse contexto histórico, da Revolução Industrial, surgem os pensadores clássicos que fazem uma aná-
8
“Todo homem tem direito a umpadrão de vida capaz de assegurar, asi e à sua família, saúde e bem-es-tar, inclusive alimentação, vestuá-rio, habitação, cuidados médicos e
os serviços sociais indispensáveis”
9
lise da situação socioeconômica, embora não abordem diretamente a problemática da saúde. Essas formulações
permitem identificar diferentes posições entre os Liberais e os Socialistas.
Os liberais não trabalham especificamente o conceito de saúde e quando se referem a ela, atribuem um
viés econômico. A maior preocupação era garantir, através de um rendimento mínimo, a sobrevivência da força
de trabalho.
Um dos grandes teóricos do liberalismo foi Adam Smith que vai discutir o conceito de Estado. Para ele,
o Estado não deveria interferir na economia. Nessa lógica, o Estado também não deveria discutir
saúde enquanto política pública. Vai dizer que a saúde é uma questão de responsabilidade da sociedade.
Portanto, a saúde é caridade. Isso terá peso muito grande na resistência ao industrialismo. Não se tinha nenhu-
ma garantia de assistência quando o operário se machucasse na fábrica. Surge a fraternidade entre os emprega-
dos. As condições precárias de trabalho vão ser a base para a organização do movimento operário que passa a
reivindicar melhores condições de trabalho e maio-
res salários. São esses movimentos que garantem as
primeiras leis trabalhistas.
Outro pensador liberal que vai se ocupar da
saúde é Malthus. Dentro da mesma lógica de consi-
derar o ser humano uma mercadoria e analisá-lo apenas pelo viés econômico, preocupou-se com o crescimento
da natalidade, uma vez que, pela sua análise, o crescimento populacional era superior ao crescimento econômi-
co. Pois, conforme David Ricardo, a população em boas condições de vida se reproduzirá demasiadamente o
que, certamente, será um problema. Para Malthus, a produção cresceria de forma aritmétrica (2+2=4+2=6+2=8)
e a população cresceria de forma geométrica (2x2=4x2=8x2=16). Para resolver esse problema, Malthus aborda,
como política de saúde, a necessidade do controle de natalidade efetivado, dentre outras formas, pelo estabele-
cimento de um salário apenas suficiente para a sobrevivência uma vez que quanto maior os obstáculos, menor
seria a natalidade.
Marx, nesse mesmo período, é o primeiro teórico que aborda a temática da saúde dentro de uma pers-
pectiva mais ampla, apontado que a saúde é fruto de diversos fatores, inclusive das condições de trabalho,
de moradia, de alimentação etc. Nessa perspectiva, aponta que o Estado deveria garantir condições de
trabalho que não explorassem e, ao mesmo tempo, garantir o tratamento da doença. Na análise do capitalismo
e proposição do socialismo desenvolvidas por
Marx com o objetivo de demonstrar os pro-
blemas do capitalismo e propor uma alternati-
va ao sistema socioeconômico do século XIX,
o Estado assume papel fundamental para o
desenvolvimento da sociedade.
MARX não trabalha a saúde como ques-
tão social, mas para ele a saúde estava ligada à
estrutura econômica. Para Marx, as condições
de trabalho são importantes para a saúde. No
capitalismo, o trabalhador nunca teria saú-
de, pois sempre seria explorado. Suas con-
dições de moradia, de alimentação e de tra-
balho sempre seriam determinadas pelo desejo de lucro do patrão. Portanto, salário é sinônimo de má-
saúde, porque o salário já é sinônimo de exploração. Ou seja, por meio dele o trabalhador recebe apenas uma
parte (e não todo o fruto de seu trabalho) deixando mais-valia (lucro) para o seu patrão. Com isso o trabalhador
não consegue suprir suas necessidades de sobrevivência.
Podemos perceber que no século XIX surgem dois conceitos de saúde bem diferentes que expressam
concepções de mundo desiguais, isto é, são ideologicamente diferentes.
• Conceito Neoclássico
Pós-Segunda Guerra Mundial (1939-45) surgiu a Guerra Fria. Uma disputa entre os EUA, representan-
do capitalismo, e URSS, o socialismo. Os EUA surgem como a grande potência capitalista e passam a influenciar
na reconstrução da Europa destruída pela guerra e, ao mesmo tempo, espalhar pelo mundo a sua concepção de
saúde entendida como um negócio que visa ao lucro.
Acontece o avanço tecnológico. No campo, o emprego da tecnologia vai provocar a revolução verde. A
tecnologia vai ser empregada no campo da saúde. Isso vai representar a revolução industrial da saúde. O inves-
timento em saúde proporcionava desenvolvimento. Dava lucro direto (emprego na construção de hos-
10
pitais) e indireto (materiais de construção e indústria farmacêutica).
Nesse processo entende-se a produtividade da doença. Os médicos ganham por atendimento que fa-
zem, ganham por produtividade. A indústria farmacêutica se desenvolve e toma conta. Portanto, motivada pelo
processo da industrialização, a lógica capitalista industrial abarcou o sistema de saúde. Defende a modernização
da saúde (hospitais, equipamentos etc.) e um grande investimento do Estado na saúde privada, pois entendia
que isso geraria desenvolvimento direto e indireto (construção de hospitais e empregos no sistema de saúde)
É esse conceito neoclássico de saúde que vai nortear as políticas de saúde no Brasil nos anos 1940, 1950
e depois durante a ditadura militar.
Mas no período neoclássico, vamos ter o desenvolvimento de um conceito de saúde antagônico daquele
entendido enquanto “ausência de doença”. Além de afirmar a saúde como qualidade de vida, avança no sentido
de entendê-la enquanto direito fundamental.
Terminada a Segunda Guerra Mundial, criou-
se a ONU (Organização das Nações Unidas) e a OMS
(Organização Mundial da Saúde). Em 1946, a OMS
já conceituava a saúde como “um estado de com-
pleto bem-estar físico, mental e social, e não ape-
nas a ausência de doenças”(preâmbulo incorporado à Constituição da Organização Mundial da Saú-
de). Na década de 60, um autor chamado René Dubos, num exercício de explicar o conceito de saúde adotado
pela OMS, dirá que “sob o ponto de vista médico, o homem é, geralmente, mais um produto de seu ambiente do que de seus dotes
genéticos. A saúde do povo é determinada não por sua raça, mas por suas condições de vida. (...). Com efeito, os fatores sociais são
de importância tão óbvia como causa e controle de doenças que muitos sociólogos, e até médicos, estão inclinados a acreditar que
reformas políticas e sociais são a maneira mais acertada de melhorar a saúde das populações destituídas. Portanto, reafirma-se,
de forma categórica, que não podemos entender a saúde como “não estar doente”, mas como ter qualidade de
vida.
Após o término da guerra, a saúde passa a ser entendida como direito fundamental de todo ser humano.
Está claro na Declaração Universal dos Direitos Humanos, votada em 1948 pela ONU, que foi assinada pelos
países, incluindo o Brasil: “todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar, a si e a sua
família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os servi-
“Todo homem tem direito a umpadrão de vida capaz de assegurar, asi e à sua família, saúde e bem-es-tar, inclusive alimentação, vestuá-rio, habitação, cuidados médicos e
os serviços sociais indispensáveis”
11
ços sociais indispensáveis, (...). Nessa perspectiva, quando reconhecemos determinado direito, é preciso que
alguém tenha responsabilidade de garanti-lo. Essa responsabilidade cabe ao Estado.
Portanto, todos os países que assinaram a declaração deveriam, a partir daí, implementar políticas públi-
cas capazes de efetivar o direito à saúde para todos. Diferente da perspectiva de colocar a saúde na mão do
mercado minimizando o papel social do Estado, a lógica de entender a saúde como direito fundamental maximiza
o papel social do Estado. Essa concepção vai estar presente de forma muito forte na construção do SUS no
Brasil.
O que se observa novamente, neste período histórico, são dois conceitos divergentes de saúde que vão
estar em constante disputa.
12
Depois de entender que cada período históri-
co (contexto) desenvolveu um conceito de saúde que
expressava uma concepção de mundo (ideológica),
vamos descrever, brevemente, como foi sendo
construída a compreensão de saúde no Brasil.
Na história brasileira, a questão social foi, nor-
malmente, tratada como problema social, classifica-
da a partir de alguns critérios éticos e morais, mas
sempre ligados à necessidade da permanência da or-
dem social (segurança social). Nessa perspectiva, os
fenômenos sociais poderiam ser compreendidos de duas formas: a) injustiça social (desemprego, pobreza,
analfabetismo) considerada inaceitável pela sociedade, mas tolerada por não representar, no imaginário social,
perigo à ordem social; b) violência social (homicídio, latrocínio, invasão da propriedade) além de inaceitável,
também considerada intolerável por ameaçar a ordem social e a segurança individual, portanto devendo ser
prioridade para o Estado. Em outras palavras, só era intolerável, e então atacada imediatamente, a violência
social que representava ameaça às propriedades e à “ordem”.
Podemos afirmar que a questão social da saúde se enquadra, na perspectiva histórica brasileira, como
injustiça social, portanto tolerável. Por isso, o Estado brasileiro vai tratá-la como política pública só tardiamente.
É durante o século XX que podemos visualizar com maior intensidade a adoção de políticas públicas de saúde.
Só a partir de 1988, a saúde torna-se um direito de todos. Dando ênfase à história mais recente do Brasil, século
XX, em seguida trataremos as diretrizes gerais definidas para a política de saúde no último século.
República Velha (1889-1930)
O final do século XIX e início do século XX foram marcados pela consolidação de um novo regime
político, a República e, ao mesmo tempo, pela construção da hegemonia de um novo grupo econômico, a
burguesia cafeeira. Foi um período de diversificação econômica, de grande aumento das exportações, de uma
intensa imigração européia, de urbanização e da influência sofrida pelas transformações tecnológicas e científi-
cas.
14
Podemos afirmar que a questão soci-al da saúde se enquadra, na pers-
pectiva histórica brasileira, comoinjustiça social, portanto tolerá-vel. Por isso, o Estado brasileirovai tratá-la como política pública
só tardiamente.
As transformações vivenciadas nesse período provocaram alguns problemas como, por exem-
plo, as epidemias que dizimavam grande número de vidas e, principalmente, repercutiam no modelo
econômico exportador que estava se consolidando. O risco de contágio das doenças infecto-contagio-
sas estava prejudicando o comércio, uma vez que diversos navios negavam-se a atracar em portos
brasileiros para comprar o café e trazer os produtos industrializados dos países europeus e Estados
Unidos. A imigração começou a diminuir, inclusive com indicações oficiais, por parte de países euro-
peus, que seus membros evitassem vir para o Brasil. Esses problemas exigiram uma ação imediata
que resultou na campanha de vacinação obrigatória e nos projetos de saneamento no Rio de Janeiro e
no Porto de Santos.
Os interesses econômicos garantiram que
a saúde fosse tratada como uma “questão de po-
lícia”, para garantir os “interesses nacionais”.
A segunda década do século XX trouxe mais
transformações: a abundância de mão-de-obra e a di-
ficuldade de importação em função da Primeira Guerra
Mundial (1914-1918). Isso impulsionou um embrio-
nário processo de industrialização, ampliando a urbanização e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma
classe operária influenciada pelas teorias anarco-sindicalistas que passaram a exigir melhorias nas condições de
trabalho. Eclodiram diversas greves em 1917, 1918 e 1919 que, embora reprimidas, possibilitaram avanços nas
conquistas de direitos. Uma dessas conquistas resultou na lei que criou as Caixas de Aposentadorias e Previdên-
cia – CAPs – (Lei Elói Chaves, 1923). Eram fundos constituídos nas fábricas e recebiam a contribuição dos
empregados, dos empregadores e do governo. O objetivo era garantir a aposentadoria dos contribuintes e,
gradativamente, desenvolver ações em saúde. A constituição das CAPs se dava nas empresas que tinham um
número maior de empregados. Eles conseguiam constituir maior pressão e força de reivindicação.
Portanto, nas primeiras três décadas do século XX, podemos identificar a constituição de duas linhas de
ação das políticas de saúde, de um lado a atenção primária, saneamento e vacinação para combater e evitar
novas epidemias e, por outro, a atenção a grupos operários que conseguiam contribuir para a constituição de
uma previdência. Grande parte da população continuava dependendo da caridade e da ação dos curandeiros.
15
A Era Vargas (1930-1945)
Esse período foi marcado por uma grande
mudança na estrutura política e econômica do Brasil.
O poder dos grandes oligarcas e coronéis foi substi-
tuído por um processo de centralização política. A
economia agro-exportadora do café aos pouco foi
dando lugar a um processo de diversificação econô-
mica e de industrialização. Getúlio Vargas buscou dar
sustentação ao seu novo regime político através de
uma aproximação com o movimento sindical e com
as classes operárias. Entre as medidas tomadas com
esse intento estão a criação das leis trabalhistas, o
atrelamento do movimento sindical ao governo e a
criação do Ministério da Saúde e do Trabalho. Isso
significava avanços de direitos para classe trabalhado-
ra, mas também a qualificação da mão-de-obra neces-
sária à industrialização.
Na saúde, as CAPs foram transformadas em IAPs – Institutos de Aposentadoria e Previdência. A
unificação não foi nada mais do que aglutinar, em um único instituto, todas as CAPs de uma mesma categoria
profissional que antes eram organizadas por empresas. Isso permitiu uma maior centralização dos recursos e,
teoricamente, maior homogeneização dos serviços uma vez que as empresas maiores (sua arrecadação e seus
serviços) seriam padronizadas com as menores, porque os recursos iriam para o mesmo caixa. Nesse período,
os IAPs aumentavam sua arrecadação constantemente em função do número de empresas de cada setor e do
número de operários que crescia aceleradamente. Os recursos acumulados pelos IAPs (dinheiro dos traba-
lhadores) permitiram ao governo o financiamento do crescimento industrial, como a viabilização de
Volta Redonda e a Usiminas. Mais adiante abordaremos as conseqüências da utilização, por parte do Estado,
dos recursos da previdência para o financiamento da indústria.
A atenção ao combate às epidemias continuou, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial,
16
através de Serviços Nacionais de Prevenção. Entre suas ações destaca-se o combate à malária na região amazô-
nica (essa epidemia prejudicava a extração da borracha/látex usada pelos EUA na Segunda Guerra Mundial).
Contudo, a concentração de recursos passara a localizar-se nos Institutos de Previdência aos quais só os contri-
buintes tinham acesso.
Portanto a Era Vargas, em suas fases democráticas ou ditatoriais, embora tenha promovido uma maior
centralização da previdência e com isso uma maior interferência do Estado, a atenção à saúde permaneceu
restrita a quem tinha capacidade de contribuir e a política pública concentrou-se nas regiões periféricas objetivando
evitar as epidemias que pudessem trazer mais prejuízos econômicos.
A Redemocratização e a Implemantação do Modelo Neoclássico (1945-1964)
O período pós-Segunda Guerra Mundial foi
marcado pelo impacto provocado pelo Holocausto,
pelas bombas atômicas, pelo grande desenvolvimen-
to das ciências, notadamente a química, a física e a
medicina. Ao mesmo tempo, temos a constituição da
Guerra Fria que bipolarizou o mundo entre o bloco
socialista, liderado pela URSS e o bloco capitalista, hegemonizado pelos EUA. Foi nesse período que o Brasil
inicia uma era do desenvolvimentismo, com acelerado processo de industrialização tutelado pelo capital e pelas
tecnologia externos.
Em meio ao crescimento industrial e às influências externas, ocorre a adoção do modelo neoclássico de
saúde sustentado pelo grande desenvolvimento químico-farmacêutico e pela grande quantidade de equipamen-
tos de diagnóstico. Grandes hospitais são construídos, volumosos investimentos em equipamentos e na
indústria farmacêutica são sustentados pela compreensão que a atenção à saúde deveria receber um
tratamento como qualquer outro setor da produção industrial. Esse processo teve grande investimento
dos IAPs, (dinheiro dos trabalhadores) que cresciam e aumentavam proporcionalmente ao aumento das indús-
trias e dos operários que contribuíam com seus institutos. Como já mencionamos, a saúde passa a ser vista
como um investimento industrial, como tal, deveria ser tratada com injeção de capital e com tecnologia externas
e com garantia de produção de taxas excedentes (lucro) que justificassem os investimentos.
Os recursos acumulados pelosIAPs (dinheiro dos trabalhadores)permitiram ao governo o financia-mento do crescimento industrial,
como a viabilização de Volta Redon-da e a Usiminas.
17
Ditadura Militar
Os militares assumem o poder para
romper com um período de grande pressão
popular que pretendia promover reformas so-
ciais (agrária, educacional, urbana) para tornar
o Brasil mais justo. Entre as grandes reformas
pretendidas estava a da saúde, defendida e
delineada na 3ª Conferência Nacional de Saúde
realizada entre 9 e 15 de dezembro de 1963.
Ela sustentava duas teses fundamentais e que
embasaram o SUS: a defesa da saúde para to-
dos e a municipalização como o caminho. Em
contraposição, após o início da ditadura mili-
tar, em março de 1964, as políticas tomam ou-
tros rumos. As políticas desenvolvidas pelos
militares vão reforçar o modelo de saúde capi-
talista que priorizou os hospitais, os remédios e reforçou o modelo de atendimento somente a quem contribuía
com a previdência. Em 1966, foi criado o INPS que centralizou todos os IAPs, formando assim um grande
caixa de dinheiro. Ele foi utilizado, entre outros, para financiar obras como a Transamazônica e a Itaipu (neces-
sárias para o capital se desenvolver) ou, então, para fraudes gigantescas, pois os recursos não tinham nenhum
controle ou fiscalização. Na saúde, a estratégia do governo foi subsidiar grupos privados para construí-
rem grandes hospitais através de um fundo chamado Faz Que. Em seguida, o governo credenciava
essas estruturas para prestarem serviços ao INPS, o que garantia a eles os recursos para pagar suas
prestações. É nesse período que, juntamente com a construção de grandes hospitais e com o aumento das
consultas fornecidas pelo INPS (necessárias ao mercado da doença subsidiado pelo governo), reapareceram
doenças e epidemias por falta de saneamento e de atenção básica. Consolida-se, no Brasil, o conceito de saúde
como ausência de doença.
Tínhamos uma política militar que reprimia os movimentos sociais, investindo mal o dinheiro público da
18
O princípio da racionalidade prevêque não haja oferta de procedimen-
tos desnecessários e, portanto,desperdício de recursos.
saúde e permitia fraudes, e também atividades que aglutinavam profissionais, intelectuais e um movimento
popular para construir uma nova proposta de política de saúde chamado “Movimento da Reforma Sanitária”
que vai gestar a nova política de saúde para o país.
As Origens do SUS
À política econômica e de saúde implantada pela ditadura seguiu-se a falência da previdência no início da
década de 80. Além da corrupção em relação ao dinheiro da previdência, o investimento em setores de infra-
estrutura que não mais retornou ao Estado (previdência) e o aumento da crise no país fizeram com que a
previdência quebrasse. Veio então o descredenciamento dos hospitais privados que não queriam mais atender a
população com pagamento do Estado. Isto é, quando a rede privada conseguiu se fortalecer com o dinheiro dos
trabalhadores (subsídio para hospitais e equipamentos) e surgiu a crise da previdência, sentiu-se autorizada a
prestar assistência somente de forma privada.
Com o Estado sem dinheiro, a população
desempregada ou com salários arrochados e a ini-
ciativa privada se descredenciando, o caos na saú-
de se instala. Para agravar o problema, o governo
ditatorial “esquece” da saúde pública, o que faz epidemias antes controladas voltar. Esse contexto se torna
favorável à lógica de saúde hospitalocêntrica que cada vez mais aumenta seus lucros, porque há pouca promoção
e prevenção e, conseqüentemente, muitos doentes.
Mas esse ambiente desperta também o que chamamos de contra-reação ao modelo
hospitalocêntrico. Ela é liderada pelo movimento da Reforma Sanitária e parte do pressuposto, a partir de
uma nova concepção de saúde que atendia aos anseios dos movimentos sociais e da população em geral, de que
os brasileiros são cidadãos e, por isso, sujeitos de direitos e entre estes está a SAÚDE. Nesse sentido, a saúde é
um direito de todos, independente de ter carteirinha ou não e, para atingi-la, o sistema deveria ser integral, ou
seja, dar conta da promoção proteção e recuperação (recupera o conceito de saúde como qualidade de vida).
Embora a proposição pareça expressar o óbvio e, dessa forma, todos deveriam concordar com
ela, na realidade não é bem assim. A proposta elaborada pelo Movimento da Reforma Sanitária mexeu
com interesses e concepções de mundo. O setor privatista (grandes hospitais, laboratórios, clínicas,
19
planos de saúde) percebeu que ela se chocava com os seus interesses de tratar a saúde como doença e
ganhar dinheiro com atendimento médico, remédios, exames, internações hospitalares. Setores políti-
cos não entendiam que todas as pessoas são cidadãos e, portanto, têm direito à saúde e, principalmen-
te, que o dever de garantir esse direito é do Estado. Esses setores achavam que o Estado deveria
garantir atenção só para os pobres e os demais deveriam pagar planos particulares.
O projeto do SUS nasce se contrapondo a esses interesses e exigindo muita luta de pessoas e movimen-
tos comprometidos com um novo modelo de saúde para o país. Nesse percurso, houve dois momentos impor-
tantes: o primeiro é a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) que, pela primeira vez na história, teve grande
participação popular e garantiu a aprovação da proposta do SUS elaborada pelo Movimento da Reforma Sani-
tária; o segundo é a grande mobilização social que pressionou a Assembléia Constituinte para que colocasse a
proposta defendida pelos movimentos sociais na Constituição brasileira.
Assim, em 1988, o SUS ganhou base legal. Com isso não queremos dizer que ele foi implementado. O
projeto se confronta com interesses econômicos e ideológicos e, portanto, a conquista da base legal é apenas
um passo da luta que continua até os dias de hoje para que ele seja efetivamente implementado.
20
A memória da construção e conquista do SUS é importante,
porque no processo de luta, estavam um conjunto de anseios popu-
lares que se traduziram em princípios do Sistema, incorporados mais
tarde na legislação do país. O que significa que os fundamentos do
novo sistema de saúde no Brasil, a partir de 1988, não nasceram em
quatro paredes, a partir de análises e conclusões de alguns técnicos.
Foram uma construção de grande parcela da sociedade (sintetizada
no movimento pela reforma sanitária) a partir de experiências exitosas
de outros países e do contexto específico por que passava o Brasil.
Quando falamos em princípios do que estamos tratando? O
dicionário apresenta, entre outros significados, o seguinte:“ato de prin-
cipiar, momento em que alguma coisa tem origem; início, começo, causa primária;
razão fundamental, base”. Embora todos esses termos não esgotem a riqueza da palavra princípio, ajudam a enten-
der o que são os princípios do SUS. Poderíamos dizer que o princípio é aquilo que dá fundamento, a base
sobre a qual a nova política pública de saúde foi construída. Ou, ainda, uma espécie de luz que faz enxergar
o caminho que todas ações de saúde devem seguir. Sem eles, ou quando não são seguidos, o SUS perde o que
tem de mais essencial: a capacidade de garantir o direito à saúde para todos.
O esforço de se construir em todo Brasil um sistema de saúde regido pela mesma doutrina está assenta-
do na idéia de princípios. Portanto, diferente de todas as políticas de saúde implementadas anteriormente no
Brasil, o SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um Sistema que significa um conjunto de unidades, serviços e ações que
interagem para um fim comum. (ABC do SUS, citação). E, sendo um sistema que se organiza em todo território
nacional sob a mesma filosofia, de quem é a responsabilidade pela sua implantação? Ela é dos três níveis de
governo da federação: União, estados e municípios.
PRINCÍPIOS
Para tratar dos diferentes princípios do SUS, vamos dividi-los em dois: primeiro, os princípios que estão
na base da construção do SUS. Em seguida, os princípios ou diretrizes que devem orientar a organização do
SUS em todo o país.
22
Poderíamos dizer que o princípio éaquilo que dá fundamento, a base
sobre a qual a nova política públi-ca de saúde foi construída.
• Universalidade
Conforme o artigo 196 da Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Embora
possamos dizer que essa frase expressa o óbvio, é importante repeti-la porque muitas vezes o óbvio não é
garantido. Duas são as implicações dessa passagem constitucional:
a) A saúde é direito de todos. Se antes da Constituição de 1988 era preciso contribuir para a Previdência
Social para ter acesso à saúde pública, agora todo cidadão deve tê-lo pelo simples fato de ser humano, não
importando sexo, idade, crença religiosa, partido político, contribuição previdenciária etc. Está presente no SUS
a lógica do conceito de saúde contra-hegemônico do período neoclássico que entendia a saúde como direito da
cidadania.
Entendida enquanto direito, a saúde deve
ser gratuita. Desrespeita a lei (portanto precisa
ser punido), o prestador de serviço público ou
privado contratado pelo SUS que cobra qualquer
quantia dos usuários.
Entretanto, a gratuidade não é um favor prestado pelo poder público. É, antes de tudo, parte da digni-
dade humana (portanto ninguém dá um direito ao outro, mas este se constrói e se conquista historicamente) e
direito porque todos pagamos impostos. Por exemplo, ao adquirir qualquer produto para consumir, nele já está
incluído um imposto. Por isso, é mais do que justo termos serviços públicos de qualidade como a saúde. Se
pagarmos pelos serviços de saúde (nos postos de saúde, hospitais, clínicas ou adquirirmos um plano de saúde),
estaremos pagando duas vezes pela saúde.
b) A saúde é de responsabilidade do Estado (município, estado e União). Quando uma necessidade
humana é reconhecida como direito fundamental, alguém deve ter a responsabilidade de construir as condições
concretas para sua efetivação. Embora a sociedade em geral tenha um papel na implementação do SUS, a
responsabilidade primeira ou máxima é do Estado. Nesse sentido, a saúde não é favor prestado pelo vereador,
prefeito, governador ou presidente da República.
23
Por fim, como a saúde é de relevância pública,
quem tem obrigação de fiscalizar o Estado e, quando
houver necessidade, fazer com que cumpra com seu
papel é o Ministério Público. Seu papel é fazer cumprir
a lei. Esse é um importante ente do Poder Judiciário,
do qual muitas vezes estamos longe, que precisamos
procurar em caso de dificuldade de acesso à saúde.
• Integralidade
O SUS parte de uma concepção de homem que
está presente em toda sua estruturação. Compreende-o
como “um ser integral, bio-psico-social, e deverá ser entendido
com essa visão integral por um sistema de saúde integral, voltado
a promover, proteger e recuperar sua saúde”.(ABC do SUS,
citação). Nesse sentido, o princípio da integralidade do
SUS é entendido de duas formas:
a) Integralidade vertical, em que o ser humano é entendido como um todo, não-fragmentado, integrado
a uma comunidade e vivendo num contexto específico. Quando as ações em saúde não levam em conta todos
os aspectos envolvidos na vida do ser humano (biológicos, psíquicos, sociais etc) fragmenta-o e atua sobre a
parte. Mesmo não de forma explícita, essa forma de entender o ser humano faz parte da indústria da doença,
conforme mencionado no capítulo anterior.
b) Integralidade horizontal. Ao dizer que o ser humano é um todo, precisa estar atendido por um
sistema de saúde que dê conta desse todo. Isso quer dizer que temos direito às diversas ações em saúde: promo-
ção, prevenção, recuperação e reabilitação que precisam estar articuladas. Conforme o art. 198 da Constitui-
ção, temos direito ao “atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem preju-
ízo dos serviços assistenciais”. Isso significa que o importante é promover e prevenir as doenças para que o
24
ser humano viva bem. Mas, em certos momentos, a promoção e a prevenção não são suficientes, pois somos
atingidos por moléstias. Nesse caso, temos direito aos serviços assistenciais tanto de tratamento como de
reabilitação. Se não estão disponíveis num determinado município, este deve encaminhar a pessoa a outro que
os tenha.
• Eqüidade
O princípio da eqüidade no SUS busca oferecer ações em saúde conforme a peculiaridade e a necessida-
de das pessoas. Nascemos com traços biológicos particulares e nos construímos enquanto seres humanos
dentro de realidades geográficas, culturais e sociais diversas. O SUS prevê que esses aspectos sejam levados em
conta na sua implementação. Isso significa que, ao mesmo tempo em que igualamos as pessoas no nível
do direito (princípio da universalidade – todos têm direito ao SUS), diferenciamo-las do ponto de vista
das suas necessidades específicas, garantindo ações em saúde conforme essas necessidades. Por exemplo:
embora o princípio da universalidade preveja que to-
dos tenham direito a um transplante de coração, não
significa que o SUS vai se preparar para transplantar
180 milhões de corações (número total da população
brasileira). Isso seria praticamente insustentável do
ponto de vista financeiro. Ao mesmo tempo, sabe-se que nem todas as pessoas precisam de transplante de
coração. Os problemas de saúde se diferenciam de uma pessoa para outra (citamos um exemplo no nível da
assistência, mas isso também se traduz no nível da promoção e da prevenção). O sistema precisa estar prepara-
do para garantir os diferentes serviços para todas as pessoas.
Em síntese: o princípio da eqüidade garante ações em saúde desiguais para as pessoas desiguais (eqüidade
vertical) e ações de saúde iguais para os iguais (eqüidade horizontal).
O princípio da universalidade se completa somente dessa forma.
DIRETRIZES ORGANIZATIVAS DO SUS
A organização do SUS deve ter como base os princípios detalhados anteriormente. Quando um deter-
minado local não segue essa doutrina, não está implementando a lei da saúde e está desrespeitando a cidadania.
Para que o SUS seja, de fato, um sistema de saúde de qualidade que garanta saúde para todos deve ser
Temos direito ao “atendimento inte-gral, com prioridade para as ativi-dades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais”.
25
organizado à luz dos princípios da uni-
versalidade, integralidade e eqüidade. Es-
ses princípios devem se traduzir numa
forma organizacional do sistema regida
pelo que podemos chamar de diretrizes
organizativas do SUS. Diferente das ou-
tras políticas de saúde implementadas
antes de 1988, essas diretrizes vão ga-
rantir um sistema único.
• Regionalização
Segundo a Constituição, “as ações
e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada (...)”(cf. art. 198). Essa idéia
remonta a Conferência de Alma Ata
(URSS) que afirmava a importância de organizar a saúde perto da casa das pessoas. As ações em saúde devem
estar organizadas numa rede que garanta alcance fácil e qualificado ao cidadão. Nossas necessidades de saúde
exigem formas simples de acesso ao sistema, o mais próximo possível de nossas casas. O SUS prevê que as
ações em saúde devem ser organizadas a partir de regiões delimitadas (daí o surgimento do conceito
da “regionalização”), desde o nível municipal (o município, conforme suas características, pode se
subdividir em regiões sanitárias), passando pelo nível estadual até o federal. A base para a organização
das ações em saúde deve ser as características epidemiológicas, culturais e geográficas das regiões delimitadas.
Quanto mais perto da população forem executadas as ações, maior a capacidade de agir sobre as causas dos
problemas de saúde de determinada região.
• Hierarquização
A regionalização prevê acesso fácil e qualificado ao sistema de saúde. Mas isso não significa que todos os
municípios ofertem todas ações e serviços em saúde. Isso seria irracional e insustentável! Por isso, o SUS prevê
26
Em síntese, a hierarquização quergarantir que todas as pessoas te-
nham disponíveis todas as ações emsaúde de que precisam.
que as ações de saúde estejam articuladas entre si de forma hierarquizada, desde o nível primário da atenção, até
o nível de média e alta complexidade. A lei prevê que as ações e serviços públicos de saúde, além de regionalizados,
“(...)integram uma rede hierarquizada(...), constituindo, assim, um sistema único. (Cf. art. 198) Ou seja, os problemas
de mais fácil solução seriam resolvidos perto da população porque não exigem procedimentos mais especializados
e, portanto, menos onerosos financeiramente (isso não quer dizer que são menos importantes). Os problemas
que exigem procedimentos mais complexos seriam tratados em hospitais e centros especializados. Entretanto,
quando o cidadão entra em qualquer unidade de saúde do sistema, mesmo que ela não tenha condições de
resolver o problema, tem a responsabilidade de encaminhá-lo imediatamente a uma outra unidade mais especi-
alizada.
Em síntese, a hierarquização quer garantir que todas as pessoas tenham disponíveis todas as
ações em saúde de que precisam. Isso ultrapassa as fronteiras de organização política do país. Os municípios,
estados e União não podem pensar a saúde somente
dentro de seu território federativo.
• Descentralização
A descentralização propõe-se a resolver um
problema sério do setor de saúde até a aprovação do SUS. Havia uma centralização do poder de decisão e de
recursos em Brasília junto ao Ministério da Saúde. A capacidade gerencial da política e de recursos, por parte do
Ministério, era muito limitada, porque a característica geopoliticocultural do Brasil é muito grande. Se, por um
lado, isso desperdiçava recursos em determinados locais, fazendo faltar em outros, de outro, havia uma dificul-
dade de responsabilização dos diferentes níveis de governo. A descentralização fundamenta-se na teoria de
que, “quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto” (ABC...). A
garantia constitucional está no art. 198, “descentralização, com direção única em cada esfera de governo”. Com isso, os
estados, mas principalmente os municípios, ganham poder para organizar a saúde de acordo com a sua realidade
específica. É a municipalização da saúde em que quem executa tem o poder de decisão. Conforme a Constitui-
ção Federal, aos estados e União cabe a responsabilidade de cooperarem técnica e financeiramente (cf. Art. 30, inciso VII).
É importante ressaltar que depois da aprovação do SUS, muito do que se fez com o argumento da
descentralização foi uma municipalização da saúde. O município teve que assumir um compromisso cada
27
vez maior nas ações e serviços, mas dependendo dos recursos centrali-
zados no governo federal, com quem fica a quantia maior dos impostos
dos cidadãos. Isso desvirtua o real sentido do que o movimento sanita-
rista queria com a descentralização.
• Racionalização e Resolução
As ações e serviços devem ser definidos e organizados de modo
a responder aos problemas de determinadas regiões. Para isso, os indi-
cadores epidemiológicos são importantes para qualquer planejamento
em saúde, pois oferecem um quadro situacional da saúde em regiões
determinadas. O princípio da racionalidade prevê que não haja ofer-
ta de procedimentos desnecessários e, portanto, desperdício de recursos. O que deverá definir a constru-
ção e a aquisição de estruturas (hospitais, aparelhos, remédios) e serviços não é este ou aquele grupo de saúde
que é amigo do vereador ou do prefeito e que somente está interessado em ganhar dinheiro, mas a real demanda
da população. Por isso, o sistema deve ser resolutivo, isto é, procurar ao máximo possível resolver o
problema do cidadão num tempo, custo e sofrimento mínimo possível. O cidadão não será mandado
bater de porta em porta, porque ao entrar em qualquer porta do sistema, este deverá buscar a solução sem exigir
procedimentos desnecessários para cobrar mais serviços do SUS.
• Complementaridade do Setor Privado
O SUS prevê que as ações e serviços sejam garantidos a partir da estrutura do setor público. Mas quando
essa estrutura for insuficiente, o gestor poderá recorrer ao setor privado que atuará de forma complementar ao
sistema. A forma de participação será acordada com o gestor público por meio de contrato ou convênio. Nessa
participação privada, terá preferência o setor filantrópico (não-lucrativo) do SUS. Mas a prestação de serviços
pelo setor privado não tira o caráter público do SUS. O cidadão, quando for atendido no setor privado, da
mesma forma como no público, estará garantindo a efetivação do seu direito à saúde. Por isso, quem
deverá dar as regras nessa contratação de serviço privado é o SUS. Essa prerrogativa está na Lei 8.080/90, art.
22: “na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão
28
. O cidadão, quando for atendido nosetor privado, da mesma forma como
no público, estará garantindo aefetivação do seu direito à saúde.
de direção do Sistema Único de Saúde – SUS – quanto às condições para seu funcionamento”. No contrato ou convênio, terá
sempre primazia o fim público (direito à saúde do cidadão) e não o fim privado (lucro). O prestador privado
deverá estar de acordo com os princípios e normas técnicas do SUS. Precisa, ainda, se integrar ao processo de
regionalização e de hierarquização dos serviços de saúde da determinada região a qual pertence.
• Participação da Comunidade
Se o princípio da descentralização parte da máxima de que ‘quanto mais perto do fato for tomada a
decisão, mais chance de acerto’, o princípio do controle social parte da máxima de que quanto mais
envolvimento houver da sociedade na construção e fiscalização do SUS, mais chance haverá de êxito.
Todos os sujeitos envolvidos no SUS têm papel na sua implementação. Profissionais, prestadores, gestores e,
principalmente, usuários que estão na ponta do sistema e que acompanham o cotidiano da política pública.
Antes da aprovação do SUS, um dos problemas estruturais da política de saúde no Brasil era o
distanciamento da sociedade na sua definição e acom-
panhamento, principalmente em função da ditadu-
ra. Embora experiências embrionárias tenham sido
feitas com a Cims (1983) e, mais tarde, com a apro-
vação do Suds (1987), a efetivação constitucional da participação social deu-se em 1988 na nova Constituição
Federal. Ela contempla, em seu artigo 198, “a participação da comunidade”. Mais tarde, a lei 8.142/90 traduziu o
texto constitucional em duas formas de participação: os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde nos três níveis
de governo: União, estados e municípios.
A conquista do controle social na saúde e outras políticas públicas vêm contemplar o anseio
histórico da sociedade de radicalizar cada vez mais a democracia, em que o poder está com e emana do
povo. Nesse sentido, os Conselhos de Saúde não possuem caráter meramente consultivo, como querem e
defendem alguns, mas deliberativo. Têm poder de decisão sobre a política da saúde.
O exercício do controle social é a democratização do conhecimento, estimulando a organização
da sociedade para o efetivo exercício da democracia direta na gestão do Sistema Único de Saúde. É a
garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do processo de
formulação das políticas de saúde e do controle social de sua execução, em todos os níveis desde o federal até o
29
local.
Dada a importância que o controle social teve na construção do SUS, a importância que tem e terá na
sua implementação e reinvenção, é importante aprofundar essa reflexão. Ele não é apenas mais um, mas um
princípio por excelência para o movimento popular, pois é através principalmente de seu exercício que depende
a saúde do SUS. O SUS já está em sua fase de adolescência, portanto já se passaram alguns anos que estamos
trilhando o caminho de sua implementação. É fundamental que nos debrucemos sobre o papel que o controle
social cumpriu nesse período e quais os grandes desafios que são colocados para o movimento popular para o
próximo período. Esse será o objetivo do próximo capítulo.
30
Como vimos, uma das
diretrizes fundamentais e ino-
vadoras do SUS é a garantia da
participação popular na defini-
ção das políticas de saúde e na
fiscalização de sua imple-
mentação pelos gestores nas
três esferas de governo.
Isso nos remete aos
anos 70 e 80, quando a luta po-
pular garantiu na Constituição,
e depois nas Leis Orgânicas da
saúde que a sociedade teria dois
espaços institucionais para garantir o controle social: as Conferências e os Conselhos. Esses espaços seriam
paritários, ou seja, as entidades usuárias teriam o mesmo número de representante das demais entidades
(prestadores, gestores e profissionais de saúde) em conjunto. O objetivo da definição da paridade era asse-
gurar que a sociedade civil pudesse garantir a representatividade de seus interesses e romper com a
concepção de que quem deve definir as ações do Estado é somente a sociedade política (através de seus
técnicos ou dos interesses clientelistas e eleitoreiros dos políticos que tratam as políticas públicas como troca de
favores).
Durante a década de 90, a totalidade dos estados e a grande maioria dos municípios instituiu os seus
conselhos de saúde, respeitando a lei da paridade. Os movimentos sociais e a sociedade civil como um todo
ocuparam suas cadeiras de conselheiros. Contudo, permanece uma inquietação: a constituição de Conse-
lhos paritários garante o efetivo exercício do controle social, a democratização do poder e os interesses
da sociedade civil? Não temos a menor dúvida de que o processo histórico desenvolvido, a instituição do
princípio do controle social, da paridade numérica, a criação dos conselhos e das conferências, a participação
dos movimentos nesses espaços foram grandes avanços. Mas gostaríamos de apontar alguns elementos que
consideramos fundamentais e que podem contribuir para qualificar o controle social.
32
Contudo, permanece uma inquietação:a constituição de Conselhos
paritários garante o efetivo exer-cício do controle social, a demo-
cratização do poder e os interessesda sociedade civil?
• Superação da cultura política oligárquica dos gestores
Historicamente, no Brasil, há uma cultura política de que o poder deve estar com quem sabe, com os
engravatados. O povo não sabe das “coisas”. Portanto, o poder deve estar com os prefeitos, os vereadores, os
deputados etc. O que o povo deve fazer é votar e ter uma boa relação com os políticos, porque quando precisar
de algum “favor”, os políticos irão atendê-lo. Quem brigar com os políticos nunca conseguirá nada.
É essa compreensão que alimentou, durante a nossa história, o que chamamos de clientelismo, de
coronelismo, de políticas dos favores, do toma-lá-dá-cá. Infelizmente essas idéias estão presentes em grande
parte dos nossos políticos. Ainda hoje é comum ouvir que os Conselhos de Saúde tiram o poder dos prefeitos
e dos vereadores. Que os conselhos devem aprovar o que o prefeito e seu secretário querem, pois são eles que
sabem “das coisas”, foram eles que foram eleitos, por-
tanto são eles que devem mandar.
Ainda é comum prefeitos escolherem os “ami-
gos políticos” como representantes dos usuários, o
secretário de saúde ser o presidente do Conselho, de-
finir a pauta, não descentralizar as informações, mar-
car as reuniões dos conselho para o dia que ele quiser ou, até mesmo, fazer a ata e mandar um carro da prefeitura
pegar a assinatura dos conselheiros em suas casas.
Ao mesmo tempo há representantes de associações de moradores e outras entidades que acreditam que
não podem “brigar”com o prefeito/secretário com medo de o gestor público não ajudar no futuro.
A qualificação do controle social depende da superação dessas conceitos. Os políticos, a população e os
representantes das entidades precisam ter claro que saúde é um direito de todos e os governos têm o dever de
garanti-la. Não podemos mais admitir que se pense que as consultas, as internações e os atendimentos
médico-hospitalares sejam entendidos como concessão de favores dos políticos que, em troca, querem
votos para se perpetuar no poder.
A democracia precisa ser entendida em sua plenitude. Se é verdade que os prefeitos e vereadores são
eleitos e, portanto, representam a população, também é verdade que eles devem prestar conta de suas ações,
devem ouvir a população e respeitar as decisões dos Conselhos de Saúde que são deliberativos.
33
• Qualificação dos conselhei-
ros
São constantes as considerações,
por parte de conselheiros ou de estudos
acadêmicos, de que um dos maiores obs-
táculos para o bom funcionamento dos
conselhos é a falta de capacitação de seus
representantes. Acreditamos que essa é
apenas parte da verdade.
Não temos dúvidas de que para
uma melhor atuação dos conselheiros é
fundamental que eles se apropriem da
legislação que regulamenta o SUS, que tenham noções de orçamento público e conheçam minimamente o
funcionamento do sistema. Por outro lado, temos certeza que a maioria dos gestores não quer compartilhar o
poder, não repassa as informações necessárias de forma clara, esconde-se atrás de uma carapuça de poder
político e do saber técnico para impor suas propostas.
Por isso, é fundamental que os conselheiros se qualifiquem tecnicamente, mas, ao mesmo tempo, a
mesma importância deve ser atribuída para a qualificação política para superar a concepção de que o saber
técnico tem maior valor e de que a população e seus conselheiros têm o direito de receber as informações em
tempo hábil e de forma clara para que possam tomar as devidas decisões.
Portanto, os programas de formação devem superar a dicotomia entre conhecimento técnico e político.
Quem deve pensar e desenvolver os programas de formação deve ser as próprias entidades populares que
conhecem a realidade local e social superando a perspectiva de que técnicos são capazes de transmitir o “valo-
roso” conhecimento para os representantes populares.
Relação entre os conselheiros e suas entidades
A função dos conselheiros é representar os interesses das entidades e segmentos da sociedade a que
pertencem. Portanto, quanto maior o vínculo do conselheiro com sua entidade e de sua entidade com a socie-
34
dade (base), maior será o espaço de diálogo e a possibilidade do Conselho representar os verdadeiros interesses
da sociedade, bem como de ser respeitado pelo gestor.
Nesse sentido, faz-se necessário superar as freqüentes composições de conselhos em que os conselhei-
ros estão legalmente representando entidades, mas na prática representam apenas interesses pessoais. As enti-
dades que compõem os conselhos precisam ter claro que devem construir as condições para que o seu
representante desempenhe sua função e exigir permanentemente que as pautas do conselho sejam
discutidas em suas instâncias diretivas e em suas bases. Quando isso não ocorre, as decisões tomadas
pelos conselheiros não têm representatividade e, na maioria das vezes, os gestores não as implementam, pois a
sociedade não sabe o que o conselho definiu e
tampouco pressiona o gestor para implementar a po-
lítica.
Em função disso, é fundamental que o com-
promisso de compor o conselho seja da entidade e
não dos indivíduos e que a capacitação técnica e polí-
tica deva ser da entidade. Ela precisa estar atenta e
substituir seu representante no Conselho quando não
desempenha satisfatoriamente o seu papel.
Conscientização da população de seus direitos e da sua condição de cidadania
Mesmo que a Constituição tenha quinze anos e consolida a “saúde como direito de todos e dever de
Estado”, a grande maioria da população não conhece esse direito. Não assimilou a importância de seus repre-
sentantes definir as políticas de atenção à saúde, de fiscalizar as ações dos gestores. Foram permanentes, durante
todo esse período, as campanhas publicitárias buscando demonstrar que o SUS não funciona, que os Conselhos
são ineficazes. Ainda está muito presente a compreensão política de que quem sabe são os técnicos e quem tem
poder são os políticos, restando para a população o dever “de não conflituar” para receber os “benefícios” dos
políticos. Existem muitos vereadores e prefeitos que ainda se elegem em troca de fichas de consultas, de auto-
rizações para internações e exames e de transporte de doentes.
Os conselhos e as entidades sociais devem lutar para superar esse quadro, para isso é fundamental que
As entidades que compõem osconselhos precisam ter claro que
devem construir as condições paraque o seu representante desempenhesua função e exigir permanentemen-te que as pautas do conselho sejam
discutidas em suas instânciasdiretivas e em suas bases.
35
ampliem sua atuação nos conselhos
e, principalmente, aumentem esse de-
bate junto à população em geral. É
necessário que se estabeleçam
fóruns populares da luta pela saú-
de que sirvam para articular to-
das as entidades e movimentos
populares que lutam pela saúde.
Esses fóruns podem cumprir
o papel de:
• preparar os debates e dis-
putas nos conselhos, garantindo que
eles aprovem as políticas que representam os interesses da comunidade;
• levar até a comunidade todos os debates realizados nos conselhos;
• pressionar os gestores para que implementem as políticas definidas pelos conselheiros;
• pensar momentos de formação permanentes em que as entidades tenham espaço para refletir e quali-
ficar sua ação e fazer o debate com a sociedade sobre a implementação do SUS.
Conselhos de Saúde: Constituição e Papel
• Criação: O conselho Municipal deve ser instituído por lei municipal ou regulamentado por decreto do
prefeito, se já constar na Lei Orgânica do Município, obedecendo às normas das legislações estaduais e, central-
mente, da Lei Federal 8.142/90. O indicado é que o Conselho seja instituído por Lei Municipal para que
qualquer alteração a ser feita na referida legislação tenha que tramitar na Câmara Municipal.
• Constituição: Os Conselhos devem obedecer à paridade devendo 50% dos seus componentes ser
entidades usuárias e os demais 50%, divididos entre profissionais de saúde, prestadores de serviços e governo.
36
Este último grupo deve ser dividido em 50% trabalhadores, 25% prestadores e 25% gestores. Por exemplo, se
o Conselho tem 32 componentes: 16 serão usuários, 8, trabalhadores, 4, prestadores e 4, gestores. Deve-se
ressaltar que há inúmeras críticas em relação a essa distribuição do último grupo, afirmando a não-paridade
entre os três segmentos (a paridade seria 16,6% para cada segmento).
• Funcionamento: O conselho tem autonomia para estabelecer, através do seu regimento interno, suas
regras de funcionamento. Alguns pontos são fundamentais para ser observados no regimento, entre eles:
– Estabelecer reuniões ordinárias, no mínimo mensais, com calendário, horário e local definidos (ex.:
segunda quinta-feira de cada mês às 19 horas na Câmara de Vereadores). Isso é importante para que todos os
conselheiros e a comunidade em geral se programem para participar, evitando também que o gestor marque
reuniões de última hora com o objetivo de esvaziar o
plenário.
– Secretariar todas as reuniões para que fiquem
registradas em ata que deve ser lida, aprovada e assi-
nada pelos conselheiros.
– Formular resoluções das principais decisões
do Conselho.
– Estabelecer algumas comissões internas para facilitar os trabalhos. Por exemplo: comissão de fiscaliza-
ção, comissão de finanças, comissão técnica etc. Essas comissões devem estudar as matérias específicas e levar
seus pareceres para o plenário do Conselho, facilitando o entendimento do assunto e, com isso, as votações.
– As pautas das reuniões ordinárias dos conselhos devem ser definidas com antecedência pela coordena-
ção da mesa, mas, preferencialmente, pela plenária da reunião anterior, para que todos os conselheiros estejam
preparados para debatê-las. Por exemplo: a pauta do mês de junho é definida pela reunião de maio e todas as
informações sobre os temas da reunião devem chegar nas mãos dos conselheiros, no mínimo, oito dias antes da
reunião. Os assuntos emergenciais podem entrar no ponto “assuntos gerais”, ou, quando necessário, convocada
uma reunião extraordinária, desde que os conselheiros sejam avisados com antecedência. Essa dinâmica permi-
te ainda que os Fóruns de Saúde tenham tempo para debater essas pautas e contribuir com a posição a ser
definida pelos conselheiros.
Os Conselhos devem obedecer àparidade devendo 50% dos seus com-ponentes ser entidades usuárias e
os demais 50%, divididos entre pro-fissionais de saúde, prestadores de
serviços e governo.
37
38
• Principais funções dos conselhos:
– Avaliar e contribuir na definição das políticas de saúde do município;
– Aprovar ou não os planos de aplicações do gestor;
– Apreciar o relatório trimestral de gestão;
– Fiscalizar a movimentação do Fundo Municipal da Saúde;
– Encaminhar para o Ministério Público as atas ou resolução não homologada pelo prefeito;
– Receber e encaminhar as reclamações dos usuários quanto ao não ou mau funcionamento do sistema
de saúde;
– Convocar junto com o gestor, ou de forma autônoma quando este não o fizer, a Conferência de
Saúde no município;
– Denunciar para o Ministério Público e para a comunidade qualquer irregularidade cometida pelos
gestores.
O SUS pressupõe um novo conceito de saúde. Nele,
busca-se superar um modelo centrado na assistência individual
à doença somente a partir da procura do serviço pelo usuário.
O salto que o SUS se propõe a dar é um modelo de saúde
que olhe também para os problemas coletivos da popula-
ção, relacionando entre si ações de promoção, proteção,
recuperação e reabilitação. Vai exigir do Poder Público
atitude pró-ativa sobre a coletividade e não somente a
busca de soluções para doenças a partir da procura indi-
vidual do cidadão.
Para a implementação desse novo conceito, os princí-
pios nos oferecem orientações gerais. A partir deles, foi
construída a Lei Orgânica da Saúde (LOS) que normatiza a
organização e o funcionamento das ações de saúde.
A LOS é formada por duas leis: a Lei 8080/90 que trata
das condições de promoção, proteção e recuperação da saúde,
normatiza a organização e o funcionamento dos serviços de
saúde e dá outras providências e a Lei 8142/90 que trata da
participação da comunidade na gestão do SUS, normatiza as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde e dá outras providências. Essas leis têm caráter de diretrizes gerais nacionais e buscam dar corpo
à doutrina constitucional do SUS.
A partir da Constituição e da LOS, construíram-se gradativamente as regras estratégicas e tácitas operativas
de organização do SUS no país (NOBs e outras legislações).
Muito mais que apresentar e analisar todo esse emaranhado de leis em relação ao SUS, o que muitas
vezes confunde, atrapalha e até desanima o controle social em função da sua diversidade e complexidade,
queremos explicitar alguns aspectos em relação a elas referentes à organização e ao funcionamento do sistema
que julgamos importante.
40
• Recursos Humanos: para que o SUS funcione bem, é preciso que tenha profissionais qualificados e
valorizados. O contato do cidadão com o sistema se dá principalmente por meio dos trabalhadores que têm o
dever de atender bem o cidadão. Para isso, devem estar preparados tecnicamente para a função e em constante
atualização. Mas somente isso não basta. Se o trabalhador não se sente valorizado, tem pouca motivação para
atender bem o cidadão. Isso passa principalmente por condições de trabalho apropriadas e planos de carreira,
de cargos e de salários consistentes e compatíveis com as funções.
Desde a criação do SUS, os recursos humanos não foram alvo de atenção pela grande parcela dos
gestores. A lógica de contratação dos trabalhadores do SUS passa pela terceirização dos serviços, onde o traba-
lhador, em muitos casos, sequer tem garantido os direitos previstos em lei. Isso o obriga a fazer uma jornada de
trabalho muito superior àquela desejada e em mais de
um local.
Para responder a essa falta de política nacional
de recursos humanos no SUS, foi construída e apro-
vada a NOB-RH-SUS. Entre outras, a NOB-RH-
SUS concebe os recursos humanos como estraté-
gicos na implementação do SUS, reconhece a res-
ponsabilidade dos trabalhadores com os princípios do SUS, prevê o concurso público como única
forma de ingresso ao serviço público, a implantação de planos de carreira, de cargos e de salários e a
qualificação da gestão dos recursos humanos.
É fundamental que o controle social incida para que essa política de recursos humanos seja implantada
no diversos níveis de gestão do SUS. Os mecanismos de implantação passa principalmente pela instalação das
comissões interinstitucionais de recursos humanos e das mesas de negociação. Essa não é uma luta somente dos
trabalhadores da saúde, como em muitos casos aconteceu e acontece. Se os recursos humanos são peça-chave
para saúde pública, esta deve ser uma luta conjunta de toda sociedade.
• Financiamento: falar em um sistema de saúde de qualidade implica necessariamente falar de recursos
financeiros suficientes para sua implementação. Como diria um velho ditado, “de boas intenções, o inferno está
cheio”. A briga por recursos no SUS acompanhou-o desde seu nascimento.
Para a implementação desse novoconceito, os princípios nos ofere-cem orientações gerais. A partir
deles, foi construída a Lei Orgâ-nica da Saúde (LOS) que normatizaa organização e o funcionamento
das ações de saúde.
41
Segundo a Constituição,
“o sistema único de saúde será
financiado, (...) com recursos do
orçamento da seguridade soci-
al, da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípi-
os, além de outras fontes”. Ou
seja, a responsabilidade de financi-
amento do SUS está nas três esfe-
ras de governo. Mas de quanto deve
ser este financiamento? Segundo a
Lei 8.080/90, em seu art. 31, “o or-
çamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários
à realização de suas finalidades(...)”.
Somente com a EC-29/2000, definiu-se um percentual fixo entre as três esferas de governo.
Segundo ela, até o ano de 2004, um percentual mínimo deverá ser aplicado em saúde pela União,
estados e municípios.
Essa lei foi uma conquista importante para a saúde, embora traga ainda problemas no percentual a ser
investido pelos três níveis de governo. Ou seja, a União que fica com a quantia maior dos impostos investe
proporcionalmente menos que estados e municípios. Quem sai como maior prejudicado são os municípios e
obviamente os seus cidadãos. Nos últimos anos, grande parte dos recursos que deveriam ser investidos na saúde
foram usados pelo governo federal para pagar juros e encargos da dívida brasileira, como veremos mais à frente.
Além da importância de aumentar o montante de recursos na saúde, precisamos discutir a forma de
gestão deles e como deverão ser distribuídos por todo país. Do ponto de vista da gestão, a Lei 8.080/90 dirá
que “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial,
em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde”.
É imprescindível a criação do fundo municipal de saúde (no âmbito municipal) para um melhor acompanha-
mento do controle social.
42
Em relação à forma de distribuição de recursos, a Lei 8.080/90 preceitua os seguintes critérios:
“I – perfil demográfico da região;
II – perfil epidemiológico da população a ser coberta;
III – características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;
IV – desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior;
V– níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais;
VI – previsão do plano qüinqüenal de investimento da rede;
VII – ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.”
Embora tenhamos esses critérios, nos últimos anos tivemos mais de 80 formas de repasse de recursos
por parte do Ministério da Saúde, principalmente por
meio de programas. Isso significa uma centralização
sobre os recursos por parte do Ministério que não
fortalece a descentralização da saúde. (ver mais sobre
financiamento no anexo 1 desta cartilha).
• Organização do Modelo de Assistência
Entendendo a NOAS-SUS 01/02
A NOAS 01/02 veio substituir a NOAS 01/01. Ela já foi alterada no início de 2003 pela portaria
384/03 no que se refere aos critérios de responsabilidades, requisitos e prerrogativas. A NOAS 01/02, com suas
modificações, é a Portaria atual que busca normatizar a assistência à saúde. Do ponto de vista estratégico, centra
sua força na regionalização como forma de organizar hierarquicamente os serviços de saúde e aumentar a
eqüidade. Essa estratégia é um esforço de garantir o acesso, o mais próximo possível da residência, de todas as
ações e serviços a todos os cidadãos de forma qualificada.
A regionalização se concretiza a partir da elaboração do Plano Diretor de Regionalização – PDR nos
estados e Distrito Federal. Esse instrumento divide o território estadual em regiões/microrregiões e módulos
assistenciais.
Região de Saúde: é um determinado território onde se planeja a assistência à saúde. A responsabilidade
A mortalidade infantil de menoresde cinco anos de idade, após o
primeiro ano de vida, está ligadaprincipalmente a doenças infecto-contagiosas por falta de investi-
mento em saneamento básico.
43
de coordenar essa divisão é da Secretaria Estadual de Saúde que a
faz com base nas especificidades de regionalização da saúde dos
estados, características demográficas, socioeconômicas, geográficas,
sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre os
municípios, entre outras. Conforme a demanda e característica dos
estados, podem se dividir em macrorregiões, regiões e/ou
microrregiões.
Módulo Assistencial: território formado por um municí-
pio ou mais que tenha capacidade de resolver problemas do chama-
do primeiro nível de referência que são: atividades ambulatoriais de
apoio diagnóstico e terapêutico e de internação hospitalar. O módulo
assistencial é formado por um município quando:
a) este está em Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM)
ou;
b) Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A) com
capacidade de ofertar o primeiro nível e não precisa ser referência
para outros municípios.
É formado por mais municípios quando um município, es-
tando ou em GPSM ou GPAB-A, tem capacidade de ofertar o pri-
meiro nível a toda sua população e contemplar também a população dos municípios referenciados nele.
Município-pólo: município que no processo de regionalização desempenha papel de referência em
qualquer nível de atenção a outros municípios.
Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde: base territorial mínima para qualificação
na assistência à saúde. Deve apresentar nível de complexidade acima do módulo assistencial e pode ser uma
região ou microrregião.
A responsabilidade de construção do PDR é da Secretaria Estadual, que deve fazê-lo com base no Plano
Estadual de Saúde e envolver o conjunto dos município.
44
Conforme a NOAS 01/02, as ações do nível básico devem ser garantidas por todos os municípios. São
elas: o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da hipertensão arterial, o controle da
diabetes mellitus, a saúde da criança, a saúde da mulher e a saúde bucal.
As ações de média complexidade são divididas em dois níveis. Um primeiro nível (M1) engloba um
conjunto mínimo de serviços de média complexidade: atividades ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico
e de internação hospitalar. Não precisam ser ofertados por todos os municípios, portanto, são objeto de refe-
rência intermunicipal. Ou seja, um determinado município não precisa dispor desses serviços no seu município,
mas precisa ter um município chamado “referência” para onde irá encaminhar seus cidadãos quando necessita-
rem dessas ações. Devem ser ofertados por um ou mais módulos assistenciais numa determinada microrregião.
Um segundo nível (MC) são ações e serviços
ambulatoriais e hospitalares que visam atender os prin-
cipais problemas de saúde da população, cuja prática
clínica demande a disponibilidade de profissionais
especializados e a utilização de recursos tecnológicos
de apoio diagnóstico e terapêutico. Podem ser ofertados tanto em âmbito microrregional, regional ou estadual,
conforme demanda e organização nos estados.
As ações e serviços de alta complexidade são concebidos como aqueles que demandam profissio-
nais e estrutura tecnológica com alta capacidade resolutiva. São os serviços mais caros e, portanto, mais difíceis
de ser ofertados. Como os serviços de média complexidade, os municípios também precisam ter referência para
ações e serviços de alta complexidade.
Fortalecimento da capacidade de gestão
A implementação do SUS deve passar pela descentralização do poder político e de recursos. Isso
requer o fortalecimento e a qualificação das instâncias gestoras da política de saúde (Ministério da Saúde, secre-
tarias estaduais e municipais de saúde) e estabelecer, de forma clara, as responsabilidade de cada nível de gover-
no: federal, estadual e municipal. A NOAS procura dar um passo nesse sentido esclarecendo responsabilidades
Município-pólo: município que noprocesso de regionalização desem-
penha papel de referência em qual-quer nível de atenção a outros mu-
nicípios.
45
e ampliando novas formas de repasse de recursos, além de criar instru-
mentos de gestão para os três níveis de gestão.
Responsabilidades
À União (Ministério da Saúde) cabe elaborar a agenda nacional
de saúde, analisar os planos de saúde, quadro de metas e relatórios de
gestão de todos os estados. Tem ainda a função de elaborar seus relatórios
de gestão e é responsável pela PPI Nacional. Na garantia do acesso da
população referenciada, a União assume, de forma solidária, com os Estados e o Distrito Federal, a responsabi-
lidade sobre pacientes referenciados entre estados (alta complexidade).
Aos estados (Secretarias Estaduais de Saúde) cabe a elaboração da agenda de saúde, quadro de
metas, relatório de gestão, plano diretor de regionalização, programação pactuada integrada e estadual e analisar
os planos de saúde e relatórios de gestão municipais. Na garantia do acesso da população referenciada, o estado
assume, de forma solidária, com os municípios referência, a responsabilidade de todos os serviços não-disponí-
veis nos determinados municípios (média complexidade).
Os municípios (secretarias municipais de saúde) assumem a elaboração da agenda de saúde, plano
municipal de saúde, quadro de metas, relatório de gestão municipal e da programação das ações de saúde
municipal. Além de assumirem as ações de nível básico, o gestor municipal tem a responsabilidade de, em
conjunto com o gestor estadual, garantir o acesso referenciado de sua população para ações não-disponíveis no
município (assistência básica).
Instrumentos de gestão
Agenda de saúde: é considerada o primeiro momento do planejamento em saúde e tem por objetivo
a definição de grandes linhas de intervenção na saúde. Deve ser elaborada pelos governos federal, estadual e
municipal todos os anos, ouvindo as Comissões Intergestoras e os Conselhos de Saúde;
Plano de saúde: instrumento estratégico para o SUS, porque prevê um planejamento das ações para
um período de quatro anos. É importante que seja elaborado no primeiro ano de mandando de determinado
gestor. Ou seja, enquanto no primeiro ano administra a saúde baseado no plano da gestão anterior, elabora o
46
próximo. Deve ser elaborado a partir dos resultados da conferência e dados epidemiológicos. Deve apresentar
ações estruturais de incidência na saúde. O gasto em saúde deve estar baseado no plano. Deve ser elaborado
pelo gestor nacional, estadual e municipal. Conforme a Lei 8.080/90, no §2º, “é vedada a transferência de recursos para
o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de
saúde”.
Quadro de metas: na perspectiva de facilitar o monitoramento e a avaliação do planejamento em
saúde, foi instituído o quadro de metas que pretende definir claramente objetivos e resultados a ser alcançados
com as ações em saúde. Deve ser elaborado pelo gestor nacional, estadual e municipal todos os anos.
Relatório de gestão: instrumento que objeti-
va apresentar às instâncias de controle social do SUS
e à comunidade em geral um relato das ações
implementadas durante o ano. Busca, ainda, apresen-
tar como as ações estão dando conta ou não dos ins-
trumentos de planejamento. Deve ser feito anualmen-
te.
Plano Diretor de Regionalização (PDR): é
um instrumento que procura organizar a assistência à
saúde de forma regionalizada e hierarquizada.
Programação Pactuada e Integrada (PPI): instrumento que procura organizar as ações e serviços de
assistência ambulatorial e hospitalar. A PPI se propõe também a alocar recursos entre municípios, deixar mais
clara e definida a responsabilidade dos municípios estados e união.
Formas de habilitação e financiamento
A NOAS cria duas condições de habilitação para os municípios:
Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A): para se habilitar na Gestão Plena da Atenção
Básica Ampliada, o município assume, entre outras, a responsabilidade de elaboração do plano municipal de
saúde que deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. O plano deve ter a agenda de saúde municipal
articulada às agendas nacional e estadual e ter o quadro de metas (o relatório de gestão deve ter o quadro de
Agenda de saúde: é consideradao primeiro momento do planejamento
em saúde e tem por objetivo a defi-nição de grandes linhas de inter-
venção na saúde. Deve ser elaboradapelos governos federal, estadual e
municipal todos os anos, ouvindo asComissões Intergestoras e os Conse-
lhos de Saúde;
47
metas como referência para prestação de contas). Nessa
condição, o município deve organizar a rede de aten-
ção básica, assumindo a gestão de prestadores priva-
dos quando houver este nível de atenção.
Gestão Plena do Sistema Municipal: para habi-
litação na Gestão Plena do Sistema Municipal, o municí-
pio assume, entre outras, a responsabilidade de elaboração
do plano municipal de saúde que deverá ser aprovado pelo
Conselho Municipal de Saúde, contendo as agendas naci-
onal e estadual de saúde além do quadro de metas. Na
Gestão Plena, o município assume todo sistema mu-
nicipal, incluindo a gestão sobre os prestadores de
serviços de saúde vinculados ao SUS, independente
da sua natureza jurídica ou nível de complexidade,
exercendo comando único, ressalvando as unidades pú-
blicas e privadas de hemonúcleos/hemocentros e labora-
tórios de saúde pública (que são responsabilidades do es-
tado).
Enquanto determinado município não tiver a habilitação, cabe à Secretaria Estadual a gestão do SUS no
mesmo.
Entre outros, dois são os requisitos importantes para o controle social tanto para se qualificar na GPAB-
A como GPSM:
a) comprovar a operação do Fundo Municipal de Saúde;
b) comprovar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde
Do ponto de vista financeiro, o município que vier a se habilitar na GPAB-A terá o repasse de recursos
de forma regular e automática do dinheiro referente ao Piso da Atenção Básica Ampliado (PAB-A) correspon-
dente ao financiamento do elenco de procedimentos básicos e do incentivo de vigilância sanitária. Terá, ainda,
48
a transferência regular e automática dos recursos referentes ao PAB variável, desde que qualificado conforme as
normas vigentes.
O município que se habilitar em GPSM terá a transferência, de forma regular e automática, dos recursos
referentes ao valor per capita definido para o financiamento dos procedimentos do M1, após qualificação da
microrregião na qual está inserido, para sua própria população e, caso seja sede de módulo assistencial, para a
sua própria população e a dos municípios abrangidos. Recebe, também, diretamente no Fundo Municipal de
Saúde, o montante total de recursos federais correspondente ao limite financeiro programado para o municí-
pio, compreendendo a parcela destinada ao atendimento da população própria e aquela destinada ao atendi-
mento à população referenciada, condicionado ao cumprimento efetivo do Termo de Compromisso para Ga-
rantia de Acesso firmado.
Olhar crítico sobre a NOAS
De antemão, é preciso dizer que todo esforço
no sentido de ter uma boa normatização do SUS é
relevante. Portanto, não se está simplesmente criti-
cando o fato da NOAS ser feita por A ou B, mas deve-
se fazer um esforço no sentido de como ela contribui ou não para dar corpo aos grandes princípios constituci-
onais do SUS.
• Desrespeito ao controle social: segundo o Ministério da Saúde, o texto da NOAS foi discutido e
aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Versão não confirmada pelo Conselho Nacional que diz não ter
aprovado esse texto editado em portaria. Com isso, ficou complicado mais uma vez a relação do gestor com o
controle social que seria o ente legítimo para fazer essa discussão.
• Burocratização do SUS: uma das críticas que se faz no campo da saúde no Brasil, após a aprovação
do SUS e suas Leis Orgânicas, é a grande quantidade e complexidade de legislação que se produziu, sem falar de
um problema ainda pior que é a contradição interna entre elas e/ou com os princípios do SUS. A NOAS vem
referendar essa lógica. Cria novos e confusos processos para gestores e para o controle social. Citamos, como
exemplo, os instrumentos de gestão: agendas de saúde, planos de saúde, planos de vigilância sanitária e
epidemiológica, quadro de metas, relatório de gestão, plano diretor de regionalização e programação pactuada
Enquanto determinado município nãotiver a habilitação, cabe à Secre-taria Estadual a gestão do SUS no
mesmo.
49
e integrada. O problema fica ainda maior na medida em que esses instrumentos estão descolados dos instru-
mentos constitucionais do PPA (Plano Plurianual), da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e da LOA (Lei
Orçamentária Anual). Ou seja, como introduzir novos instrumentos de gestão e de planejamento à margem da
lei maior que rege todo planejamento e investimento do poder público?
• Recentralização do poder: um dos maiores problemas da NOAS é a sua direção oposta aos princípi-
os da descentralização, ao mesmo tempo em que a prega como princípio e estratégia. Se, de um lado, aumenta
a responsabilidade do município na execução da política (ao acrescentar novas ações à atenção básica), de outro,
tira poder de decisão do município sobre a política da saúde. A NOAS prevê que a União seja responsável pela
alta complexidade, o estado com a média e o município com a atenção básica. Sua incidência centra-se somente
na atenção básica. Com isso, o município fica refém dos outros níveis de governo.
Nova esfera de governo: ao criar as regiões de saúde, a NOAS pode estar diminuindo o poder dos
municípios como se fosse uma nova esfera de governo, não prevista na CF. A lógica é pensar em regiões que, na
maioria das vezes, irão reforçar e repetir as divisões administrativas dos estados, no caso, coordenadorias ou
delegacias de saúde. Isso dá poder aos estados, mas essas divisões não apresentam poder legislativo e a atuação
dos Conselhos de Saúde, que não estão previstos para essas esferas intermediárias regionais (onde têm), pode se
sobrepor a dos municípios ou estados. Isso configura caminho aberto para as práticas clientelistas históricas no
Brasil que o SUS quer acabar. Ou seja, determinado político influente na região acaba tendo muito poder de
decisão.
Desabilitação sem direito à defesa: o não-direito à defesa quando for desabilitado de uma das formas
de gestão previstas na NOAS é mais uma amostra do poder sobre os municípios. Quando pensamos a lógica de
tensões existentes entre diversos gestores, tanto municipais como destes com os estados e com a União (carac-
terizado pelos diferentes partidos políticos que representam projetos de sociedade diversos), é possível concluir
que o município fica muito vulnerável ao nível federativo “superior”. E a coisa fica pior, porque o município não
tem direito à defesa.
50
Podemos dizer que o Brasil construiu um dos sistemas de saúde mais
avançado do mundo, aprovado em sua Constituição de 1988, mas podemos
afirmar, sem medo de errar, que desde a aprovação do SUS, todo esforço
feito pela saúde privada, pelo governo federal, por grande parte dos governos
estaduais e por parte dos governos municipais foi no sentido de não
implementar essa lei.
Mas a que se daria tanta dificuldade de implementação do SUS?
Entre muitos motivos, encontra-se o modelo de sociedade neoliberal
capitalista que se afirma nos anos noventa, no exato momento em que
deveríamos começar a implementar o SUS no país. Conseqüência disso,
o Brasil chegou em 2000, ano previsto em 1978 pela Conferência de Alma-
Ata (Organizada pela OMS e Unicef) como o marco em que teríamos saúde
para todos (O lema era: “Saúde para todos até o ano 2000”), no 125º lugar no
atendimento à saúde no ranking da OMS. Foram pesquisados 191 países. Embora sendo a 10ª economia do
mundo, na saúde está atrás de países como Tonga, Albânia e Senegal cujas economias pouco podem ser com-
paradas ao Brasil.
Realidade da saúde no Brasil nos últimos anos
Para fazer a análise da saúde nos últimos anos, vamos dividi-la em dois:
– Uma análise mais ampla da realidade socioeconômica por que passa o Brasil. Esse ponto é fundamen-
tal, dado que nosso conceito de saúde dialoga diretamente com as condições de vida da população;
– Análise de indicadores específicos sobre a saúde no país. Uma análise qualificada da saúde deve levar
em consideração, além dos dados estruturais da realidade, os dados específicos que mostram aspectos de
morbidade e mortalidade. Os dois pontos estão intrinsecamente ligados entre si.
• Realidade socioeconômica brasileira
A legislação do SUS, além de conceber a saúde como direito fundamental de todos, conseguiu
52
pensar num sistema único e integrado de promoção, prevenção e assistência. Como não poderia ser
diferente, prioriza ações de promoção e prevenção, evitando que as pessoas sejam afetadas por molés-
tias e garantindo o bem viver de todos.
Nessa perspectiva, vamos expor alguns indicadores sociais e econômicos para perceber o nível de qua-
lidade de vida da população e, por conseqüência, o nível de sua saúde.
O Brasil figura entre as dez maiores economias do mundo, mas, conforme dados de 1998, 50,1
milhões de brasileiros (32,7%) vivem na pobreza. Destes, 21,4 milhões de pessoas (13,9%) vivem na
indigência. Os 10% mais ricos controlam cerca de 50% da renda e aos 50% mais pobres restam apenas cerca
de 10% da renda. O desemprego aumentou de 7%,
em 1996, para 9,4% da população economicamente
ativa em 2001..2
Esses indicadores mostram que um dos mai-
ores problemas do país continua sendo, não o seu
potencial e capacidade de produção de riquezas, mas
a sua distribuição. A desigualdade que assola o país é
a grande responsável pela produção da pobreza e pela
má qualidade na saúde da população.
De acordo com o PNUD – Relatório de Desenvolvimento Humano – de 1999, 15,8% da população não
tem acesso às condições mínimas de higiene, educação e saúde; 11,4% morrem antes de completar 40 anos;
16% são analfabetos.3 Esses indicadores mostram que, para uma grande parcela da população, o direito à saúde
ainda não passa de uma conquista formal, pois essas pessoas não têm a mínima qualidade de vida.
Entre os diferentes fatores determinantes das desigualdades descritas acima está o ajuste estrutural.
Conforme dados do relatório nº 121 do Conselho Nacional de Saúde, a Dívida Consolidada da União, em
31.05.2002, era de R$ 1 trilhão e 47 bilhões. No período de 31.12.2000 até 31.05.2002 (17 meses), o país pagou
em Encargos Financeiros da União – EFU –, 150,6 bilhões. Entretanto, no mesmo período a dívida cresceu R$
Mas a que se daria tanta dificulda-de de implementação do SUS? Entre
muitos motivos, encontra-se o mode-lo de sociedade neoliberal capita-
lista que se afirma nos anos noven-ta, no exato momento em que deverí-amos começar a implementar o SUS no
país.
2 BARROS e MENDONÇA, 2000. In: Situação dos Direitos Humanos no Brasil. Texto-Base apresentado pelo MNDH na CIDH/OEA em 15/
10/023 Situação dos Direitos Humanos no Brasil. MNDH. Op. Cit.
53
230 bilhões. Prioriza-se o “direito” de alguns
especuladores internacionais ao invés dos direi-
tos humanos de todos os cidadãos, como a saú-
de, assumidos em diversos pactos internacio-
nais e na Constituição do país.
Quando os governos priorizam seus
compromissos com o capital financeiro, o
corte nas políticas públicas, como a saúde,
são inevitáveis.
Falar em indicadores sociais e econômi-
cos é falar de saúde, principalmente no nível da
promoção. Embora o governo brasileiro tenha
restringido por muito tempo sua política de saú-
de somente no âmbito da assistência, ao tratar-
mos da qualidade de vida das pessoas não
estamos inventando a roda, mas apenas reforçando o que prevê a legislação do país.
Após uma análise estrutural que incide de modo direto na efetivação, ou não, do direito à saúde, faremos
agora uma reflexão específica sobre a realidade da saúde. À luz de alguns princípios do SUS, apontaremos os
principais entraves (obs: não voltaremos a discutir o princípio do controle social aqui em função da reflexão
feita anteriormente).
Universalidade e Integralidade das Ações e Serviços
Conforme os preceitos da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos. Na última década, com
a conquista do SUS, tivemos avanços no sentido de garantir o acesso à saúde para mais pessoas. Entretanto, na
análise do princípio da universalidade, não podemos deixar de expor as iniciativas do governo brasileiro que
relutava em reconhecer que a saúde é direito de todos, independente do cidadão ser contribuinte ou não. (A
universalidade implica em gratuidade. Gratuidade não significa que o SUS não seja pago pelos cidadãos. O
cidadão que paga impostos sobre o conjunto de bens e serviços não deve pagar mais pelos serviços de saúde.
54
Portanto, é diferente da concepção de caridade.)
Seis anos após a aprovação do SUS na Constituição, o então presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, enviou proposta de modificação da Constituição para alterar o artigo 196: “Saúde é direito de todos e
dever do Estado”. Sua proposta acrescentava, ao final dessa frase, “nos termos da lei”. Isso lhe permitia a
criação de legislação paralela que poderia acabar com a universalidade. Na mesma linha, argumentou o então
ministro da Saúde Carlos Albuquerque “...em nenhum momento (a legislação brasileira) afirma, pelo contrário, que é
obrigação do Estado assumir integralmente a prestação ou financiamento da saúde” (Folha de São Paulo, 19. 10.1997).
Sem um compromisso efetivo do governo fica muito mais difícil a garantia do direito à saúde. Em
muitos casos, o único recurso que resta às pessoas é
garantir seu direito na justiça, que, por vezes, tam-
bém tem dificuldade de reconhecer a saúde como
direito fundamental. Mas, quando esse direito é ga-
rantido judicialmente, isso ocorre em morosidade
muito grande, ao passo que a doença continua avan-
çando. Existem também, o que consideramos mais
grave, casos em que a justiça concede o direito a
gestores de exigir comprovante de renda e de resi-
dência para o atendimento no SUS. Uma clara violação da universalização do SUS por quem deveria garanti-la.
Nesse sentido, o governo está violando duplamente a universalidade. Primeiro, porque en-
quanto Poder Executivo deveria garanti-la na implementação da política. Segundo, porque não garan-
te um aparato jurídico eficiente ao qual o cidadão possa recorrer quando da violação de seus direitos.
Estamos, portanto, diante de um problema central, em se tratando de política pública: a quebra de sua univer-
salidade.
Eqüidade (mortalidade e morbidade)
Com o SUS, outro grande princípio aprovado foi a eqüidade, para garantir as ações de saúde conforme
as necessidades de grupos e dos indivíduos como um todo. Esse princípio se torna mais importante porque,
como exposto acima, no país há inúmeras desigualdades. A eqüidade não pode servir como argumento, como
Seis anos após a aprovação do SUSna Constituição, o então presiden-te da República, Fernando HenriqueCardoso, enviou proposta de modi-
ficação da Constituição para alte-rar o artigo 196: “Saúde é direitode todos e dever do Estado”. Suaproposta acrescentava, ao final
dessa frase, “nos termos da lei”.
55
em alguns casos o é, para cobrar sobre os serviços das pessoas com melhores
condições de vida, para assim propiciar melhor atendimento a quem mais
precisa (no caso os mais pobres). A eqüidade tem sentido, porque se funda-
menta no fato de os indivíduos e grupos serem sujeitos de necessidades dife-
rentes e precisarem de ações de saúde conforme suas especificidades. É dever
do Estado implementar políticas públicas que atendam tais particularidades.
Sob o olhar da eqüidade queremos analisar alguns números da situação
da saúde nos últimos anos no Brasil. Os dados gerais mostram que em alguns
aspectos a saúde melhorou. Entretanto, aquém do necessário e possível. Le-
vando em consideração os indicadores específicos, veremos que as dificuldades permanecem.
A mortalidade infantil, que é um importante indicador de medição da qualidade da saúde da população,
diminuiu entre os anos 1990-2000. Mas se na região Sul, a taxa de mortalidade caiu de 28,72, em 1990, para
20,34, em 2000, na região Nordeste, o número percentual passou de 72,88 para 52,31, nos respectivos anos.
(Todos os dados sobre mortalidade infantil aqui estão relacionados por mil.)
É importante lembrar, mais uma vez, que o PIB per capita no Nordeste, conforme dados do IBGE, de
1997, era de R$ 2.494,00 enquanto no Sul era de R$ 7.434,00, no mesmo período. Esses números indicam que
o nível de mortalidade é diretamente proporcional ao desenvolvimento socioeconômico de cada região, persis-
tindo inaceitável desigualdade no país. Além disso, a queda na mortalidade infantil, em percentual, nas regiões
mais desenvolvidas, foi proporcionalmente maior do que nas regiões menos desenvolvidas.
A mortalidade infantil de menores de 5 anos de idade, após o primeiro ano de vida, está ligada
principalmente a doenças infecto-contagiosas por falta de investimento em saneamento básico. Nesse
sentido, na região do país economicamente mais pobre (Nordeste), a mortalidade era de 66,8, em 2000, enquan-
to no Sul estava em 28,2, no mesmo ano.
Se levarmos em conta o critério de raça, veremos que os índices aumentam em crianças negras. No
Nordeste, a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos era de 102,1, no ano de 1996. No Sudeste, o
índice de mortalidade infantil entre brancos e negros também obedece a uma grande desigualdade. No ano de
1996, era de 25,1 para brancas e 43,1 para negras. O percentual de mortalidade para menores de 5 anos era de
30,9 para brancas e de 52,7 para negras.4
56
A mortalidade materna também aponta para a necessidade de qualificarmos a política pública da saúde.
No III Encontro Internacional Mulher e Saúde, que aconteceu na Costa Rica, no ano de 1987, já havia um
consenso de que 98% das mortes maternas poderiam ser evitadas. Elas acontecem em sua absoluta maioria,
99%, em países do terceiro mundo, e 90% entre a população que ganha até dois salários mínimos e mora nas
regiões periféricas das grandes cidades (Araújo, 2000).
No Brasil, a mortalidade materna é uma das mais altas da América Latina. Por isso, no ano de
1996, foi instalada, no Congresso Nacional, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para
aprofundar o alto índice de mortalidade materna. No mesmo ano, eram 110 óbitos maternos por 100 mil
nascidos vivos, relacionados com a falta de atendimento no período pré-natal, no parto e no puerpério.
Sobre as doenças epidêmicas, que historicamente representaram um dos maiores problemas da saúde
no país, tivemos um impacto positivo em alguns ca-
sos, mas o índice continua alto ou pior, em outros. O
caso positivo está na erradicação da poliomielite e
dois anos sem nenhum caso de sarampo. Isso é uma
visível conseqüência da ampla prevenção através, prin-
cipalmente, da vacinação.
Mas, ainda somos o segundo país do mundo nos casos de hanseníase, perdendo somente para
Índia. Voltaram altos índices de dengue nos últimos anos, causando verdadeiro pânico entre as pesso-
as. Se em 1990 o número de casos de dengue estava em 39 mil, em 2000 chegou a 240 mil. Nessa matéria, é
importante que se diga que o governo brasileiro foi diretamente responsável, porque demitiu, no final dos anos
90, um conjunto de profissionais que atuavam permanentemente na prevenção, o que ajudou a disseminação
rápida da epidemia.
Portanto, em 14 anos de vigência do SUS, conseguimos bons resultados em alguns índices que medem
o nível e qualidade da política pública. Mas estamos aquém do esperado, porque não conseguimos resolver
problemas estruturais, como as desigualdades, e porque o governo não assume seu compromisso integral com
o SUS, como ficou provado acima.
A mortalidade infantil de menoresde 5 anos de idade, após o primei-ro ano de vida, está ligada prin-cipalmente a doenças infecto-con-
tagiosas por falta de investimentoem saneamento básico.
4 HERINGER, Rosana. Desigualdades Raciais no Brasil. In: Direitos Humanos no Brasil 2001 – Relatório da Rede Social de Justiça e Direitos
Humanos em parceria com Global Exchange, 2001.
57
Descentralização
Conforme Castillo (1998; OPS, 1997), a descentralização é definida como “transferên-
cia de poder, competências e recursos a instâncias e atores além dos núcleos do governo central.5 A Consti-
tuição estabeleceu a descentralização como princípio básico da organização do SUS.
Mas a implementação da descentralização está sendo feita num ritmo extremamente
lento e, pior, ações por parte do governo federal contrariaram esse princípio nos últimos anos. Se, por um
lado, à luz da descentralização, a responsabilidade das ações de saúde é posta sobre os estados e
municípios, de outro, há uma recentralização do poder de decisão e recursos por parte do governo
federal.
Segundo o médico sanitarista Gilson Carvalho, “existem hoje cerca de oitenta maneiras de passar dinheiro do MS
para os municípios. Cada uma delas com cada vez mais exigências e mais complicações. Inúmeros municípios, mesmo que queiram,
não dão conta de vencer a burocracia para se habilitar e acabam perdendo dinheiro.6 Fica evidente que essa forma de repasse
do governo federal não respeita a legislação, pois, continua o autor, “não leva em consideração nenhum plano municipal
feito com a população e o Conselho.” Essa lógica de distribuição de recursos permite ao governo superávit primário,
pois obriga os estados e municípios implementarem as ações discutidas pelo Ministério e não de acordo com as
suas necessidades. Através da centralização de recursos, o Ministério da Saúde acaba diminuindo o repasse além
de dirigir a política de saúde em todo país. Só recebe recursos quem executa os programas pensados pelo
governo central.
A conseqüência de o governo federal dirigir de forma centralizada a política da saúde, através dos
diversos mecanismos como a distribuição dos recursos, traz três graves conseqüências:
– a falta de racionalidade dos recursos. Quando um estado ou município executa um determinado
programa com o objetivo maior de acessar mais recursos (caso contrário não os acessa), e não porque faz parte
das suas demandas principais, investe em ações que muitas vezes não são as mais prioritárias naquele contexto.
– tira a autonomia dos estados e municípios na gestão do SUS. A capacidade dos gestores incidirem no
sistema local, do qual são responsáveis, torna-se muito pequena.
– desrespeita as instâncias de controle social que têm poder deliberativo sobre os recursos. Tanto as
5In: Saúde e Debate p. 63. 6CARVALHO, Gilson. FHC: Programa, Promessas e a Realidade na Saúde, 2002.
58
deliberações da Conferência e do Conselho transformam-se em meros instrumentos figurativos porque não há
recursos para que sejam implementadas.
Recursos Financeiros
A saúde do SUS depende fundamentalmente de aporte de recursos financeiros. Conforme a Constitui-
ção, a saúde será financiada com recursos dos municípios, estados e União. Se analisarmos os últimos anos,
veremos que o governo federal vem reduzindo gradativamente o investimento na saúde. Os recursos que a
União deveria investir na saúde são alvo do governo federal para conseguir superávit primário. Se em 95, as
despesas com saúde representavam 8,006% das despesas da União, em 2001 caíram para 3,076%. No
mesmo período, as despesas com juros da dívida cres-
ceram, no ano de 2001, em 315,017% em relação a
95; com a amortização da dívida, o crescimento foi de
975,860%; com saúde, um aumento pífio de 83,359%.
O gasto per capita da União, transformado em dólar,
caiu de US$ 81,23, em 95, para 59,13, em 2001.7
O investimento em saúde caiu, mas não signi-
fica que as contribuições sociais diminuíram. Se em 1995, o orçamento do Ministério da Saúde correspondia a
50% das contribuições sociais arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal; em 2000, se tivesse acompanhado
essa proporção, deveria, no mínimo, estar em 38,7 bilhões, considerando-se que foram arrecadados, em contri-
buições, 77,4 bilhões.8 Em seu relatório de 7.2.2001, a Comissão de Orçamento do Conselho Nacional de Saúde
assim se expressou: “A comissão considera relevante continuar dando destaque para EFU (juros + amortização da dívida), pois
essa é a única “explicação” para as dificuldades que o Ministério da Saúde tem encontrado no sentido de obter as suplementações
orçamentárias e financeiras necessárias.”
Em se tratando do financiamento da política pública de saúde, nos últimos anos, salta aos olhos o
descaso do governo brasileiro com o direito à saúde da população. Temos ciência de que para implementação e
qualificação do SUS há um conjunto de aspectos que precisam ser considerados. Mas pouco valem todos os
esforços se não forem investidos os recursos financeiros necessários ou, no mínimo, possíveis, para garantir
saúde de qualidade para todos.
Se, por um lado, à luz dadescentralização, a responsabilida-de das ações de saúde é posta sobreos estados e municípios, de outro,há uma recentralização do poder de
decisão e recursos por parte do go-verno federal.
59
Desafios para o Próximo Período
• Afirmar cada vez mais a saúde como direito humano fundamental para todos, conforme a Constitui-
ção e outros pactos internacionais, como o Pidesc. Isso pode parecer óbvio, mas esse texto mostrou que há
tentativas de acabar com essa grande conquista popular;
• Avançar significativamente na implementação da justiça social no Brasil. É preciso que os governos
adotem políticas capazes de diminuir as desigualdades sociais e econômicas como condição de efetivar o direito
à saúde;
• Fazer com que a União, estados e municípios respeitem as leis já conquistadas em relação ao financia-
mento do SUS, principalmente a EC 29. Ao mesmo tempo, é preciso aumentar os investimentos na saúde, o
que significa impor condições de pagamento da dívida pública;
• Fazer do SUS um sistema de saúde eficiente e eficaz que garanta a integralidade das ações de saúde para
todos. Para isso, é preciso adotar políticas públicas que dialoguem com as desigualdades sociais e econômicas do
país;
• Implementar o princípio constitucional da descentralização do poder e de recursos da saúde aos
diferentes órgãos federados. Não é viável, racional e possível, o SUS se qualificar a partir somente das ações
prescritas pelo governo central (ministro da Saúde);
• Apostar no e qualificar o controle social. Os sujeitos sociais precisam estar convencidos de que o SUS
só será implementado se todos cuidarem dele com carinho: desde a ocupação e qualificação dos espaços
institucionais, até a ação articulada entre os sujeitos sociais, além desses espaços. Em âmbito federal, o governo
deve garantir uma nova relação com as instâncias do controle social, diferente da forma como vinha sendo feita
nos últimos anos. Deve reconhecê-las como espaços autônomos e deliberativos sendo, para isso, indispensável
que o Conselho Nacional seja coordenado por um usuário. O Conselho Nacional deverá ainda qualificar sua
secretaria executiva, sendo ela espaço puramente administrativo-operacional.
• Qualificar os processos de educação popular como meio de fortalecer o controle social do SUS. O
controle social somente se efetiva se existirem cidadãos ativos, qualificados e convictos. Eis o papel da educação
popular.
7GUADAGNIN, REZENDE e ALVES, 2002.8CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2002.
60
Partindo do que foi visto, propomos o
esforço de perceber como a educação popular
contribui na organização dos sujeitos sociais
populares e a importância desses na luta pela
garantia do direito à saúde.
Conceito de educação popular
O que é educação popular? Há mui-
ta confusão a respeito. Muitos pensam que se
trata de educação reservada às classes popula-
res. Outros a contrapõe à educação formal das
escolas. Mas o significado do conceito, his-
toricamente produzido, dialoga diretamen-
te com determinado projeto político e, en-
quanto tal, sua centralidade é o comprome-
timento teórico e prático com a emancipação das classes oprimidas e, em conseqüência, a libertação
do ser humano em geral. Ela tem compromisso com a práxis libertadora. Por isso, preocupa-se em realizar a
educação articulada com a organização e luta do povo.
A educação popular surge e se desenvolve na resistência à opressão. Logo, seu grande propósito sempre
foi transformar a realidade, as relações, a estrutura, enfim, a sociedade opressora. Pois entende que a opressão
desumaniza as pessoas, a sociedade e o mundo e que a educação tem compromisso em contribuir para desen-
volver a humanidade.
Segundo Paulo Freire, a transformação só vai acontecer a partir da ação organizada dos oprimidos,
ou seja, dos sujeitos populares. Assim, a educação popular sabe que sua função é contribuir pedagogicamente na
organização política dos grupos oprimidos, levando-os à condição de sujeito da própria libertação. Hurtado
lembra que “a educação popular é o processo de formação e capacitação que se dá dentro de uma perspectiva
política de classe e que toma parte ou se vincula à ação organizada do povo, das massas, para alcançar o objetivo
9HURTADO, Carlos Nunez. Educar para Transformar Transformar para educar. (Trad. Romualdo Dias). Petrópolis, RJ, Vozes, 1993, p. 44.
62
de construir uma sociedade nova, de acordo com seus interesses”.9 Na verdade, é a reflexão a partir da prática
e organização de sujeitos populares. Ainda, conforme Brandão, a educação popular visa participar do esforço
que fazem as categorias de sujeitos subalternos na organização política em vista da conquista de sua liberdade e
de seus direitos.
Nesse sentido, a libertação passa necessariamente pela pedagogia dos oprimidos. A educação
popular propõe-se contribuir para que eles levantem a voz, rompam com a cultura do silêncio e digam
basta à opressão. Significa criar condições para que toda pessoa possa reconhecer que ela é sujeito de direitos
e de conhecimentos e exigir o reconhecimento público disso. É constituir um povo sujeito da transformação e
do próprio projeto político e histórico de desenvol-
vimento. O que requer, junto à educação, organiza-
ção e luta. Fica claro, aqui, a dimensão política da edu-
cação popular. A compreensão de que a transforma-
ção da estrutura social injusta só vai acontecer atra-
vés da organização popular em espaços públicos de-
mocráticos, criando uma nova cultura política do di-
reito e da participação, forçando a transformação da
relação clientelista e da estrutura “burguesa” de Estado.
Em resumo, a educação popular propõe a transformação humana, social e cultural. Ela não pretende
trocar a classe opressora, mas acabar com a opressão em todos os níveis. Segundo Freire, a pedagogia do
oprimido deve ter como horizonte a pedagogia do homem, ou seja, acabar com a opressão, para que não haja
oprimidos e nem opressores, mas homens livres. Esse é um desafio que passa, necessariamente, pela postura
valorativa, organizativa, dialógica e participativa dos grupos oprimidos na luta por direitos e justiça social.
No Brasil, a educação popular aparece com força no início dos anos 60, com a alfabetização de adultos
e com a organização popular em torno das reformas de base (agrária, política, bancária, urbana, educação...), e
reaparece com mais força ainda nos anos 70 e 80 na luta pela redemocratização do país. São momentos de forte
esperança e real possibilidade de se implementar um outro projeto de desenvolvimento: um projeto popular.
Mas o significado do conceito, his-toricamente produzido, dialoga di-retamente com determinado projeto
político e, enquanto tal, suacentralidade é o comprometimento
teórico e prático com a emancipaçãodas classes oprimidas e, em conse-
qüência, a libertação do ser humanoem geral.
10VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação Popular em tempos de democracia e pós-modernidade: uma visão a partir do setor saúde, In: EducaçãoPopular Hoje. (org. Marisa Vorraber Costa). SP, Loyola, 1998, p. 71.
63
Nos anos 60, essa possibilidade foi frus-
trada pela ditadura militar. A possibilidade re-
presentada pela redemocratização passou a
enfrentar a resistência neoliberal que acabou
se impondo e deu continuidade ao antigo pro-
jeto em curso. No entanto, a educação popular
segue viva, através dos sujeitos sociais popula-
res, na luta contra todo tipo de opressão, pela transformação do projeto de desenvolvimento, por direitos e
justiça social.
Agora, já estamos em condições de procurar perceber por onde passa a contribuição da educação
popular na luta pelo direito à saúde.
Educação popular em saúde
Qual a relação da educação popular com a saúde? Hoje existem dois conceitos de saúde em disputa: um
compreende a saúde como qualidade de vida e outro, como tratamento de doenças. Este último se consolida a
partir do desenvolvimento tecnológico ligado a interesses do capital e do mercado. Aquele, de que saúde é
qualidade de vida, se deve muito aos esforços e lutas resultantes dos processos de educação popular. Nos anos
70, a participação de profissionais de saúde nas experiências de educação popular possibilitou uma cultura de
relação com os sujeitos populares o que, por sua vez, viabilizou o surgimento de uma nova concepção de saúde
e a elaboração gradativa de um novo projeto de saúde para o Brasil.
A educação popular, enquanto participação na organização política das classes populares que
buscam conquistar sua liberdade e seus direitos tornou-se, no setor saúde, um instrumento de
reorientação da globalidade das práticas de saúde, possibilitando uma relação próxima dos profissio-
nais de saúde com a população e seus movimentos organizados.
O Movimento Sanitarista que se afirma nos anos 70 e 80 é um movimento de profissionais de saúde que
buscam uma prática alternativa e engajada com a luta popular. Assim, convivendo com a dinâmica de adoecimento
e de cura no meio popular, relacionando-se com movimentos sociais locais e com outros grupos militantes,
muitos profissionais reorientam sua prática, rompem com o caráter mercantil e tecnicista da prática médica
dominante e procuram encarar os problemas de saúde de forma mais global, não ignorando a sua relação com
64
o contexto social.
Os serviços de saúde acontecem praticamente em todos os bairros o que, por sua vez, favorece o
desenvolvimento da educação popular em saúde. Muitos profissionais passam a residir nos bairros em que
trabalham e acabam fortalecendo a organização social na localidade. Aqui convém citar Brandão, texto que
Vasconcelos insiste em recordar: a educação popular “não visa criar sujeitos subalternos educados: sujeitos
limpos, polidos, alfabetizados, bebendo água fervida, comendo farinha de soja e utilizando-se de fossas sépticas.
Visa participar do esforço que já fazem hoje as categorias de sujeitos subalternos, do índio ao operário, para a
organização do trabalho político que abre caminho para a conquista de sua liberdade e de seus direitos”.10 Nesse
texto, fica explícita a ênfase política da educação popular em saúde, ou seja, a inserção na luta por direitos e
justiça social.
Assim, a saúde, através do Movimento Sanitarista, assume caráter de destaque na redemocratização do
Brasil e na luta sociopolítica em geral. Foi unindo o
conhecimento técnico dos profissionais de saúde com
a organização política dos sujeitos populares que pos-
sibilitou o surgimento e a conquista de um novo pro-
jeto de saúde pública para o Brasil: o SUS. Isso de-
veu-se especialmente à VIII Conferência Nacional de
Saúde, em 1986, e à Constituinte Nacional, em 1988.
Educação popular e o SUS
A relação entre a educação popular e o SUS é bastante familiar. Podemos dizer que o SUS é filho da
educação popular. No entanto, assim como o SUS nasce da educação popular, ele também precisa dela para
crescer, para se consolidar. Sendo resultado da organização e da conquista popular, o SUS tem, entre seus
princípios constitucionais, a participação popular. É sobretudo via esse princípio que ele segue requerendo e man-
tendo uma ligação próxima com a educação popular. Continuando a metáfora, podemos dizer que a participa-
ção popular representa o cordão umbilical do SUS com a educação popular.
O SUS, para funcionar efetivamente, precisa da participação popular, ou seja, de controle social. O
controle social não é apenas a comunidade organizada fiscalizar os serviços de saúde, mas é, sobretudo, partici-
O Movimento Sanitarista que seafirma nos anos 70 e 80 é um movi-
mento de profissionais de saúde quebuscam uma prática alternativa e
engajada com a luta popular.
65
par na elaboração e decisão das políticas de saúde. A lei do SUS prevê a
participação institucional da comunidade nas conferências e nos conse-
lhos de saúde, espaços onde se elabora e se decide a política de saúde. Para
ocupar de forma qualificada esses espaços, os sujeitos populares precisam
de formação e de articulação. É aí que entra a contribuição da educação
popular.
Uma das funções da educação popular é criar as condições
para o exercício do controle social da política de saúde. Ela pode
contribuir no aprofundamento de temas específicos ligados ao SUS, tais
como: legislação, organização e funcionamento, gestão, financiamento,
controle social... Isto é, qualificar tecnicamente os sujeitos populares para
atuarem no controle social da saúde. Mas a principal contribuição da
educação popular está na organização dos sujeitos populares para a
disputa política dos projetos de saúde. Neste sentido, aparece como
fundamental a organização de outros espaços de controle social que ultra-
passem os espaços institucionais, dos quais já falamos anteriormente. Ou
seja, o controle social feito a partir do espaço dos movimentos sociais. Ou
ainda, a ampla articulação entre os movimentos ou sujeitos sociais em
fóruns específicos de elaboração de políticas de saúde e de estratégias de
disputa dessas políticas. Significa proporcionar, através da qualificação téc-
nica e política, as condições para que a comunidade participe efetivamente da implementação do SUS. Assim a
educação popular está contribuindo para a formação de uma nova cultura política de participação popular e de
exercício da cidadania.
Educação popular e o empoderamento dos sujeitos populares
Através da qualificação humana e técnica e da organização política, a educação popular contribui para o
empoderamento dos sujeitos sociais populares. Faz com que eles assumam posição de sujeitos-cidadãos, tanto
de forma individual quanto coletiva. Os princípios da educação popular buscam romper com uma cultura de
66
submissão, afirmando que todos têm conhecimentos, que todos os sujeitos têm direito de dialogar e de defen-
der suas propostas, até porque nem sempre as propostas do doutor e do prefeito são as melhores para a
população. Nem sempre eles têm a mesma concepção de saúde que o povo. Temos direito à saúde e o doutor
e o prefeito devem garantir esse direito. (Saúde é um direito de todos e um dever do Estado.) Portando, quando
eles garantem os serviços de saúde não é um favor que estão prestando, mas é um dever e por isso são eleitos.
Quando não o fazem cabe a nós exigir.
Nessa perspectiva, a educação popular, ao afirmar que todos somos sujeitos, que todos temos
direitos, que devemos romper com a opressão e com a cultura de submissão, gera um empoderamento
das classes populares. O presidente da associação de moradores, ou a liderança da pastoral, ou simplesmente
o usuário do SUS passa a não ter mais medo de ir ao Conselho e debater suas idéias com o gerente do hospital
ou o dono do laboratório. Passa a entender que é o usuário que deve debater e elaborar propostas sobre como
deve funcionar o sistema de saúde.
Como podemos ver, o empoderamento se
dá em dois sentidos: no individual e no coletivo.
Faz com que a pessoa reconheça que ela tem va-
lor, que ela é cidadã, tem direitos e que é impor-
tante ela participar de espaços políticos, onde
pode dizer o que pensa e o que necessita e deseja. No entanto, o empoderamento aumenta quando as
pessoas se articulam (em pastorais, associações, movimentos, fóruns...) e participam dos espaços e
das definições políticas de forma organizada. Por exemplo, é diferente a reivindicação de uma pessoa
isolada da reivindicação de um integrante de uma associação de moradores que representa a vontade de um
bairro ou localidade. Pois este, se não for atendido pelo agente governamental, pode reagir com uma manifes-
tação pública ou, então, cobra através do voto, em período de eleições, pois não estará sozinho e terá o apoio da
comunidade.
É assim que a educação popular vem contribuindo para a criação e fortalecimento de vários e diversos
sujeitos sociais populares que se constituem em interlocutores de seus direitos. O que está contribuindo para a
organização da sociedade civil e afirmando uma nova cultura política de participação popular que conquistará,
gradativamente, um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil. Pois, a educação popular acredita na força
67
Mas a principal contribuição daMas a principal contribuição daMas a principal contribuição daMas a principal contribuição daMas a principal contribuição da
educação popular está na organi-educação popular está na organi-educação popular está na organi-educação popular está na organi-educação popular está na organi-
zação dos sujeitos populares parazação dos sujeitos populares parazação dos sujeitos populares parazação dos sujeitos populares parazação dos sujeitos populares para
a disputa política dos projetosa disputa política dos projetosa disputa política dos projetosa disputa política dos projetosa disputa política dos projetos
de saúde.de saúde.de saúde.de saúde.de saúde.
68
do desejo de justiça, na força da organização popular e na força do direito à beleza que consiste na saúde e vida
para todos.
METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Enéias da Rosa11
O controle social na saúde, tanto no âmbito institucional como fora dele, pressupõe sujeitos sociais
organizados e comprometidos com o SUS. Mas somente boas intenções não basta. O controle social requer
dos sujeitos ações capazes de incidir estruturalmente na realidade da saúde. É comum observarmos entidades
apaga-incêndio. Ou seja que, em sua grande maioria, executam somente ações demandadas pela conjuntura ou
pelo gestor, correndo sempre atrás do prejuízo. Queremos dizer que essas ações fazem parte do cotidiano das
entidades e que precisamos também respondê-las. Mas enquanto fizermos apenas isso, será difícil mudar os
contextos da saúde que são complexos e requerem profundidade para o enfrentamento.
Para que avancem na proposição de ações mais qualificadas a médio e longo prazo (além de ser bons
bombeiros), as entidades precisam PLANEJAR suas ações. Na intenção de contribuir com essa discussão,
apresentamos alguns elementos de conteúdo e passos metodológicos para qualificar as metodologias de plane-
jamento nas entidades.
Introdução preliminar à MPP
Basta fazer um levantamento bibliográfico sobre métodos ou processos de planejamento para ver quão
vasta é sua área de produção. Disso decorrem diversas interpretações e conceitos sobre o tema, de acordo com
os diferentes modos de “olhar” dos autores e da posição na qual se encontram no momento em que projetam
esse olhar. Elementos de tal caráter influenciam direta ou indiretamente o procedimento e os resultados finais
de um processo metodológico de planejamento. No entanto, em muitos casos, os processos metodológicos são
praticamente os mesmos, mas para aparentar novidade criam-se novos adjetivos, isto é, novos termos para nomear
velhos conceitos.12
O planejamento participativo (contrariamente ao planejamento centralizado) se apóia em alguns
referenciais ou princípios básicos que o identificam e definem que a participação só acontece, e é legítima, no
momento em que tanto beneficiários como executores, em níveis comuns ou específicos, participam ativamen-
11Educador popular no CEAP, formando em Filosofia.12Para fazer referência a Carlos Matus, em Adeus Senhor Presidente: governantes e governados.
70
te no processo de construção de acordos, bem como de decisões. Portanto, todos os sujeitos envolvidos devem
ser agentes de mudança e de transformação e não meros expectadores do processo em construção.
Como os processos de planejamento participativo são muito recentes do ponto de vista histórico13, é
compreensível que exista, em muitos casos, desinteresse ou até espanto em relação ao desconhecido, ao que
historicamente não fez parte das práticas cotidianas. Mas também há muito que se despertar de uma dimensão
humana que por tempos fora retraída a partir de compreensões e práticas controladoras e dogmáticas, ou seja,
a participação é um campo a ser melhor explorado.
Pressupostos teóricos básicos para uma MPP
Uma metodologia de planejamento participativo deve partir da globalidade, do todo da realidade. A
fragmentação é um dos piores indícios que pode acontecer num processo de planejamento. Constatar proble-
mas ou equívocos técnicos, políticos ou até metodológicos no decorrer da implementação do processo plane-
jado é algo que faz parte da dinâmica dos processos históricos executáveis. Percebê-los pode ser um sinal claro
de que o processo é legítimo porque constata problemas e permite correção de rumos. O que não pode
acontecer é que o planejamento, por vício de origem de qualquer ordem, elabore uma estrutura fragmentada
que sobrevalorize determinada dimensão e omita outras. Compreender a globalidade do processo significa levar
em conta todos os aspectos presentes nela.
Realidade global existente e realidade global desejada14
Embora a apreensão da realidade signifique, do ponto de vista universal, algo sempre limitado, partimos
de uma compreensão de que a realidade existente diz respeito àquilo que determinado grupo, instituição, gover-
no, percebe da realidade na qual se insere, como, por exemplo, seus problemas, seus desafios, suas esperanças
etc. Essa primeira aproximação da realidade, “não é, ainda, ou, pelo menos, não necessita ser uma abordagem
científica. É, antes, um dar-se conta, um situar-se no mundo, um sentir problemas e esperanças...O que há é um
13Ao menos do ponto de vista da sociedade moderna ocidental que historicamente desconsiderou a dinâmica organizativa de vida dos povos primitivos
(selvagens).14A presente formatação quer dar a tônica da universalidade, frisando o cuidado para com os extremismos correntes em processos de planejamento que orasão essencialmente praticistas, ora teoricistas.
71
ver sem uma prévia determinação de seu conteúdo e sem estabelecimento prévio (explícito e grupal) dos
critérios para julgar essa realidade”.15 Portanto, é muito normal que nesse momento alguns elementos da reali-
dade chamem muita atenção, outros fiquem na obscuridade e outros nem sequer apareçam.
Mesmo que a realidade seja complexa e, em certo sentido, sempre mais ampla que o alcance da
apreensão no momento em que sobre ela lançamos o olhar, não podemos abrir mão da dimensão
utópica, isto é, da realidade desejada. Esse é o momento em que se expressa a “utopia social” no seu
sentido de permanente movimento. É preciso, portanto, expor as opções existentes levantadas no
momento de leitura da realidade e fundamentá-las analítica e teoricamente. É o momento da funda-
mentação explícita da proposta político-social que se quer enquanto horizonte articulador e condutor
das práticas de determinado grupo ou instituição.
Podemos dizer que o resultado desse trabalho representa uma clara disposição dos sujeitos envolvidos
de determinado plano ou projeto em participar de um processo de planejamento com caráter participativo. Em
primeiro lugar, por aglutinar as diferenças e potenciais de seus participantes e, em segundo lugar, por ser global
e se colocar qualificadamente na busca do que se quer enquanto coletivo em seus diferentes níveis.
Nível operacional e nível estratégico
Quando nos propomos a construir processos de planejamento participativo devemos ter claro que
existem pelo menos dois níveis bem distintos de ação, a saber, o nível operacional e o nível estratégico. A
distinção que ora estabelecemos não tem a pretensão de marcar um diferencial no grau de importância entre um
e outro nível no todo do projeto, mas afirmar que o todo do projeto estará garantido no momento em que cada
nível executar suas especificidades em consonância com o outro.
O normal, ou o que geralmente acontece nos processos de “planejamento”, é uma sobreposição do
nível operacional sobre o nível estratégico. Com certeza não podemos prescindir dos acontecimentos provoca-
dos pelos diferentes movimentos feitos ao longo do caminho que se percorre, além do mais, em grande medida,
tais acontecimentos não dependem unicamente do sujeito que os presencia e os vive. (Caso dependessem
poderia evitá-los como o faz com os possíveis.) No entanto, deve-se assegurar que, ao colocar-se a caminho, o
sujeito tenha, a partir da sua experiência de vida e de uma análise mais profunda de elementos estruturais que
15GANDIN, Danilo. A prática do Planejamento Participativo. Editora Vozes, 8ª edição, Petrópolis, 2000. Pág, 79.
72
envolvem a sociedade, um horizonte que queira atingir nessa investida. Isto é, todos os movimentos e momen-
tos vão ganhando sentido em vista do lugar que se quer chegar. Há uma conexão e uma relação de interatividade
entre os meios e os fins.
Se, para fins de clareza metodológica, quisermos estabelecer elementos que melhor diferenciem um
nível do outro, mas ao mesmo tempo contemplem a globalidade do planejamento, poderemos ver que pergun-
tas cada nível responde. Partindo desse parâmetro pode-se dizer que o nível estratégico responde às perguntas
“para que” e “para quem” e que o nível operacional responde às perguntas “como” e “com que”.16 Tais pergun-
tas, se analisadas em seu sentido mais global, dialogam basicamente com o futuro levando em conta o presente,
com os fins levando em conta os meios, com a eficiência buscando a eficácia e com os problemas sem descuidar
das necessidades. Enfim, com a globalidade abordando suas especificidades.
Como se pode perceber os dois têm igual importância no processo de construção de uma realidade e
devem interligar-se para que se possa definir para onde se quer ir e para que se realizem as ações para aproximar,
cada vez mais, a realidade que se tem àquela que se quer. Esse é o processo de ação-reflexão aplicada no
planejamento.
Momentos estruturais de planejamento participativo
Levando em consideração os elementos teóricos ordenadores dos processos de planejamento participativo,
temos quase como unanimidade entre os diferentes métodos (salvaguardando alguns desdobramentos específi-
cos que não alteram a lógica da construção geral), três momentos estruturais que conformam a globalidade17 do
plano ou do projeto em questão.
Planejamento do plano do projeto
Dentro dessa concepção do projeto e de seu ciclo de vida, o ponto inicial é o processo de sensibilização
e envolvimento dos diferentes sujeitos sociais que o mesmo engloba, direta ou indiretamente. Esse, portanto,
não é um momento de menor importância na elaboração de um plano, pois um dos primeiros fundamentos da
participação é o nível de envolvimento e representatividade dos beneficiários na elaboração do plano que se
16Idem, pág.55.17O método ZOPP chama esse processo contínuo na busca da globalidade do projeto de “ciclo de vida de um projeto”.
73
quer.
Se o primeiro movimento na criação de um espaço participativo acontece no envolvimento das partes
interessadas no plano, o movimento seguinte os deve colocar rumo ao levantamento dos problemas centrais
que suscitaram a exigência de um plano de ação. Eis aí pelo menos duas questões fundamentais: a importância
de dinâmicas e metodologias que favoreçam a participação efetiva dos indivíduos envolvidos com as problemá-
ticas, e a importância de uma análise profunda dos problemas levantados para ver se de fato esses dão conta do
cerne da questão central.
Levantado o problema central e seus entornos, parte-se para a elaboração dos objetivos. Esse procedi-
mento passa basicamente por um processo de discussão e de análise da situação desejada em relação à situação
atual. Disso, o que geralmente surge é um conjunto de caminhos e possibilidades para a resolução dos proble-
mas. No entanto, assim como é necessário planejar, é também prudente e metodologicamente correto que se
estabeleçam, segundo critérios – organizativos, técnicos e políticos – prioridades de ação que possuam maior
capacidade de êxito.18
Operacionalização do plano do projeto
Às etapas anteriores do planejamento, que têm como fundamento central levantar os problemas e traçar
objetivos para a solução deles, segue-se a fase de execução do plano através da implementação das ações.
Também nesse momento da operacionalização do plano exige-se um detalhamento mais preciso que defina as
atividades, tarefas e/ou subatividades. Essas, por sua vez, devem definir, além de metas, os responsáveis e o
cronograma de realização das atividades, tarefas etc.
É nessa fase que se definem quais são os recursos – humanos, técnicos, financeiros etc – necessários
18Para fins de esclarecimentos e de elaborações de planos mais técnicos e complexos, dentre outros métodos, sugerimos o procedimento do método ZOPP
nominado matriz do plano do projeto: “Ele traz em si toda a estratégia do projeto onde podem ser identificados, na sua estrutura matricial, oobjetivo global (também chamado de superior ou estratégico), o objetivo do projeto, os resultados esperados (correspondentes aos objetivos
específicos) e as atividades ou ações que são os meios para atingir os resultados. Além disso, traz ainda os indicadores objetivamente
comprováveis (também chamados de indicadores de impacto, de benefício ou de resultados e que servem para medir os benefícios ou impactos desejáveis doprojeto), as fontes de verificação (que representam os documentos onde são encontrados os dados para avaliação processada pelos indicadores) e os
pressupostos (também chamados de suposições e que são os fatores fora da governabilidade do projeto, porém essenciais para o êxito do mesmo). Há,
ainda, um campo na matriz do plano do projeto destinado a apresentar, sucintamente, os custos e insumos do projeto.” In Método ZOPP, textointernet.
74
para uma qualificada operacionalização do plano. Também se elabora uma metodologia de monitoria, avaliação
e sistematização de todo o projeto. Enfim, nesse momento, a teoria se faz prática e se reconceitualiza para uma
sempre nova prática participativa.
Monitoramento, avaliação e sistematização do plano do projeto
É sabido que o plano de um projeto só será eficaz se comportar, em sua constituição, uma metodologia
participativa que permita elaboração, mas também acompanhamento e, se necessário for, correção de rumos.
Em outras palavras, se faz necessário um conjunto de procedimentos que possibilitem acompanhar e analisar o
decorrer do projeto, pois sem esse conjunto, ele fica totalmente vulnerável às contingências normais em qual-
quer processo de planejamento. Como cada elemento possui suas especificidades no todo, concordamos que “o
monitoramento diz respeito à observação regular e sistemática do desenvolvimento das atividades, do uso dos
recursos e da produção dos resultados, comparando-os com o planejado. Ele deve produzir informações e
dados confiáveis para subsidiar a análise de razão de eventuais desvios, assim como das decisões de revisão do
plano. Já a avaliação cumpre o papel de analisar criticamente o andamento do projeto segundo seus objetivos,
tendo por base as informações produzidas pelo monitoramento”.19
O processo de sistematização tem uma relação direta com os processos de monitoria e avaliação, pois
seu objetivo é, através de processos narrativos, analíticos, hermenêuticos20, ressignificar a realidade para práti-
cas sempre novas e mais qualificadas no todo da sociedade.
Conclusão sobre MPP
Nosso exercício nos leva a compreender que nenhum planejamento, por mais simples que seja,
pode ser considerado como definitivo e válido até seu total cumprimento. Esse processo, como a
realidade sobre a qual opera, não é estático, fixo. Todos os processos participativos devem ser dinâmi-
cos e, como tais, estão sujeitos a mudanças nem sempre previsíveis. Uma ação hoje planejada poderá,
no próximo mês, deixar de ser plausível e haverá a necessidade de readequá-la ou até mesmo excluí-la.
Ainda, numa metodologia de planejamento participativo, há que se ter, sobretudo, um cuidado: qualquer
19ARMANI, Domingos. Pág. 6920No sentido da interpretação do que está na raiz de cada termo ou palavra.
75
mudança que se processe num plano deve ser sempre de comum acordo entre as partes envolvidas, isso é,
manter o enfoque participativo durante toda a duração de determinado projeto. Essa reflexão oferece a possi-
bilidade de afirmar que o planejamento participativo é um processo e não uma atividade isolada e só continuará
sendo enquanto seu horizonte for seu fim.
BIBLIOGRAFIA
GANDIN, Danilo. A Prática do Planejamento Participativo. Editora Vozes, 8ª edição, Petrópolis, 2000.
ARMANI, Domingos. Como Elaborar projetos? : Guia Prático para Elaboração e Gestão de Projetos Sociais. Tomo
Editorial, Porto Alegre, 2000.
MATUS, Carlos. Adeus Senhor Presidente: governantes e governados (tradução de Luis Felipe Rodriguez Del
Riego), Edições Fundap, São Paulo, 1996.
Textos: Método ZOPP-PCM; Método PLAPP.
Como podemos fiscalizar se o nosso município está cumprindo essa lei?
a) o município não estava obrigado a investir 15% já no ano de 2000;
b) entretanto, não pode começar a implementar a lei somente no ano de 2004, investindo 15%. O
alcance desse percentual deve ser gradativo, conforme o investimento feito em 1999. Exemplo: se em 99 o
município investiu 8% em saúde, deve subtrair 15-8=7. Esta é a diferença a ser acrescentada no percentual
anterior até 2004. Deve dividir 7% por 5 (o tempo de 2000 a 2004) = 1,4. Em 2000, o investimento deve ser de
9,4; 2001, 10,8; 2002, 12,2; 2003, 13,6 e 2004, 15%.
76
CONSIDERAÇÕES SOBRE FINANCIAMENTO DO SUS
O financiamento da saúde, embora muitas vezes obscuro e complicado de entender, é central na política
do SUS. Os recursos financeiros não são a única variável para uma boa política de saúde num país, mas sem
dinheiro definido e suficiente para a saúde, tudo não passa de boas intenções. Nesse sentido, embora tenhamos
trabalhado minimamente o financiamento anteriormente, optamos em fazer um anexo específico sobre o
tema, colocando algumas informações gerais importantes para o controle social dos recursos públicos.
Em se tratando do financiamento do SUS, desde sua criação os recursos financeiros foram insuficientes,
indefinidos e, em muitos casos, mal aplicados. Daí a importância da participação do controle social nos momen-
tos estratégicos de definição das políticas e dos recursos de saúde e de sua fiscalização.
Entre outras, três elementos são indispensáveis para se fazer o controle do financiamento do SUS:
noções de legislação, saber o que a lei obriga o poder público a investir em saúde e como; conhecimento dos
instrumentos de gestão, conhecer os mecanismos de planejamento e de controle dos recursos aplicados; e a
atuação firme e forte do controle social para acompanhar com competência e exigir transparência no trato
financeiro do SUS.
Em relação à legislação do financiamento, é preciso saber o que diz a Constituição Federal de 1988,
especialmente a Emenda Constitucional 29, de 2000, e as Leis Federais 8.080 e a 8.142, de 1990. Aqui não
podemos detalhar cada uma, mas fica o desafio para lerem e estudarem essas leis.
A Constituição Federal, no seu Art.195, define as fontes de financiamento da seguridade social e do
Sistema Único de Saúde. O art. 198, atualizado pela EC nº 29, define percentuais mínimos a serem aplicados em
saúde e a forma de calcular esses percentuais. O art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT) regulamenta os investimentos mínimos em saúde no período de 2000 a 2004. A Resolução nº 322, de
8 de maio de 2003, do Conselho Nacional de Saúde, aprova diretrizes acerca da aplicação da EC nº 29. Essa
Resolução é resultado do esforço de interpretação da mesma. Ela simplifica e atualiza a leitura da EC 29,
estabelecendo a base de cálculo.
A União deve aplicar um percentual mínimo calculado a partir do Produto Interno Bruto (PIB). A base
de cálculo é o montante empenhado em 1999 e acrescido de, no mínimo, 5% em 2000. De 2001 a 2004 é o valor
do ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB (inflação + variação real do PIB).
78
Os estados devem aplicar 12% da sua arrecadação em saúde. Essa porcentagem incide sobre os seguin-
tes impostos: ICMS, IPVA, ITCMD (impostos de natureza estadual), Quota-Parte do FPE, do IPI – Exporta-
ção e da Lei Complementar nº 87/96 – Lei Kandir (transferências da União), IRRF e receitas da Dívida Ativa
Tributária (impostos, multas, juros e correção), descontadas as transferências constitucionais aos municípios
(25% de ICMS, 50% de IPVA e 25% de IPI – Exportação).
Os municípios devem aplicar 15% da sua arrecadação em saúde. Essa porcentagem incide sobre os
seguintes impostos: ISS, IPTU, ITBI (impostos de natureza municipal), Quota-Parte do FPM, do ITR e da Lei
Complementar nº 87/96 (transferências da União), IRRF, Quota-Parte do ICMS, do IPVA e do IPI – Exporta-
ção (transferências do estado) e receitas da Dívida Ativa Tributária (impostos, multas, juros e correção monetá-
ria).
Os estados e municípios que investem menos que esses valores devem aumentar, gradativamente, seus
investimentos em saúde a ponto de atingir, a partir de 2004, o total do percentual definido. A regra do aumento
considera o valor investido em 2000, quando o mínimo permitido foi de 7%, reduzindo um quinto da diferença
por ano. Quem investiu mais que 7% em 2000 não pode reduzir esse valor e deve calcular a diferença a partir do
que aplicou neste ano.
Vejamos como fica o quadro de valores mínimos a serem investidos nos estados e municípios:
Pode ser considerado investimento em saúde: a) vigilância epidemiológica e controle de doenças; b)
vigilância sanitária; c) vigilância nutricional e orientação alimentar; d) educação para a saúde; e) saúde do traba-
lhador; f) assistência à saúde; g) assistência farmacêutica; h) atenção à saúde dos povos indígenas; i) capacitação
ONA ODATSE OIPÍCINUM
0002 %7 %7
1002 %8 %6,8
2002 %9 %2,01
3002 %01 %8,11
4002 %21 %51
79
de recursos humanos do SUS; j) pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde; l) produção,
aquisição e distribuição de insumos setoriais específicos, tais como medicamentos, sangue e equipamentos; m)
serviços de saúde penitenciários; n) atenção especial aos portadores de deficiência; o) ações administrativas
realizadas pelos órgãos de saúde, no âmbito do SUS.
Não são considerados investimentos em saúde: a) pagamento de aposentadorias e pensões; b) assistên-
cia à saúde de grupos fechados; c) merenda escolar; d) saneamento básico; e) limpeza urbana e coleta de lixo; f)
assistência social; g) despesas de hospitais universitários e militares.
Todos os recursos da saúde devem ser depositados no Fundo de Saúde (FS). Na esfera municipal, tanto
a União, quanto o estado e o município devem repassar os recursos arrecadados, conforme cálculo já visto, ao
Fundo Municipal de Saúde. Os recursos do Fundo só podem ser investidos em ações e serviços de saúde. O
Fundo Municipal de Saúde pode ter mais que uma conta, mas o Conselho Municipal de Saúde deve saber de
todas elas e fiscalizá-las mensalmente.
Conforme o art. 35 da lei 8.080/90, os critérios de repasse e distribuição dos recursos são os seguintes:
I- perfil demográfico da região; II - perfil epidemiológico da população a ser coberta; III - características quantitativas e qualitativas
da rede de saúde na área; IV- desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; V- níveis de participação do setor
saúde nos orçamentos estaduais e municipais; VI - previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede; VII - ressarcimento do
atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. O § 1º da mesma lei prevê que metade dos recursos destinados
a estados e municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer
procedimento prévio.
Os critérios acima precisam ainda de regulamentação por outra lei. Conforme a lei 8.142/90 “enquanto
não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no art. 35 da Lei 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, será utilizado,
para o repasse de recursos, exclusivamente o critério estabelecido no § 1º do mesmo artigo. Dessa forma, como ainda não foi
regulamentado o art. 35, o único critério legal de repasse de recursos é o coeficiente populacional. Entretanto,
no último período do governo FHC, tivemos mais de 80 formas (critérios) de repasses de recursos, principal-
mente por meio de programas. Diante disso, o desafio em torno dos repasses dos recursos é que se respeite os
critérios legais.
Os recursos do Fundo Municipal de Saúde exigem instrumentos de gestão que possibilitem o investi-
80
mento de forma racionalizada, controlada e transparente. Os instrumentos de gestão orientam a Secretaria
Municipal de Saúde na sua atuação e facilitam a realização do controle social por parte do Conselho Municipal
de Saúde. Os principais instrumentos de gestão são: plano municipal de saúde, orçamento público, plano de
aplicação e relatório de gestão trimestral e anual.
O Plano Municipal de Saúde deve ser o resultado das discussões e decisões da população nas Conferên-
cias Municipais e no Conselho Municipal de Saúde. Ele é a base de orientação para a realização de ações e
serviços de saúde e para a elaboração das leis orçamentárias. Deve haver uma lógica entre o Plano Municipal de
Saúde e a do orçamento público de saúde. Este deve partir do que está brevemente planejado para a saúde. Por
isso, o plano deve conter, de forma detalhada e operacionalizada, o conjunto das políticas definidas nas Confe-
rências de Saúde.
O sentido do orçamento é a organização da gestão pública a fim de viabilizar exatamente essas defini-
ções. Sobre a importância do plano de saúde, a lei 8.080/90, em seu § 2º do art. 36 diz que “é vedada a transferência
de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade
pública, na área da saúde”. Resta ao controle social fiscalizar, na sua esfera, se o gestor está respeitando o plano de
saúde como referência para o investimento de recursos, ou se desrespeita a lei tendo o plano só como “facha-
da”.
O orçamento público é normatizado pela Constituição Federal, cabendo destacar o art. 165, pelas Leis
Orgânicas dos estados e municípios e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Operacionalmente, o orçamento se
orienta pelas leis complementares: Plano Plurianual – PPA –, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e Lei
Orçamentária Anual – LOA.
O Plano Plurianual define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de
investimento e de programas de duração continuada. Ele é elaborado e votado no primeiro ano de governo e
vale para os quatro anos seguintes.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública conti-
das no Plano Plurianual para o exercício financeiro subseqüente (ano seguinte) e orienta a elaboração dos
orçamentos anuais, dispondo sobre alterações na legislação tributária e sobre o equilíbrio entre receitas e despe-
sas (arrecadação e gastos).
A Lei Orçamentária Anual discrimina a receita e a despesa pública, especificando a política econômica
81
financeira e o programa de trabalho do governo previstos no Plano Plurianal e na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias. Detalha o programa de governo em ações materializadas nos projetos e atividades orçamentárias. Tam-
bém especifica os recursos materiais e humanos necessários para o desenvolvimento dessas atividades. Diferen-
te do Plurianual e da Lei de Diretrizes, a Lei Orçamentária Anual estabelece valores, tanto de entrada como de
saída, para todas as ações e serviços planejados. Ela não pode incluir aspectos não previstos no Plurianual como
também não obriga que o executivo a cumpra, apenas o autoriza a gastar o montante previsto. O controle social
deve acompanhar todas essas fases para incluir as prioridades da saúde.
O plano de aplicação é solicitado pelo Decreto nº 39.582 de 10 de junho de 1999. Com base no plane-
jamento e no orçamento, deve-se elaborar Planos de Aplicação trimestrais, constando as ações e o custeio do
período. Em caso de receitas oriundas de convênios, exige-se Plano de Aplicação específico. O objetivo deste é
facilitar o controle social uma vez que deve ser analisado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
O Relatório de Gestão é uma solicitação da Lei 8.689/93 e o seu descumprimento é punido pela Lei
8.429/92 que considera improbidade administrativa deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo. Ele
deve descrever as atividades realizadas e os resultados alcançados, bem como deve apresentar um relatório
financeiro do trabalho executado. O relatório de gestão deve ser apresentado trimestralmente ao Conselho
Municipal de Saúde e também a toda a comunidade em audiência pública. No final do ano, o Conselho analisa
e aprova, ou não, o relatório de gestão anual. Se o relatório apresentar irregularidades quanto às deliberações do
controle social (Conferências e Conselhos), ao plano municipal, ao orçamento público ou outros, o Conselho
não pode aprová-lo e deve encaminhar ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público para apurar as mesmas.
A não-aprovação do Relatório de Gestão pelo Conselho Municipal de Saúde tranca o repasse de recursos por
parte da União e do estado. Como podemos ver, o Conselho tem poder, porém é preciso valer-se desses
mecanismos.
Podemos perceber como é importante a área do financiamento e o quanto é estratégica a participação
social nesse processo. De nada ou pouco adianta fiscalizar as ações e serviços de saúde se não participamos das
definições políticas em relação à saúde. Não adianta ter um plano de saúde bem elaborado se na hora da
definição do orçamento público ele não é considerado. O contrário também vale, isto é, se no momento da
definição do orçamento público não tem planejamento para se considerar. A participação dos conselheiros e
lideranças de saúde, com base nas Conferências e no plano municipal de saúde, na definição do orçamento
82
83
Bibliografia
público e na análise do relatório de gestão é fundamental para o bom funcionamento do controle
social e, conseqüentemente, do SUS.
Por último, a participação qualificada nesse processo requer organização. Ela exige estu-
dos em comissões e fóruns específicos e também articulação entre as entidades do controle social
a fim de garantir uma participação efetiva e evitar uma simples legitimação da política proposta
muitas vezes pelo gestor da saúde. A área do financiamento, sem falar das demais, reivindica uma
agenda de constante mobilização do controle social.