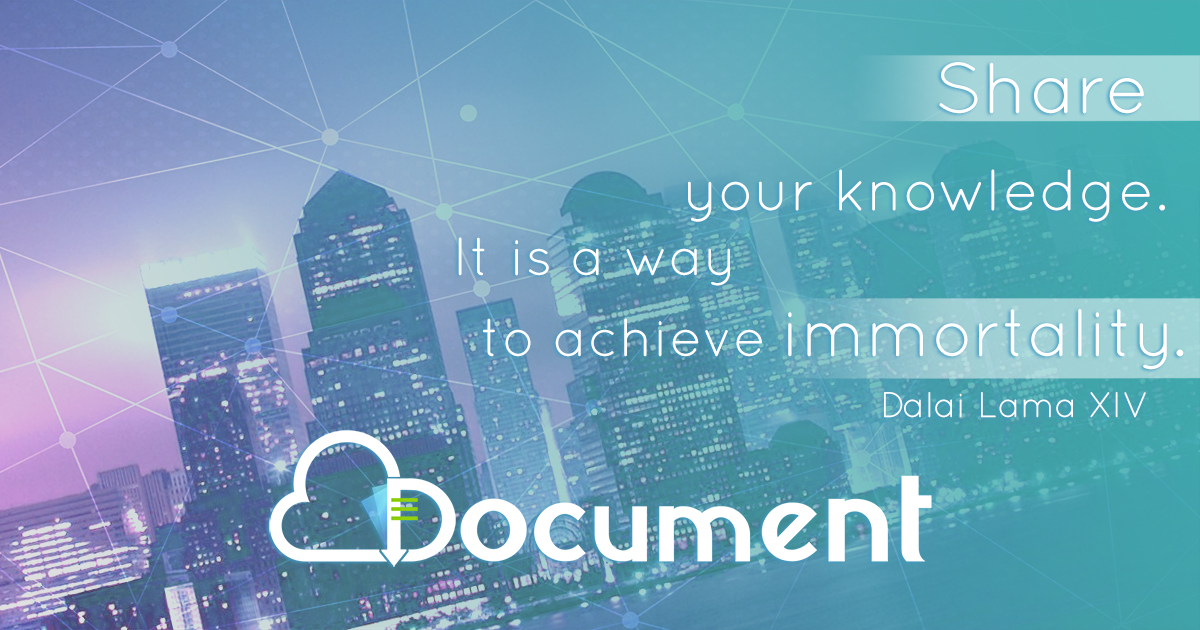Experiementação Política da Amizade
-
Upload
vitor-benevenuto -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
description
Transcript of Experiementação Política da Amizade
-
Cadernos Espinosanos XXVIII
38
Wertheim 37, p. 74-76.
10. Relativamente a esse judasmo originariamente aristocrtico, torna-se manifesto ao mesmo tempo, tambm, em Langbehn, at que nvel despencara o novo judasmo que vivia na Alemanha e arrastara consigo a cultura alem.11. Somente em 1944 aparece com Fritzsche em Berlim uma nova Edio, preparada
por Gerhard Krger, na qual todas as referncias positivas a Espinosa so removidas.
12. 1937: Prmio Goethe da cidade de Frankfurt am Main; 1938: Escudo da guia
do Imprio Alemo; 1941: Plaqueta-Kant da cidade de Knigsberg; 1944: Prmio-
Grillparzer.13. Ofcio da Cmara Oficial do Reich para esclarecimento popular e propaganda,
dirigido Livraria Universitria Carl Winters, de 27.1.44.
A passagem incriminada comea da seguinte maneira: Jamais ao longo da Idade Mdia o judasmo desenvolvera um ramo to imponente do povo decado e espalhado pelo mundo, um florescimento to elevado da cultura e da prosperidade, da cincia e
do trabalho artstico, quanto na Espanha. (Fischer 8, p.2.)
14. A sua contribuio para o debate est publicada no 1 dos, ao todo, 9 cadernos
da Srie abrangente sobre Das Judentum in der Rechtswissenschaft (O judasmo na cincia do direito), que traz o ttulo: Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jdischen Geist. (A cincia do direito alemo em luta contra o esprito judeu). O caderno tambm contempla a abertura e a conferncia de encerramento de Carl Schmitt.15. Isso no foi algo que judeus alegaram, mas o prprio Goethe o falou acerca do efeito da sua leitura da tica de Spinoza!16. Isso soa fortemente a uma retomada, p. ex., da crtica que Eduard von Hartmann formulou contra Espinosa (veja acima, na seo 2.1).
17. Sobre a diferena fundamental entre Espinosa e Nietzsche, veja l na p. 95, anotao 2, sobre o carter judaico da doutrina da multido de Cantor e a fsica de
Einstein, p.103, anotao 1, e p.107.18. Primeiro em Mnchen 1920; depois seguem mais quatro edies, dentre as quais,
trs na Editora Central da NSDAP e, por fim, na 34.-53. Tsd. Mnchen 1943.
19. Somente a Spinozas Ethic. Eine kritische Einfhrung (A tica de Espinosa. Uma introduo crtica) de Hans M. Wolff aparece j em 1958, em Francke in Bern. Wolff, jurista promovido com fortes inclinaes para literatura e filosofia; aps o seu segundo
doutorado em Germanstica, leciona na Brown University, em Providence, na Ilha de Rhode, e no retorna mais para a Alemanha. Ele morre em 1958. Ver Karl S. Guthke, Hans M. Wolff em vez do Monatshefte necrolgico 51,4 (1959): 193-196.
39
EXPERIMENTAO POLTICA DA AMIZADE A PARTIR DA TEORIA DOS AFETOS DE ESPINOSA
Lvia Godinho Nery Gomes*
Nelson da Silva Jnior**
Resumo: A amizade concebida neste estudo como tendo um sentido poltico, pois uma condio necessria do exerccio poltico aquela de considerar a opinio do outro. Em seu sentido poltico, a amizade favorece o questionamento de pontos de vista fixos e a irrupo de aes inovadoras. A experimentao poltica da amizade constitui
uma relao agonstica, de abertura ao outro na qual os corpos esto dispostos a afetar e serem afetados, implicados em contribuir com o aumento da capacidade de reflexo
e ao do amigo. Este artigo tem como objetivo discutir a experimentao poltica da amizade a partir da teoria dos afetos de Baruch Espinosa: o corpo essencialmente relacional e na relao com seus outros, na maneira como afeta e afetado por eles que se d a condio de possibilidade da resistncia tristeza e afirmao da alegria
compreendida como aumento da potncia de pensar e agir.
Palavras-chave: amizade, experimentao, poltica, afetos, Espinosa.
A amizade compreendida em sua qualidade poltica, ou seja, enquanto vnculo agonstico que permite transformaes no registro da subjetividade, diz respeito potncia dos encontros e s foras mobilizadas
por estes. Neste sentido, a questo da experimentao poltica da amizade
* Professora Adjunta do departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe. O presente artigo refere-se a uma parte da tese de doutorado, intitulada Implicaes polticas das relaes de amizades mediadas pela internet. A pesquisa foi realizada com apoio financeiro da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo (FAPESP). ** Professor Livre Docente do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de So Paulo.
-
Cadernos Espinosanos XXVIII
40
Lvia Godinho Nery Gomes & Nelson da Silva Jnior
41
pode ser remetida noo espinosana de fora dos afetos, em sua tica. Pensar amizade luz da filosofia espinosana dos afetos, mais do que um
caminho apropriado, parece-me uma oportuna escolha elucidativa. A experimentao poltica da amizade condensa em si um dos principais postulados da filosofia de Espinosa: o corpo humano pode ser afetado
de muitas maneiras, pelas quais sua potncia de agir aumentada ou
diminuda, enquanto outras no tornam sua potncia de agir nem maior
nem menor (E.III. postulado 1. p. 163). Pois a compreenso da amizade em sua qualidade poltica designa um vnculo privilegiado de abertura alteridade, que permite ao corpo experimentaes de afetar outros corpos e por eles ser afetado, cujos efeitos podem suscitar transformaes no registro da subjetividade, ou ainda da potncia de agir. O presente artigo,
que corresponde a uma parte de uma tese de doutorado em Psicologia Social sobre as Implicaes polticas das relaes de amizades mediadas pela internet, tem como objetivo discutir a experimentao poltica da amizade luz da teoria dos afetos em Espinosa. Preciso estar atento e forte
A tica espinosana a exaltao da tica da alegria que nos conduz ideia adequada de ns mesmos e de Deus. Ela concerne a uma maneira de ser que nos convoca a buscar unio com as coisas e seres que fortalecem nosso corpo e alma, ao invs de permanecermos ao acaso dos encontros. A tica envolve uma experimentao implicada com a elucidao de questionamentos de ordem prtica: se a conscincia tambm o territrio
das iluses e natural ter ideias confusas, incertas, como se tornar consciente de si mesmo e de Deus? Como passar das paixes tristes s paixes alegres a partir das quais passamos aos afetos ativos? Como se tornar causa adequada, ou seja, como chegar a ser causa total dos efeitos de nossos afetos?
Segundo Espinosa, a possibilidade da tica encontra-se na conservao do conatus como fundamento nico da virtude. A virtude a prpria potncia humana, que definida exclusivamente pela essncia do
homem, isto , que definida pelo esforo pelo qual o homem se esfora
por perseverar em seu ser (E. IV, demonstrao da preposio 20, p. 289).
Logo, a chave da tica est no esforo para fortalecer o conatus, o que supe uma abertura para afetar de mltiplas maneiras outros corpos e por eles ser afetado, compondo relaes que visem a contribuir ao aperfeioamento da potncia de agir dos outros corpos e tambm por eles ser revitalizado.
Em outras palavras, a virtude supe uma disposio afetiva, um gosto para relacionar-se com a capacidade para pensar e interpretar seus prprios apetites e desejos nesses relacionamentos, passando das ideias inadequadas s adequadas. no mbito de nossas relaes afetivas que h a possibilidade
de nos descobrirmos como causas adequadas de nossos apetites e ideias. Ou seja, atravs de nossos prprios afetos que podemos nos tornar causa adequada de nossos apetites e desejos, fortalecendo nosso conatus.
Desse modo, no estamos confinados aos maus encontros e s
tristezas. A vida tica implica a passagem das paixes tristes s alegres, portanto da fraqueza fora, que nos afasta da passividade e nos abre para a ao. A tica , assim, uma possibilidade que nasce dos prprios afetos e implica o esforo para estarmos atentos ao nosso corpo e em sintonia com os nossos desejos. um convite a entrarmos em contato com as singularidades de nosso corpo, conhecendo-o em suas necessidades e limitaes, assumindo o risco das descobertas de suas novas potncias e
fragilidades nas suas afeces. A vida tica comea se estivermos plenos de coragem e livres para lanarmo-nos na aventura de descobrir o que pode o nosso corpo em relao, para que ento possamos orientar nossas aes com base em nossos afetos alegres. Portanto, a tica espinosana implica uma prtica, uma experimentao de maneiras de nos deixarmos contagiar
-
Cadernos Espinosanos XXVIII
42
Lvia Godinho Nery Gomes & Nelson da Silva Jnior
43
pela alteridade, para conhecer o que fortalece nosso conatus, de modo que estejamos aptos a constituir encontros alegres. Segundo Bove, na prtica de composio de relaes, a lgica amorosa d certamente ao sujeito tico a matriz teleolgica de sua ao (segundo o princpio da busca do til prprio); no entanto, na razo que o sujeito encontra a sua determinao tica fundamental: quando se livra das iluses prprias ao sujeito amoroso, pelo conhecimento adequado das causas de sua ao, ou seja, de seus prprios afetos, abre-se caminho para a virtude decorrente do fato de que se vive sob a conduo da razo. O conhecimento adequado de nossos afetos j um acontecimento tico, uma potncia em ato de humanidade
e de amor prpria do afeto ativo. A ao virtuosa , ento, afirmao da
unidade tica do sujeito, afirmao de sua potncia e autonomia.
O caminho tico pressupe o cuidado com o corpo, possibilitando que ele seja afetado ao mximo por afetos de alegria. Espinosa nos diz que quanto mais somos afetados por alegria, mais passamos perfeio e participamos da natureza divina; portanto, o homem virtuoso e sbio procura recompor o corpo com refeies saudveis e usufrui do atrativo das plantas verdejantes, das artes, do esporte, da msica, do teatro como alimentos que revigoram o corpo e a alma. O cuidado de si, como nos lembra Foucault (2004), tico em si mesmo e constitui uma prtica da
liberdade que implica tambm uma maneira de cuidar dos outros. A tica encontra-se na possibilidade de fortalecimento do conatus, tornando-nos causa adequada de nossos desejos para que possamos passar da passividade a uma afetividade ativa que busca transmitir aos outros afetos de alegria. O comprometimento tico envolve o esforo em contribuir com o engrandecimento da potncia de agir dos outros, contagiando-os
com afetos de alegria, como o amor, gentileza, amizade, generosidade etc. Bove fala da benevolncia como afeto que se constitui na raiz da busca do
princpio do prazer (ou do til prprio) e da resistncia tristeza que este
envolve. A beatitude (glria), que a virtude em si mesma, se constitui na afirmao da potncia de composio e de organizao dos corpos no
processo de resistncia que cada ser ope ao que pode tirar sua existncia. A
benevolncia pela qual nos esforamos para libertar o outro de sua misria
nasce da experincia compartilhada de afirmao da vida, numa verdadeira
dinmica de resistncia tristeza, na qual a ajuda ao semelhante recompe
no s a vida no outro, mas em ns mesmos. nesse sentido que Bove afirma que a averso da vida tristeza exprime j a verdade de toda tica.
O sujeito ento ao mesmo tempo potncia de afirmao e de
resistncia. Tornar-se sujeito1, nos lembra Bove, no o destino natural da natureza humana, trata-se de um processo, uma empreitada, o projeto humano por excelncia, sua possibilidade tica. Na tica da resistncia
e do amor a existncia singular ela mesma em sua afirmao absoluta
que tornada sujeito; nesse sentido, Bove afirma que o sujeito tico
ento uma inteno sem fim, uma perfeio sem modelo, isto , a tenso
mesma da existncia singular em sua afirmao absoluta e produtiva
(Bove 3, p. 143). O projeto tico implica encontrar a relao de confiana
e de amor que ao mesmo tempo envolve e desenvolve toda vida em sua essencial afirmao.
A passagem aos afetos ativos em nossos relacionamentos requer a disposio para atingirmos as pessoas com afetos de alegria, comprometidos com a expanso do amor em nossas relaes cotidianas, atuando como fora que pode transformar inclusive o dio. Segundo Espinosa, quanto mais somos livres e vivemos sob a conduo da razo, tanto mais implicados estaremos em retribuir os afetos de dio, como a ira e o desprezo de algum, com amor e generosidade, de tal maneira que convertamos o dio em amor.
A grandiosa inovao de Espinosa em sua tica foi demonstrar a fora dos afetos. O dio aumentado pelo dio recproco, e contrariamente,
-
Cadernos Espinosanos XXVIII
44
Lvia Godinho Nery Gomes & Nelson da Silva Jnior
45
pode ser eliminado pelo amor (E.IV, demonstrao da proposio 46. p.321). Logo, o comprometimento tico supe o esforo para cultivar
o amor em nossas relaes afetivas, buscando sempre contribuir com o crescimento da potncia de existir dos outros. O empenho dos sentimentos
ativos em no ser afligido por afetos de dio implica tambm o esforo
para que outras pessoas no padeam desses afetos. A conduta tica supe o exerccio ativo e criativo de nossos
investimentos afetivos. A gravidade de tal tarefa torna-se ainda mais relevante no atual contexto de subordinao da subjetividade e dos afetos ao registro econmico. Na contempornea conjuntura de apropriao da
afetividade pelos imperativos do mercado preciso estar atento e no se deixar levar pelas estratgias sedutoras do mercado que visam a todo instante capturar o consumidor atravs da manipulao de seus afetos com falsas promessas de felicidade que no condizem propriamente com o fortalecimento de seu conatus. Amizade e alegria da Hilaritas: caminho de produo
das ideias adequadas
A alegria da Hilaritas2 positivamente constitutiva, j que ela relaciona-se com o aumento da potncia de agir e, sobretudo com o
movimento mesmo de afirmao do ser. Bove destaca a Hilaritas como a expresso adequada do pressuposto por excelncia da existncia tica.
As relaes de amizade, na medida em que constituem uma abertura a ser afetado e a afetar, possibilitam este afeto particular de alegria, pois de acordo com Bove a ocasio da constituio dessa alegria, originria da razo, se d a partir das circunstncias felizes quando o corpo apresenta
vrias aptides de afetar e ser afetado. nesse sentido que Espinosa afirma que a fora do desejo que surge da alegria deve ser definida pela
potncia humana e, ao mesmo tempo, pela potncia da causa exterior
(E. IV. demonstrao da proposio 18, p. 287). Portanto, os laos de
amizade favorecem uma dinmica da alegria onde foras se adicionam
abrindo caminho para a produo de ideias adequadas condio de nossa
liberdade e da passagem dos afetos passivos aos afetos ativos. Bove, ao falar da dinmica da ascenso da razo pela alegria, afirma que a alegria
da Hilaritas, sempre boa e sem excesso, o afeto passivo que permite a expresso da razo. Segundo o autor, a Hilaritas indica um processo no qual nenhum afeto contrrio nossa natureza e por isso mesmo no impede o pensamento; portanto ela no essencialmente passiva, pois uma via ativa do conhecimento primeiramente das noes comuns, e das ideias adequadas. Bove refere-se alegria da Hilaritas praticamente como uma potncia favorvel ao conhecimento de noes comuns na medida
em que por este afeto o corpo tem j uma riqueza de aptides de afetar e ser afetado, sendo suas partes igualmente afetadas por causas exteriores o que significa que ele afetado por qualquer coisa que comum em
todas suas partes e/ou qualquer coisa que tambm comum com o outro corpo considerado. Portanto, a passividade extrnseca da Hilaritas imediatamente correlativa de uma real atividade que a da razo. De acordo com Bove as afeces que permitem aos homens entrar em acordo devem ser consideradas em sua atividade, pois exprimem propriedades comuns relativas essncia mesma dos corpos considerados. Sobre essa dinmica
do advento da razo, como processo mesmo de conhecimento das noes comuns e ideias adequadas pela alegria Espinosa afirma: Ser adequada
na mente a ideia daquilo que o corpo humano e certos corpos exteriores pelos quais o corpo humano costuma ser afetado tm de comum e prprio,
e que existe em cada parte assim como no todo de cada um desses corpos exteriores (E. II. proposio 39, p.129). Conforme afirma Chaui somos
ativos ou agimos quando somos causas eficientes totais dos efeitos que se
-
Cadernos Espinosanos XXVIII
46
Lvia Godinho Nery Gomes & Nelson da Silva Jnior
47
produzem em ns e fora de ns (Chaui 8, p. 86), j na passividade somos causa inadequada de nossos apetites e de nossos desejos, isto , somos apenas parcialmente causa do que sentimos, fazemos e desejamos, pois a causa mais forte e poderosa a imagem das coisas, dos outros e de ns mesmos, portanto, a exterioridade causal mais forte e mais poderosa do que a interioridade causal corporal e psquica (Chaui 8, p. 88). Ou seja, na paixo, a fora externa mais poderosa do que a do conatus, enquanto na ao h uma conjugao de foras de seres que possuem propriedades, qualidade e caractersticas comuns.
A condio mesma da formao da noo comum est no encontro de nosso corpo com outros corpos e das foras que a esto em jogo, geradoras de flutuaes de nossa potncia de agir que so acompanhadas de um afeto
de alegria ou tristeza que nosso corpo se esfora para manter ou reduzir. Ou seja, no mbito de nossas relaes cotidianas, compreendidas como relaes
de foras, numa resistncia-ativa tristeza que o conatus tende a se estender como razo, segundo foras exercidas nele (e por ele) e que lhe permitem pensar verdadeiramente. nesse sentido que na vida prtica a amizade uma relao afetiva que possui um papel essencial nas modificaes do
esprito bem como na base da produo das ideias verdadeiras, constituindo-se, conforme diz Bove, como remdio contra os afetos passivos.
Amizade e fortalecimento do conatus: resistncia tristeza pela
benevolncia e indignao ou amizade: recusa do servir
Na relao de amizade, os amigos revigoram o nimo pela
simples companhia e prazer de estarem juntos. A amizade em si mesma a expresso da condio da liberdade e fortalecimento do conatus. Pois, segundo Espinosa, o homem livre e forte no tem raiva nem inveja de ningum, no arrogante e busca combater o dio. A amizade concerne
condio vital do homem de poder afetar e ser afetado, de maneira to ntegra, que Espinosa considera lealdade o desejo do homem de unir-se aos outros pela amizade, e desleal aquilo que contraria o vnculo de amizade (E. IV. esclio 1 da preposio 37). Se a amizade constitui-se como uma possibilidade da passagem dos afetos passivos aos ativos, ela favorece o processo tico bem como o conhecimento das noes comuns e ideias adequadas constitutivo dessa empreitada. A condio do viver com (conviver), onde os amigos compartilham ideias e valores, propicia a formao das noes comuns, como conhecimento do modo de relao entre seres singulares. Em outras palavras, as trocas de opinies, de ideias, valores etc. no dilogo entre amigos possibilitam o conhecimento das noes comuns, isto , das propriedades comuns que lhes permitem se reconhecerem como homens (modos finitos, no vocabulrio espinosano).
Espinosa refere-se amizade como um afeto de alegria, til aos homens livres, pois os conduz a fazer bem uns aos outros e os capacitam para ao comum. til aos homens, acima de tudo, formarem associaes e se ligarem por vnculos mais capazes de fazer de todos um s e, mais geralmente, -lhes til fazer tudo aquilo que contribui para consolidar as amizades (E. IV, Apndice, captulo 12. p.353). Portanto, a amizade til,
pois aumenta a capacidade de agir dos homens. Portanto, a amizade em si mesma uma condio de abertura
aos encontros alegres. Segundo Hardt (1996), a poltica de Espinosa uma poltica ontolgica, pois os princpios que mobilizam a organizao poltica so os mesmos que animam a tica e a prtica afirmativa do ser.
Este autor afirma que o encontro alegre se d quando dois corpos compem
um corpo novo e mais poderoso, ou seja, quando a afeco com outro corpo torna-se ativa a partir da construo da noo comum, isto , quando formamos a ideia da relao comum partilhada por esse corpo e o nosso. O aspecto ontolgico da poltica espinosana elucidado por Chaui (2003)
-
Cadernos Espinosanos XXVIII
48
Lvia Godinho Nery Gomes & Nelson da Silva Jnior
49
que chama ateno para o fato de que a teoria mesma das paixes e dos desejos alegres, ou seja, dos afetos que fortalecem o conatus que oferecem os fundamentos da utilidade da cooperao e da unio de foras entre os homens para a composio do corpo poltico a multitudo, de tal maneira que a percepo dos demais homens como semelhantes e da utilidade de cada um deles e de todos para o fortalecimento do conatus individual explica que constituam a multitudo e instituam o corpo poltico(Chaui 6, p. 165). nesse sentido que se funda a relevncia poltica da amizade para
o fortalecimento da multitudo, pois a amizade possibilita uma dinmica da alegria favorvel ao florescimento da solidariedade e da mobilizao
para que os homens ajam juntos numa condio de igualdade poltica onde no h dominao o que designa a amizade em sua qualidade
democrtica. Chaui (2003) ressalta que a democracia para Espinosa o
mais natural dos regimes polticos precisamente porque nela se realiza o desejo natural de todos e de cada um, qual seja, governar e no ser governado(Chaui 6, p. 171). Com efeito, a amizade essencialmente democrtica no s porque constitui uma condio de igualdade poltica, mas tambm porque designa uma relao agonstica de abertura ao outro que favorece a livre circulao e expresso das mais diferentes opinies. Bove destaca a liberdade de expresso das opinies diversas, das paixes e dos interesses divergentes como constitutiva dos Estados democrticos, afirmando que para Espinosa os conflitos no representam somente o sinal
da liberdade no Estado, mas tambm aquele da perpetuao, da promoo e da defesa desta liberdade mesma.
A afetividade ativa da tica espinosana concerne experimentao poltica da amizade destacada por Arendt (2001), Derrida (1997), Ortega
(2000), pois esta experincia constitui um vnculo agonstico entre
alteridades que se afetam mutuamente aumentando suas potncias de agir,
podendo juntos produzir aes polticas inovadoras. Em pesquisa anterior
sobre a experimentao poltica da amizade (Gomes e Silva Junior 13) pudemos verificar que de fato as relaes de amizade possibilitam trocas
de experincias e aprendizagens que produzem transformaes subjetivas
que aumentam a potncia de agir e fortalecem o conatus. Com efeito, os sujeitos mostraram-se comprometidos em contribuir para o crescimento dos amigos, determinados em aumentar sua fora para existir, como no caso em que o gosto por esporte potencializado por um amigo que ensina o outro a nadar, ou quando amigos se organizam coletivamente para vencer o desemprego formando uma cooperativa (Gomes e Silva Junior 13). Os obstculos e privaes produzidos pela dominao econmica so, muitas vezes, contornados pelas relaes de amizade, em que o amigo, numa atitude tica e poltica, reconhece o outro como cidado. As narrativas desvelaram laos de amizade como relaes de fortalecimento do conatus, como encontros alegres nos quais os amigos modificam-se, potencializam
habilidades, aguam desejos ainda no realizados, instigam a esperana de sonhos ainda no alcanados. Atravs de seus laos de amizade, os sujeitos das classes populares demonstram formas de organizao e de luta, mobilizadas pela fora da solidariedade, resistindo a condies opressivas e compondo a amizade como uma recusa do servir como
discute Chaui (1999). A resistncia, conforme afirma Bove, implica razo e virtude.
Segundo ele, a virtude do corpo coletivo a sua potncia de composio
e de organizao que Espinosa identifica como afirmao absoluta da
potncia da multido. A estratgia de resistncia-ativa do conatus do corpo coletivo (multido) nasce do gesto de querer bem a outro prprio da
amizade, na busca em combater o mal que lhe acomete e de livr-lo de sua misria. Esse desejo de fazer o bem e de destruir a causa da tristeza do outro caro entre amigos, constitui a virtude da potncia da multido de onde
brota o seu movimento de organizao e resistncia. nesse sentido que
-
Cadernos Espinosanos XXVIII
50
Lvia Godinho Nery Gomes & Nelson da Silva Jnior
51
Bove fala do pensamento poltico de Espinosa como um combate no qual a benevolncia e a indignao so os afetos por excelncia da resistncia
da multido. No admitir o sofrimento de um amigo, no suportar a sua tristeza j o movimento de resistncia que opera a benevolncia. Embora
a indignao seja um afeto passivo, j que um afeto de dio, definida por
Espinosa (2008) como dio por algum que fez mal a um outro (E.III,
definio dos afetos, 20, p.245). Bove aponta um aspecto positivo na raiz
deste dio: a relao de identificao entre os semelhantes, at mesmo
de amor, que nos conduz a agir para livrar de sua misria aqueles que foram acometidos por um mal 3. Nesta dinmica de resistncia tristeza, a benevolncia na indignao se volta contra os afetos que decompem
a vida e, em meio condio de servido, constitui-se como origem de liberdade e de virtude pela qual se afirma a potncia auto-organizadora da
multido. Portanto, a resistncia da multido se explica pela potncia da
afirmao da vida e no pela impotncia que os sentimentos de piedade e de
dio exprimem (Bove 3, p. 294, traduo minha). Indignar-se como ao
oriunda da solidariedade e generosidade gestos que a amizade emana,
j resistncia como fruto do amor e da esperana bem como do esforo
pela constituio da humanidade do homem.
Como reconstituio do tecido social na e pela solidariedade que ela envolve e a dinmica libertadora que suscita, a
indignao , ento, um remdio que o corpo coletivo produz e aplica a si mesmo. Ela o processo mesmo de uma autodefesa e de uma autocura. ento da Alegria que acompanha a clera da indignao uma alegria (que
satisfao de si) pela qual o corpo coletivo experimenta e contempla atravs daqueles que solidariamente resistem, o aumento de sua prpria potencia de agir, o renascimento de sua sade. Uma alegria inseparvel do amor natural de si, este afeto fundamental de onde nasce toda resistncia,
e com ela a esperana em ato, na indignao geral, do
acontecimento da multido como sujeito autnomo. Na resistncia dominao se elabora assim a dinmica da
subjetividade coletiva (poltica) como processo. Dinmica
da alegria que vai se amplificando na e pela instituio
poltica da Liberdade que a plenitude deste amor natural de si do corpo coletivo que envolvia j, na indignao, o ato de resistncia (Bove 3, p. 294-295, traduo minha).
essencialmente em atos, no registro da prtica das relaes cotidianas e pelos valores que as perpassam que a resistncia se expressa
como afirmao da vida, da solidariedade, da liberdade. A benevolncia
e a indignao, destacadas por Bove como afetos da resistncia, de fato
s emergem do comprometimento com o outro, da gravidade do existir para o outro que me interpela e exige de mim uma resposta que j a
responsabilidade por ele, tal como compreende Lvinas (2005). Segundo
Lvinas, o encontro com outrem j minha responsabilidade por ele. O eu questiona-se e se transforma neste encontro em que afetado e investido pela alteridade irredutvel do outro, responsvel por este numa condio de no indiferena diante de sua morte e sofrimento. A benevolncia e a
indignao brotam de relaes intersubjetivas imbudas do gosto pelo outro concernente amizade, nas quais a livre circulao da palavra permite
a afirmao de multiplicidades, contra o assujeitamento, no processo
mesmo de ao coletiva. Bove (1996) afirma que a estratgia de liberao
poltica em Espinosa se apia na resistncia das relaes implicadas com
a produo de subjetividades que afirmam em ato, contra a inumanidade e
a indignidade do assujeitamento (produtor de rebanhos de escravos), uma singularidade humana que envolve a esperana poltica da liberdade:
Pois essas singularidades que resistem instauram j no presente, em diametral oposio ao reino da servido, que
-
Cadernos Espinosanos XXVIII
52
Lvia Godinho Nery Gomes & Nelson da Silva Jnior
53
tambm aquele da solido, do dio, da mentira e da perfdia (corrupo de todas as relaes sociais), a benevolncia e o
amor, a franqueza, a liberdade da comunicao e da palavra, com o desejo de conhecer, de agir e viver juntamente (Bove 3, p. 299-300, traduo minha).
Experimentao poltica da amizade e multido (multitudo):
aumento da potncia de agir
A potncia da qualidade poltica da amizade est na possibilidade
de experimentao de abertura alteridade numa condio de no impedimento da palavra, onde os sujeitos atravs das trocas de opinies e ideias podem questionar pontos de vista fixos e alcanar um nvel de
reflexo crtica que em si mesma mobilizadora de movimentos de
resistncia e de transformao de subjetividades. Pensar a amizade como
espao de experimentao capaz de irromper formas fixas de subjetividade
e sociabilidade, constituindo uma forma de resistncia poltica, representa
um convite a uma forma de contato desafiadora e inquietante, na qual
possvel vivenciar o sentimento de certo mal estar, de perda de referencial, trazidos pela experincia de revelao e alargamento de opinies no
encontro com outros. A amizade compreendida em sua qualidade poltica constitui uma disposio em afetar e ser afetado num contexto de conversas horizontais onde os sujeitos se desestabilizam e podem ver o mundo a partir de outra perspectiva.
O elemento poltico, na amizade, reside no fato de que, no verdadeiro dilogo, cada um dos amigos pode compreender a verdade inerente opinio do outro. Mais do que o seu amigo como pessoa, um amigo compreende como e em que articulao especfica o mundo comum aparece para o outro
que, como pessoa, ser sempre desigual ou diferente. Esse
tipo de compreenso em que se v o mundo (como se diz
hoje um tanto trivialmente) do ponto de vista do outro o
tipo de insight poltico por excelncia (Arendt 1, p. 99).
A amizade na concepo arendtiana do termo respeito e interesse pela opinio dos outros, no depende de intimidade, consiste no gosto pela opinio do outro, configurando uma relao desconcertante, agonstica, na
qual possvel viver o deslocamento/questionamento do familiar, deslocando-se para o lugar dos outros. A amizade compreendida em sua qualidade poltica antes uma relao de abertura expresso de opinies as mais diversas o
que favorece um campo propcio para a formao de ideias adequadas e da reflexo crtica. nesse sentido que devemos conferir dignidade amizade
como filosofia em ato. Ora, cabe filosofia defender e mesmo produzir este
campo aberto diversidade de ideias, sem o qual ela no seria possvel. Conforme atenta Bove, a estratgia da multido implica a conquista do espao pblico da livre expresso das opinies; na medida em que um pensamento limitado por um outro pensamento 4 o problema poltico um problema de espao a ser produzido e defendido. Em outras palavras, Bove afirma que a estratgia por excelncia do conatus poltico, ou da multitudinis potentia, concebida como movimento ao mesmo tempo livre e necessrio de auto-constituio da sociedade como corpo, se origina no exerccio plural da liberdade da palavra de seus sujeitos. Portanto, a experimentao poltica da amizade como relao de abertura livre expresso de opinies configura
um terreno frtil onde podem germinar aes de organizao da multido, viabilizando sua potncia. A fora da qualidade poltica da amizade,
destacada por Arendt (1993) e Derrida (1997), encontra-se na possibilidade de resistncia reduo da expresso de opinies prpria do estreitamento
e cegueira da superstio (condio de ausncia de reflexo crtica favorvel
servido) a partir de uma relao agonstica de afrontamento de diferentes e mltiplas opinies, interesses, potncias singulares de anlise, de crtica, de
-
Cadernos Espinosanos XXVIII
54
Lvia Godinho Nery Gomes & Nelson da Silva Jnior
55
indignao que pode irromper aes polticas inovadoras. A amizade como vnculo privilegiado de considerao da opinio do outro promove encontros de trocas de experincias, valores e idias que produzem transformaes no
registro da subjetividade dos sujeitos capacitando-os para a ao comum. A condio de abertura alteridade implicada na experimentao poltica da amizade em si mesma uma disposio a afetar e ser afetado que propicia uma relao democrtica de trocas de conhecimentos de onde os sujeitos saem transformados, potencializados em seu conatus. A amizade compreendida como relao de igualdade poltica que no pretende anular as diferenas configura um encontro alegre implicado com o alargamento dos horizontes
e aprimoramento do pensamento que aumentam a potncia de agir dos
sujeitos. A amizade , portanto, um vnculo privilegiado do agir e do falar
experincias eminentemente polticas e inter-humanas, onde se d o processo
mesmo de afirmao da potncia da multido. Ou seja, a experimentao
poltica da amizade constitui a prtica da democracia como movimento de realizao da liberdade, na medida em que promove os atos poltico do agir e falar que implicam a parceria, a companhia dos outros, a conquista da adeso dos outros mediante persuaso e no pela violncia ou coero, para que a
ao desempenhe um ciclo completo de experincia inaugural, inovadora.
Bove destaca a escuta da opinio do outro e o pensamento crtico prprios
da qualidade poltica da amizade, como modo de ser da liberdade. Bove fala da democracia como afirmao absolutamente absoluta
da potncia da multido, e que por isso mesmo ela supe uma potncia
de abertura e de movimento. Ora, se abertura e movimento so condies intrnsecas experimentao poltica da amizade, pode-se dizer que os laos de amizade configuram relaes democrticas que favorecem a afirmao
da potncia da multido a partir de um contexto dialogante aberto a trocas
e prticas desencadeadoras de confrontaes, deliberaes e decises.
A democracia instaura o povo como sujeito, isto , como instncia de reflexo, de confrontaes de opinies, de
dilogo, e finalmente, em conhecimento de causa, de
deciso. A autonomia do corpo coletivo o acontecimento institucional e histrico da fora constituinte da multido como potncia de reflexo e de deciso (Bove 3, p.258,
traduo minha).
A experimentao poltica da amizade designa um convite a
nos implicarmos com a composio de espaos democrticos de trocas de saberes e experincias onde possamos afetar e ser afetados em nossas
relaes cotidianas, visando a contribuir no processo coletivo de construo da cidadania. As relaes de amizade podem constituir um importante exerccio poltico de produo de espaos singulares de dilogo e ao coletiva implicados com prticas solidrias e com afetos de alegria que possam viabilizar o processo de realizao de um projeto poltico de autonomia. De fato, a amizade como vnculo privilegiado de abertura alteridade num contexto de igualdade poltica possibilita a experimentao e aprendizagem da considerao e escuta do outro, bem como do agir acompanhado e da relativizao do pensamento. na trama das relaes cotidianas que a amizade pode compor vnculos de experimentao de modos outros de viver comprometidos com prticas criativas de solidariedade e resistncia viabilizadoras da benevolncia e da indignao
que podem irromper aes polticas inovadoras. As relaes de amizade como espao agonstico de experimentao poltica, no qual os sujeitos podem questionar-se e variar pontos de vista fixos, compem laos cuja
potncia subversiva aponta para a emergncia de novos sujeitos sociais e
novas formas de relacionamento.A experimentao poltica da amizade tem como marca a
imprevisibilidade e esse carter processual da criao de modos singulares
-
Cadernos Espinosanos XXVIII
56
Lvia Godinho Nery Gomes & Nelson da Silva Jnior
57
de relacionamentos e inveno de novas maneiras de afirmao e
organizao do corpo coletivo. O processo tico-poltico de Espinosa se inscreve nesse movimento de democracia no ato mesmo de resistncia
tristeza e de produo de modos outros de estar no mundo favorveis afirmao da potncia da multido. no registro da micro-poltica que as
relaes de amizade podem compor laos de confiana que mobilizam a
ao comum e a produo de modos outros de estar no mundo que se d no ato mesmo de resistncia compreendida no sentido espinosano como
direito inalienvel auto-organizao do corpo coletivo. Segundo Bove, a democracia encontra seu princpio ontolgico na confiana, ou seja, a
democracia expresso da confiana do corpo coletivo em si mesmo, em
sua prpria potncia. Essa confiana na potncia de auto-organizao da
multido condio de possibilidade da composio de alianas singulares que garantem a existncia do corpo coletivo e fortalecem sua capacidade
de agir. Se dois indivduos se unem conjuntamente e associam suas foras, eles aumentam assim sua potncia e por consequncia seu direito; e quanto
mais houver indivduos que formaram alianas, mais todos juntos tero direito (Espinosa 10, p. 126, traduo minha).
Essa ontologia da confiana como condio da democracia nos
conduz reflexo da importncia da amizade como relao privilegiada
de experimentao poltica de processos democrticos no ato mesmo de formao de alianas implicadas com afetos de alegria na criao de prticas singulares de solidariedade e de afirmao da cidadania.
POLITICAL EXPERIMENTATION OF FRIENDSHIP FROM
SPINOZAS THEORY OF AFFECTS
Abstract: Friendship is conceived in this study as having a political sense, since the consideration of the others opinions is one of the necessary conditions of political practice. In its political sense, friendship favors the questioning of fixed points of view
and the eruption of innovative actions. The political experimentation of friendship is an agonistic relationship, a relationship of opening to the other in which bodies are willing to affect and to be affected, committed to contribute to the increase of the friends capacity for reflection and action. This paper aims to discuss the political
experimentation of friendship taking as starting point Spinozas theory of affects: the body is essentially relational and is in its relation to the others, in how it affects and is affected by them, that is given the condition of possibility of resistance to sadness and affirmation of joy - understood as increase of the power of thinking and acting.
Keywords: friendship, experimentation, politics, affects, Spinoza.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1. ARENDT, H. A Dignidade da Poltica: ensaios e conferncias. Traduo Helena Martins e outros. 3a ed. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 1993.
2. ARENDT, H. A Condio Humana. Traduo de Roberto Raposo, posfcio de Celso Lafer. 10a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2001.
3. BOVE, L. La Stratgie du Conatus. Affirmation et rsistance chez Spinoza. Paris. Librairie Philosophique J. VRIN, 1996.
4. BOVE, L. Introduction. Em : Spinoza. Trait Politique. Collection Classiques de la Philosophie dirige par Jaen-Franois Balaud. Traduction d. Saisset, revue par Laurent Bove. Introduction et notes par Laurent Bove. Libraire Gnrale Franaise, 2002.
5. CHAUI, M. de S. Amizade, Recusa do servir. Em: Santos, L. G. e outros. Discurso da Servido Voluntria. Etienne de La Botie. So Paulo: Brasiliense, 1999. p. 173- 239.
6. CHAUI, M. de S. Poltica em Espinosa. So Paulo: Companhia das Letras, 2003. 7. CHAUI, M. de S. Espinosa: uma filosofia da liberdade. 2 Ed. So Paulo: Moderna, 2005. 8. CHAUI, M. de S. Desejo, Paixo e Ao na tica de Espinosa. Companhia das
Letras, So Paulo, 2011.
9. DERRIDA, J. Politics of Friendship. Translated by George Collins. New York. Verso, 1997.10. ESPINOSA, B. Spinoza. Trait Politique. Collection Classiques de la Philosophie dirige
par Jaen-Franois Balaud. Traduction d. Saisset, revue par Laurent Bove. Introduction et notes par Laurent Bove. Libraire Gnrale Franaise, 2002.
11. ESPINOSA, B. Spinoza. tica. 2 edio. Traduo de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autntica Editora, 2008.
12. FOUCAULT, M. tica, Sexualidade, Poltica. Organizao e seleo de textos
-
Cadernos Espinosanos XXVIII
58 59
Manoel Barros da Motta; traduo Elisa Monteiro, Ins Autran Dourado
Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2004.
13. GOMES, L.G.N. & SILVA JUNIOR, N. da. Experimentao poltica da amizade: alteridade e solidariedade nas classes populares. Psicologia: Teoria e Pesquisa. v. 23 (2), p.149-158, 2007.
14. HARDT, M. Gilles Deleuze um aprendizado em filosofia. Traduo de Sueli Cavendish. So Paulo: Ed. 34, 1996.
15. LVINAS, E. Humanismo do outro Homem. Traduo Pergentino S. Pivatto (Coord.) e outros. Petrpolis, RJ: Vozes, 1993.
16. LVINAS, E. Entre Ns. Ensaios sobre a alteridade. 2a ed. Traduo Pergentino S. Pivatto (Coord.) e outros. Petrpolis, RJ: Vozes, 2005.
17. ORTEGA, F. Para uma poltica da amizade: Arendt, Derrida, Foucault. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 2000.
NOTAS
1. De acordo com Bove (1996) o sujeito tico, projeto humano por excelncia, se define pela intencionalidade amorosa que a dinmica da alegria ela mesma que vai
se ampliando at a beatitude. 2. palavra Hilaritas de origem latina foi traduzida, na verso bilngue latim/portugus por Tomaz Tadeu (2008), como contentamento. Na conversa de Bove com Paul Singer
(2010) sobre o espinosismo em face da economia solidria, Bove disse que a traduo
desta palavra para o francs sempre insatisfatria e no seu livro La Stratgie du
Conatus affirmation et rsistence chez Spinoza, ora ele utiliza a palavra Hilaritas sem traduzi-la, ora refere-se a ela como allgresse ou gaiet. 3. Ns nos esforamos, tanto quanto pudermos, por livrar de sua desgraa uma coisa que nos causa comiserao. (E. III, corolrio 3 da preposio 27, p.195).
4. E.I. definio 2, p.13
GENEALOGIA DO PSQUICO. ENSAIO SOBRE A TRANSCENDNCIA DO EGO ESBOO DE UMA DESCRIO FENOMENOLGICA, DE JEAN-PAUL
SARTRE, PRIMEIRA PARTE
Alexandre de Oliveira Carrasco*
Resumo: O texto em questo apresenta o primeiro esboo de uma pesquisa mais ampla acerca da Transcendncia do Ego, de J.-P. Sartre. Seu desenvolvimento, ora
apresentado, pretende articular o sentido mais geral da fenomenologia de Husserl com a aclimatao, algo abruta, feita por Sartre, no referido texto, da fenomenologia husserliana. Para isso, h que se levar em conta, parece-nos, tanto os problemas propriamente sartreanos que orientam seus interesses tericos e a dita aclimatao, quanto os limites propriamente husserlianos para tal.Palavras-chave: Sartre, Husserl, ego, liberdade.
Prembulo
O texto Transcendncia do ego esboo de uma descrio
fenomenolgica pode ser considerado o marco zero da identidade filosfica
de Sartre. Tal afirmao, como de se imaginar, no se deve apenas s
razes cronolgicas o primeiro texto propriamente filosfico e de larga
visada escrito pelo autor. Sabe-se, ademais, que ele forma um dptico com outro ancestral texto sartreano, a Idia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade, e que ambos, muito provavelmente, foram, seno escritos, pelo menos pensados muito prximos no tempo,
* Professor do Departamento de Filosofia da Unifesp.