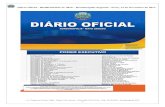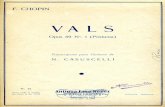Falkenau: a vida póstuma dos arquivos
-
Upload
regina-egger-pazzanese -
Category
Documents
-
view
218 -
download
3
description
Transcript of Falkenau: a vida póstuma dos arquivos
-
2010 | n34 | significao | 105
\\\\\\\\
Falkenau: a vida pstuma dos arquivosAnita LeandroECO UFRJ
/////////////////
-
106 | significao | n34 | 2010
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Resumo
Abstract
Palavras-chave
Key-words
Quarenta e trs anos depois do fim da Segunda guerra mundial, Samuel Fuller v as imagens que registrou durante a liberao do ltimo campo de concentrao. Em seu filme, Falkenau, viso do impossvel (1988), Emil Weiss capta a emoo de Fuller na desco-berta de marcas ainda vivas do passado, sedimentadas nos arquivos e nos lugares histricos.
Forty-three years after the Second World War, Samuel Fuller re-gards the images that he filmed during the liberation of the last con-centration camp. In Falkenau, vision de limpossible (1988), Emil Weiss captures Fullers emotion in front of the living marks of the past they find out at the archives and historic sites.
montagem de arquivos, testemunho, cinema e histria
assembly of archives, testimony, cinema and history
-
Falkenau: vida pstuma dos arquivos | Anita Leandro
2010 | n34 | significao | 107
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ao clamor das imagens do passado por reconhecimento, o cinema responde, predominantemente, com a montagem, etapa privilegia-da da realizao em seu trabalho com os arquivos e com o tempo. O que sobressai de documentrios histricos como O fundo do ar vermelho, de Chris Marker (1977), Oh! Uomo (2004), de Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi ou Histria(s) do cinema (1988-1998), de Jean-Luc Godard, inteiramente apoiados na retomada de imagens de arquivo, a explorao de um potencial memorialista da montagem, ou seja, sua capacidade de atualizar o passado. O congelamento da imagem, a repetio de certos planos, a sobrepo-sio de outros, a interrupo do fluxo narrativo, a substituio da imagem por uma tela preta ou branca, a variao de velocidade do movimento, so alguns dos inmeros procedimentos de montagem utilizados nesses filmes no tratamento visual e sonoro de questes histricas. Com a montagem de arquivo, o cinema renovou a arte da citao, do fragmento e da ruptura narrativa. A superposio de imagens revelou o carter estratigrfico do arquivo, Godard sendo, talvez, o grande ensasta desse tipo de composio. O reenquadra-mento no interior do fotograma e o slow motion, como fazem hoje os Gianikian, trouxeram superfcie das imagens o gesto de nossos
-
108 | significao | n34 | 2010
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
antepassados, o detalhe at ento imperceptvel, fazendo brilhar o cristal de tempo histrico sobre o qual Deleuze tanto insistiu (Deleuze, 1985, p. 93). A montagem cinematogrfica desdobrou os arquivos sonoros e visuais do sculo XX e organizou-os, numa ver-dadeira atividade historiadora, um pouco como Foucault o fez com os arquivos das instituies, se servindo, alis, de uma terminologia corrente no cinema.1
Mas o tratamento dos arquivos no cinema no se limita mon-tagem. Ele coloca tambm uma questo de mise en scne, que amplia a noo de arquivo e exige uma abordagem diferenciada do vestgio da Histria j no momento das filmagens. Ao retornar aos lugares histricos, como acontece, por exemplo, nos filmes de Jean-Marie Straub e Danile Huillet, ou ao trazer as imagens de arquivo para a frente das cmeras, junto com o personagem, como em alguns retratos de cineastas de Andr Labarthe, a mise en scne se antecipa montagem e atribui s marcas do passado imagem, monumento, runa, texto um lugar privilegiado no presente, da mesma forma que a fala de uma testemunha. Define-se, assim, um compartilhamento do espao que pe num mesmo patamar o dis-curso do arquivo e o relato da pessoa filmada. Graas a essa igualda-de de tratamento, uma cumplicidade se estabelece entre imagem e som, entre documento e palavra viva, enfim, entre passado e presen-te. Abordados como contemporneos um do outro, arquivo e teste-munha, ambos sobreviventes da Histria, participam em igualdade de condies de um esforo comum de compreenso do passado. Falkenau, viso do impossvel (EMIL WEISS, 1988) um filme que trabalha nesse sentido, reunindo num mesmo destino histrico a fala de Samuel Fuller, as imagens rodadas por ele durante a libe-rao do campo de concentrao de Falkenau em 1945 e imagens recentes dos lugares onde o cineasta americano combateu. O mto-do de associao de uma palavra viva aos documentos da guerra d uma nova chance ao passado e cria, no momento das filmagens, as condies para que as imagens de arquivo e os monumentos hist-ricos tenham o direito vida pstuma, s sobrevivncias de que fala Aby Warburg (WARBURG, 2003a e 2003b).2
O documentrio de Emil Weiss retoma, na ntegra, os 21 mi-nutos de imagens rodadas por Fuller, quando ele ainda no ima-ginava que seria, alguns anos depois, um dos maiores cineastas de Hollywood. Fuller tinha cerca de 30 anos de idade e trabalhava
1. Entre as novas categorias histricas utilizadas por Foucault para compre-ender os arquivos esto a serializao, a descontinuidade e, principalmente, a decupagem (Foucault, 1969, p. 14.). Tanto no cinema quanto na Histria, a decupagem remete ao recorte espacial que determina a relao da mise en scne ou da montagem com o tempo. O mtodo estratigrfico de Foucault decupa os arquivos, da mesma forma que o fazem os grandes ensastas contemporneos da montagem.
2. O historiador da arte alemo Aby Warburg viu no conjunto das imagens produzidas ao longo dos sculos uma real capacidade de conservao da memria, da mesma forma que a matria orgnica. Sem ater-se a fronteiras geogrficas ou a critrios cronolgicos, como faz a histria da arte tradicional, ele aproximou ima-gens de diferentes formatos, pocas e civilizaes e pde constatar que um mesmo gesto humano, um mesmo Pathosformel as percorria, como um abalo ssmico imperceptvel, mas permanente, transmitido atravs dos tempos. A abordagem antropol-gica de Warburg descortina para o sculo XX uma verdadeira histria de fantasmas, justapondo culturas to distantes umas das outras como a da Renascena e a dos pueblos do Novo Mxico (Warburg, 2003). Esse proces-so de transmisso, que ele chamou de Nachleben, traduzido por Agamben como a vida pstuma das imagens (Agamben, 1998). Didi-Huberman, outro estudioso importante do mtodo warburguiano, fala de sobrevivncia (DIDI-HUBERMAN, 2002).
-
Falkenau: vida pstuma dos arquivos | Anita Leandro
2010 | n34 | significao | 109
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
como reprter de polcia, quando foi convocado para servir como soldado na primeira diviso de infantaria norte-americana, a cle-bre Big Red One, qual ele dedicaria, posteriormente, um filme histrico e autobiogrfico (The Big Red One, 1980). Quando ainda estava na Tunsia, em 1942, Fuller recebera de sua me uma cmera Bell & Howell de 16 milmetros, que atravessaria os combates na frica do Norte (1942), na Siclia (1943) e na Normandia (1944), sem nunca ser utilizada, apesar de sua leveza e praticidade. Em maio de 1945, ao chegar em Falkenau, na regio dos Sudetos, fron-teira tcheco-polononesa-alem, de forte presena alem, a Big Red One, j com muitas baixas, faz o seu ltimo combate e liberta o campo de concentrao que ficava na entrada da cidade. Os alia-dos enfrentam a resistncia dos habitantes locais em reconhecer a existncia do genocdio. a, ento, que o comandante da tropa, capito Kimbel Richmond, percebe a utilidade das imagens e pede a Fuller para filmar o ritual fnebre dos milhares de mortos que apodreciam no necrotrio do campo. Com essas imagens, Fuller produziria, sem saber, um documento histrico nico para a pos-teridade, registrando um fato inusitado na abertura dos campos de concentrao: a preparao, por parte de civis negacionistas, de um enterro para os prisioneiros mortos.
Diante das imagens
O filme de Emil Weiss dura 52 minutos e grande parte das sequn-cias se passa dentro de uma sala de projeo com um nico especta-dor, Samuel Fuller. Sentado numa cadeira de diretor, de frente para a tela e, em alguns momentos, de costas para a cmera, Fuller assiste s imagens que filmou em 1945. Ele comenta cada plano, buscan-do na memria elementos que lhe permitam restituir os fatos em sua complexidade. O face--face da testemunha da Histria com os arquivos vai suscitar um depoimento revelador sobre a persistncia do passado no presente. Fuller relembra o que aconteceu e desco-bre nas imagens elementos que outrora escaparam a sua percepo, como as colinas que circundam o campo, por exemplo, e de onde os moradores de Falkenau podiam perfeitamente ver os prisioneiros.
Seu discurso elaborado a partir do que as imagens revelam, da viso do impossvel que elas proporcionam, como anuncia o sub-t-
-
110 | significao | n34 | 2010
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
tulo do filme. Diretamente associada aos arquivos, a fala de Samuel Fuller oferecer ao espectador uma viso daquilo cuja ressurreio , por natureza, impossvel, ou seja, o passado. E dado o carter intolervel e inacreditvel do horror que essas imagens revelam, o passado ressurge como algo duplamente impossvel. Fuller parece espantado diante das imagens dos acontecimentos terrveis que sua cmera amadora registrou. A mise en scne justape o silncio elo-quente das cenas mudas, em preto e branco, ao murmrio de uma palavra viva que, embora filmada no presente, a cores, transmite em sua formulao o sentimento de que pertence ao passado. A prpria flexo da voz traduz uma intimidade com os mortos, um luto assi-milado. Fuller um sobrevivente da guerra, que lutou em todas as grandes batalhas da qual participou a Big Red One. Ele faz parte do grupo reduzido de seis soldados de sua diviso que chegaram vivos a Falkenau, ltimo campo a ser liberado. por isso que a media-o das imagens dispensa, aqui, o sistema tradicional de pergunta e resposta. A relao com os arquivos permite a Fuller vivenciar uma experincia interior, refratria ao discurso, ao saber adquirido (BATAILLE, 2009, p. 25). Em vez do enunciado sobre o passado, o prprio passado que se apresenta nesse encontro com as imagens, o que dele sobrevive e que ainda possvel atualizar. Do dilogo de Fuller com os arquivos nasce um testemunho inesperado sobre a persistncia da experincia da guerra no presente: ao mesmo tem-po em que faz sua anamnse, ele religa as imagens de Falkenau a acontecimentos atuais, atribuindo aos documentos de arquivo uma contemporaneidade inquietante.
Enquanto a projeo avana, Fuller conta a Emil Weiss como tudo aconteceu. Os habitantes de Falkenau insistiam no desconhe-cimento das atrocidades cometidas dentro do campo de concen-trao, situado, no entanto, ao lado de suas casas. A paz tinha sido assinada no dia anterior, 8 de maio, e se os aliados matassem al-gum, por maior que fosse sua participao no genocdio, isso seria considerado crime. O capito Richmond se contenta, ento, em dar uma lio aos que negavam a evidncia e escolhe entre as elites lo-cais uma dezena de homens juzes, banqueiros, empresrios , aos quais ordena que retirem do necrotrio todos os mortos que ali se encontravam, empilhados e nus. As imagens mostram as pessoas mais importantes da cidade vestindo os corpos esquelticos e des-figurados dos prisioneiros. A cmera, no meio da cena, insiste nos
-
Falkenau: vida pstuma dos arquivos | Anita Leandro
2010 | n34 | significao | 111
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
detalhes rostos cadavricos, mos descarnadas, ps descalos , como se o plano aproximado pudesse atribuir alguma identidade queles mortos de nacionalidade ignorada, vindos de mais de dez pases diferentes e que agora iriam para uma vala comum. Em meio ao mau cheiro de carne gangrenada, como relembra Fuller, os re-presentantes da alta sociedade de Falkenau realizam, sem protestar, a difcil tarefa. A tenso era inimaginvel, diz Fuller. Estvamos num barril de plvora. Se um nico homem tivesse se atrevido a contestar, teria sido um drama.3
Esse o nico filme conhecido at hoje de abertura dos campos de concentrao em que se v civis cumprindo rituais fnebres de preparao dos mortos para o enterro. Eles pegam roupas, lenis, toalhas, tudo o que encontram, e vestem os cadveres cuidadosa-mente, como uma me que veste um filho, compara Fuller diante das imagens da preparao dos corpos. Imveis e silenciosos, os so-breviventes do campo de concentrao assistem ao trgico espetcu-lo. Sem trip, uma panormica de 360 percorre o espao em plano sequncia, mostrando os prisioneiros, os soldados, a preparao do enterro e a cidade vizinha ao campo. Fuller explica o que queria exatamente com essa imagem: um plano sem cortes, uma ni-ca tomada, sem montagem. Eu apenas fiz uma panormica, para mostrar o quanto o campo era prximo. Eu no podia cortar.4 Ao ver essas imagens pela primeira vez, depois de tanto tempo, ele se surpreende ainda com a revelao de um detalhe importante. As crianas brincando, subindo e descendo as colinas, podiam ver to-dos os prisioneiros. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Fuller continua sua descrio do contedo das cenas. Um oficial russo, mdico, rene os prisioneiros e faz um pronunciamento macabro: alguns deles sofreram tanto de mal nutrio que lhes ser impossvel sobreviver; um segundo grupo, com doenas contagiosas, deve per-manecer na priso. Foi uma provao para todos. Eu tinha a vanta-gem de estar ocupado com meu filme. Os outros tinham que olhar.
Ao final dos preparativos para o enterro, o capito obriga os ci-vis a levarem os mortos ao cemitrio local. O cheiro piora. Agora comea a partida do campo e o incio do ltimo xodo. Talvez devido ao compartilhamento de um mesmo espao com as ima-gens, Fuller descreve os fatos no presente, como se estivesse real-mente revivendo a experincia. O cortejo fnebre segue a p e os homens de Falkenau empurram e puxam as pesadas carroas que
3. Todas as citaes entre aspas sem referncia bibliogrfica so
transcries dos depoimentos de Samuel Fuller no filme.
4. Num artigo em que analisa Shoah, de Claude Lanzmann, Snchez Biosca lembra que os fotgrafos e cineastas independientes que
cobriram a abertura dos campos de concentrao tinham todos esse cuidado de mostrar, sem nenhum
corte, a contiguidade espacial dos visitantes e dos cadveres
amontonados, de forma que a imagem pudesse servir como um
testemunho incontestvel (Snchez Biosca, 2001, p. 284).
-
112 | significao | n34 | 2010
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
levam os mortos. Alguns moradores saem s ruas para ver a passa-gem do enterro e Fuller chama a ateno para a imagem do capito Richmond solicitando a um deles que retire o chapu. Era preciso que os prisioneiros deixassem o mundo com uma certa dignidade e que os habitantes de Falkenau sentissem vergonha pela conivncia com a tragdia que acabara de acontecer ao lado de suas casas. O comentrio de Fuller penetra nas imagens, traduzindo o contedo de cada cena, o sentido de cada gesto. Antes mudas, as imagens so agora habitadas pelo vigor de sua fala e do timbre de sua voz.
Na medida em que as imagens vo sendo projetadas, na ordem em que foram filmadas e sem supresso de planos, Fuller improvisa seu depoimento, comunicando uma memria do que ficou regis-trado nas imagens. No cemitrio, um jovem louro de calas curtas, um alemo, aparentemente, arruma os cadveres dentro da grande vala comum. Ele cruza as mos de cada morto sobre o peito e cobre todos com um grande lenol branco. Esta imagem suscita em Fuller uma fala contundente sobre a persistncia do racismo nos dias atu-ais, reflexo que pontuar todo o filme, como um alerta. Hoje ainda tem gente para dizer, como Le Pen, que tudo isso foi apenas um detalhe. Ele evoca o neonazismo francs, mas tambm norte-ame-ricano. Nos Estados Unidos, alguns pretendem que o genocdio um mito, que no houve nem mil judeus mortos, que ningum foi torturado, assassinado, condenado a morrer de fome, gasificado ou cremado, morto ou vivo. Diante do recrudescimento do racismo, ele v na imagem uma importante aliada. Espero que os nazistas de hoje pensaro duas vezes antes de negar o irrefutvel. E quando eu digo nazista, qualquer um que nega ou que perdoa os crimes nazistas ou esses americanos que negam a existncia dos campos de concentrao. Assim como o racismo, a guerra tambm no acabou. Ela apenas se deslocou geograficamente. Hoje preciso ir Nicargua, ao Afeganisto. Estas coisas continuam acontecendo nos dias atuais. Civis so mortos cada vez que cai uma bomba. As imagens so ouvidas, interpeladas e atualizadas por Fuller como um problema do presente, e no apenas do passado. Jacques Derrida, que havia diagnosticado um verdadeiro mal de arquivo em nossas sociedades, se referindo a situaes de dissimulao, de destruio, de interdio, de manipulao e at mesmo de recalque de arquivos que marcaram os desastres do final do ltimo milnio, diz que o ar-quivo, para escapar a esses sintomas contemporneos, precisa de um
-
Falkenau: vida pstuma dos arquivos | Anita Leandro
2010 | n34 | significao | 113
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
lugar exterior que o atualize (DERRIDA, 1995). No documentrio, esse lugar exterior a palavra, a experincia viva da fala, que nasce no presente das filmagens, dando aos arquivos uma nova chance.
E se, aqui, a pessoa filmada aparece como porta-voz solidria de um arquivo sem som, por outro lado as imagens tambm teste-munham no lugar e a favor do prprio Fuller. Em sua carreira de produtor e diretor de cinema, iniciada depois da guerra, ele foi, s vezes, tachado de anti-comunista, devido ao contedo de alguns de seus filmes.5 As imagens de Falkenau resistem, de uma certa ma-neira, a essas acusaes. O combate ao negacionismo assumido pela longa panormica que religa o interior do campo ao seu exterior, s possvel porque h uma postura tica do soldado Fuller diante dos horrores da guerra. Embora amadora, sua cmera adota um ponto de vista que invalida a afirmao dos moradores da cidade de que desconheciam o que se passava dentro da priso. Num nico plano, a geopoltica do espao de Fuller inscreve o campo de concentrao numa paisagem urbana que assistiu em silncio ao genocdio. Bem perto dos muros da priso, h ruas com igreja e casas, algumas com vista para o interior do campo. Seu plano revela essa proximidade incriminadora. Muito antes de se tornar cineasta, Fuller j abordava a panormica como uma questo de moral. Uma tica do movi-mento de cmera j remete, nessa tomada nica, s bases do estilo clssico de uma obra que exercer, quinze anos mais tarde, forte in-fluncia nos cineastas da Nouvelle vague, Godard particularmente. A ligao que a panormica de Fuller estabelece entre dois espaos pretensamente separados produz, em 1945, uma prova do crime para os historiadores do futuro. As imagens arquivaram esse gesto de re-sistncia que, hoje, reconcilia Samuel Fuller com seus contempor-neos. Se, meio sculo depois da guerra, os arquivos ainda participam do julgamento dos crimes da Histria, alertando os tempos atuais quanto ao neonazismo, porque as imagens de Fuller se posiciona-ram eticamente, elas tomaram partido (DIDI-HUBERMAN, 2009).
O dispositivo de filmagem adotado por Weiss transpe a soleira do discurso objetivo, da informao eficaz e da fala cientfica do especialista em Histria, predominantes no documentrio baseado em arquivos. Num artigo sobre o conjunto de imagens de abertura dos campos, Didi-Huberman comenta os 21 minutos rodados por Fuller em Falkenau e se refere ao dispositivo adotado mais tarde por Emil Weiss nos seguintes termos: So as prprias imagens que,
5. No incio da Nouvelle Vague, a revista Cahiers du cinma busca
reabilitar a imagem de Fuller. Em 1959, Luc Mullet sugere que a
questo tica, na obra fulleriana, j est prevista na prpria forma: a
moral um problema de travelling, diz ele (Mullet, 1959). Em seguida, a frmula invertida por Jean-Luc Godard, que insiste na primazia da escolha tica em relao escolha
esttica: o travelling um problema de moral (Godard, 1959). A reflexo
sobre a base moral da linguagem cinematogrfica j se encontrava no
centro das preocupaes editoriais do Cahiers desde os seus primeiros nmeros, com os artigos de Bazin.
Antoine de Baecque, que refere-se, em seu ltimo livro, a algumas
passagens de Falkenau, viso do impossvel, retoma aspectos do
debate Mullet-Godard ao atualizar a discusso sobre a representao
da Shoah no cinema (De Baecque, 2008, p. 100 e 143).
-
114 | significao | n34 | 2010
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
embora totalmente mudas, interrogam a testemunha. Tomando a palavra, ela lhes dar a possibilidade de serem verdadeiramente olhadas, lidas, ou mesmo, ouvidas (DIDI-HUBERMAN, 2006, p. 1035). As imagens do genocdio, viso do impossvel, na definio de Fuller, comparecem em sua materialidade, expondo o vestgio histrico em sua prpria incompletude. A fora do arquivo parece estar, justamente, no murmrio que nele ecoa e que a fala do en-trevistado potencializa, comunicando uma fragilidade no discurso da Histria. O arquivo uma reminiscncia, uma palavra distante que interpela o presente. Esses mortos, eu os guardei dentro de mim. um pesadelo impossvel. Nunca esquecerei, diz Fuller. A descoberta do horror inenarrvel do genocdio ser, como se sabe, determinante para ele, orientando os grandes temas que nor-tearo sua obra: violncia, loucura, priso, tortura, guerra. H nas cenas de Falkenau uma srie de quatro imagens de mortos, em close, que elucidam certos aspectos da estilstica fulleriana, sua forma de filmar o rosto dos atores. Os rostos plidos dos mortos de Falkenau resplandescem numa moldura de escurido e seus olhos, ainda abertos, fixam o infinito, o extra-campo. H uma splica silenciosa nesse claro-escuro, que nos atinge em cheio graas ao olhar demorado do soldado Fuller, compaixo e ao respeito de sua imagem amadora pelos mortos. A questo do ponto de vista histrico situa-se alm e aqum da esttica e da tcnica. Com esses rostos iluminados pelo sol de maio, Fuller constri, como diria Daney sobre os Straub, um tmulo para o olho (Daney, 1996, p. 78). Num texto fortemente inspirado pela antropologia da imagem warburguiana, Didi-Hubermann diz algo semelhante, ao abordar o tema da abertura na histria das imagens: uma imagem pode ser muito mais do que uma vista longnqua projetada numa tela ou controlada pelo enquadramento de uma janela. Ela pode ser a viso precipitada de um espao aberto onde cai nosso olhar. a circunspeco de um ponto de vista demasiadamente humano, muito mais do que um desejo de pintura da parte de Fuller, que nos coloca em estado de contemplao diante desses quatro planos de rostos petrificados.
O arquivo , por definio, o que sobrou do passado, restos que se situam entre uma possibilidade e uma impossibilidade de dizer (Agamben, 2003, p. 156). Sua presena no , ento, suficiente para restituir o fato histrico. Mas ela desperta em Fuller sentimentos
-
Falkenau: vida pstuma dos arquivos | Anita Leandro
2010 | n34 | significao | 115
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
adormecidos de experincias vividas. O pesadelo impossvel de que ele fala a perspectiva interior de uma imagem que j foi por ele introjetada. A questo de fundamental importncia para o cine-ma e suscita entre entrevistador e entrevistado uma discusso que ocupa os ltimos dez minutos do filme. Numa atitude moral prxi-ma da de Claude Lanzmann, Emil Weiss quer convencer Samuel Fuller de que, no caso particular do universo concentracional, a imagem tem um limite a no ser ultrapassado, que o da represen-tao. Weiss comenta a passagem do livro autobiogrfico de Robert Antelme, A espcie humana, em que o autor, prisioneiro num cam-po de concentrao, ao mirar-se no espelho v outra imagem que no a sua. A imagem da condio de homem lhe escapa e sua repre-sentao, para Weiss, impossvel. Romancista e roteirista, alm de diretor, Fuller discorda, sustentando que tudo possvel no cinema de fico e que, com um bom ator, se o queremos, conseguimos. O ator tem que levar o pblico ao inferno com ele. O obstculo est, ele acredita, em como encontrar dinheiro para produzir um filme sobre os campos de concentrao sem fazer nenhuma concesso. Os produtores seriam todos indiretamente cmplices do que acon-teceu. Os bancos, os distribuidores teriam exigncias.
Enquanto Fuller fala de seu processo de assimilao dos mor-tos, a montagem congela a imagem do primeiro punhado de terra caindo sobre os corpos envoltos em lenol branco, no fundo da vala. H uma generosidade dos arquivos ao acolherem a fala da teste-munha ou sua impossibilidade de testemunhar, ao se oferecerem como uma evidncia dos fatos inenarrveis que ela tenta rememo-rar. Da mesma forma que h, tambm, no mtodo de entrevista de Weiss, uma mo estendida aos arquivos, que ao final de contas, so apenas vestgios da Histria, nada mais que 21 minutos de imagens de um nico campo de concentrao, entre tantos outros. So os depoimentos de Fuller que apresentam esses arquivos como uma prova, como uma evidncia da histria (HARTOG, 2005). Alis, Fuller retoma essa noo da historiografia ao responder a uma per-gunta de seu entrevistador sobre como representar o impossvel: As imagens de arquivo ainda tero um valor daqui h mil anos, um valor de prova, como uma evidncia. por isso que eu amo o cinema. Ningum mais pode mentir sobre o que acabou de ver. Fuller acreditava que tudo era possvel com uma cmera, a partir do momento em que se tem o controle da produo e da distribuio.
-
116 | significao | n34 | 2010
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nos lugares da Histria
A interpelao dos vestgios do passado, iniciada na sala de proje-o, se prolonga nos lugares histricos que vo ser percorridos por Emil Weiss e Samuel Fuller. Alm das runas de Falkenau, eles vi-sitam o campo de Terezin, onde h documentos relativos ao geno-cdio, e vo tambm a Nuremberg. No grande porto de Terezin, debaixo da frase o trabalho liberta, Fuller explica como a escravi-do concentracionista alimentou a indstria da guerra e sustentou economicamente o projeto de extermnio. No interior da biblioteca de Terezin, Fuller mostra um mapa dos campos de concentrao e documentos de contabilidade da indstria da morte. maneira de um reprter, ele guia o espectador. A diferena em relao reportagem que, aqui, os fatos so relatados a partir do ponto de vista subjetivo, por algum que viveu os acontecimentos narrados, o que estabelece um vnculo entre passado e presente. Imagens de ar-quivo j conhecidas, feitas por cinegrafistas alemes, so utilizadas nas sequncias rodadas em Nuremberg. A visita praa central da cidade autoriza a convocao de imagens de um desfile militar, em que Hitler se dirige multido. Fuller lembra que foi ali que nasceu a noo de crime de guerra, em 1946, e sua fala nos d acesso a imagens do processo de Nuremberg. Mais uma vez, passado e pre-sente se justapem na montagem, quando Fuller aparece na sala do processo, mostrando o lugar em que, na poca do julgamento dos criminosos, havia uma tela para a projeo de imagens de genocdio durante o depoimento dos acusados.
Em Falkenau, uma lenta panormica vertical sobre o monu-mento ao fim da guerra mostra Samuel Fuller lendo uma longa lista de nomes de soldados mortos, precedida de um epitfio, em ingls: Aqui terminou a marcha vitoriosa da infantaria americana. Uma segunda panormica, igualmente calma, descortina as runas do campo, enquanto Fuller identifica os alicerces das antigas casas de pedras que beiravam a estrada. Mais adiante, numa construo com aberturas laterais, ficavam as metralhadoras alems que era preciso neutralizar. Vou mostrar como foi, diz Fuller descendo uma colina. Apesar de sua idade avanada no momento em que filmado por Weiss, ele corre, salta um obstculo e se abaixa para pe-gar uma granada invisvel, como se buscasse na reproduo de cada gesto, uma memria fsica, corporal, daquilo que viveu. Corramos
-
Falkenau: vida pstuma dos arquivos | Anita Leandro
2010 | n34 | significao | 117
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
beirando o muro, que ficava aqui, pulvamos, jogvamos a maldita granada e corramos de novo. No momento em que ele mostra como arremessava as granadas, ouve-se uma exploso. A montagem antecipa a banda sonora de uma imagem de fico que aparecer logo depois: num raccord perfeito no gesto, um soldado de The Big Red One, o filme autobiogrfico de Samuel Fuller, arremessa uma granada contra os alemes. Foi assim que tomamos Falkenau. O raccord entre o documentrio e a fico, a necessidade de religar o passado ao presente, legitimam a participao de The Big Red One na restituio dos fatos.
Da mesma forma que sua mise-en-scne dos arquivos, a monta-gem de Weiss tambm mobiliza o potencial memorialista do cine-ma e, por meio do raccord, traz superfcie das imagens a solidarie-dade existente, mas nem sempre reconhecida, entre real e fico. Embora sejam ficcionais e s apaream a posteriori, na montagem, as imagens de The Big Red One, solicitadas pelo gesto de Samuel Fuller e pela prpria paisagem, tambm testemunham. A preciso no gesto dos soldados e na reconstituio do cenrio o resultado de um roteiro escrito e encenado por um ex-combatente que viveu os fatos narrados. J na abertura de Falkenau, viso do impossvel, um prlogo sem comentrios mostrava imagens de The Big Red One, no momento exato da tomada do campo de concentrao pe-los americanos. Vemos os soldados paralisados pela descoberta de sobreviventes esquelticos e amedrontados, quando a voz de Fuller, no presente, vem romper o silncio da cena de fico. Ele evoca a insanidade da guerra e a impossibilidade, para quem no a tenha vivido, de compreender o que essa palavra quer dizer. Fuller conta que Falkenau superou em crueldade as coisas mais terrveis que ti-nha visto, os maiores pesadelos que vivenciara at ento.
O raccord a marca estilstica das sequncias rodadas nos lu-gares histricos. Aps a imagem de arquivo dos sobreviventes de Falkenau, agachados, observando a retirada dos corpos do necro-trio, a montagem corta para um plano atual de Fuller, no mes-mo local: Os prisioneiros estavam sentados no cho, assim. Ele se abaixa, fica de ccoras e continua: Quando o primeiro corpo saiu, todos se levantaram ao mesmo tempo. No havia todo esse mato. Weiss pensa sua mise en scne dos lugares histricos luz das imagens de 45, cuja fora ele busca potencializar em cada um de seus planos, reproduzindo os mesmos movimentos de cmera feitos
-
118 | significao | n34 | 2010
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
outrora por Fuller e procurando, nas runas, algum vestgio daquilo que as imagens de arquivos preservaram.
Os lugares da Histria so interlocutores de Samuel Fuller. Eles mediam sua fala, da mesma forma que as imagens de arqui-vo. Como em S21, mquina de morte Khmer Vermelho (2003), de Rithy Panh, a paisagem do genocdio, a arquitetura e o documento so filmados como vestgios materiais do passado e testemunham ao lado do personagem. As paisagens abandonadas, com suas cer-cas cobertas de ervas, presenciaram tudo. As rvores arquivaram os gritos dos prisioneiros torturados e o que Weiss parece buscar com suas panormicas e raccords insistentes o testemunho da natureza.
A participao do arquivo na filmagem, seja materialmente, como durante as projees das imagens de 45, seja potencialmen-te, por meio do raccord entre documentrio e fico, entre passado e presente, cria para o cinema uma possibilidade de interferir nos processos de elaborao da memria e de exercer uma atividade his-toriadora. Fuller resgata suas lembranas da guerra e formula uma narrativa da Histria a partir de seu ponto de vista. Em sua anlise do tratamento de arquivos nos filmes de Guy Debord, Agamben j ha-via localizado na montagem o desenvolvimento de, pelo menos, dois procedimentos estilsticos, a interrupo e a repetio, relacionados, segundo ele, funo memorialista da imagem e ao seu carter eminentemente histrico (AGAMBEN, 1998, p. 66). Com efeito, essas duas grandes possibilidades da montagem j eram apontadas nas teses benjaminianas da Histria como condies de possibilida-de para que, alm da rememorao, o presente proceda reparao dos sofrimentos inacabados do passado (Benjamin, 1991, p. 339). O mtodo de leitura dos arquivos e de elaborao da palavra colocado em prtica no filme de Weiss realiza, de certa forma, o desejo frus-trado do anjo da Histria de Benjamin de parar o progresso, enterrar os mortos, cuidar dos feridos e clarear as trevas do presente com os ensinamentos do passado. No outro o procedimento de Fuller ao interromper a narrativa cronolgica da histria e religar as imagens de Falkeneau ao que se passa no mundo naquele exato momento. O vai-e-vem entre as imagens do passado e o presente das filmagens en-coraja-o a fazer essa montagem associativa de idias, aproximando, exatamente como no mtodo de Warburg, acontecimentos distantes um do outro no tempo e no espao, mas produzidos por um mesmo gesto humano que atravessa a Histria, no caso, o racismo. A inter-
-
Falkenau: vida pstuma dos arquivos | Anita Leandro
2010 | n34 | significao | 119
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
rupo, no cinema e em qualquer outra forma de escrita, reeduca o olhar habituado aos fluxos contnuos e comunica uma tomada de posio das imagens na guerra. Atravs da interrupo, mise en scne e montagem oferecem uma viso dos fatos no-linear, em profundi-dade, que torna possvel uma arqueologia do olhar.
Alm da interrupo, o filme de Emil Weiss introduz tambm a repetio como mtodo de construo da narrativa da Histria: ver de novo imagens esquecidas, compartilhando um ritual memria dos mortos; voltar em peregrinao ao lugar histrico e percorr--lo novamente, buscando, na prpria topografia do terreno alguma marca que permita atualizar o passado. Repetio tambm na re-encenao de gestos perdidos ou recalcados ou quando o raccord identifica a fico ao documentrio, o presente ao passado. A fo-tografia de Emil Weiss tambm procede por repetio, com pano-rmicas das runas que prolongam as imagens do campo traadas quarenta anos antes por Fuller. Atravs da repetio, mise en scne e montagem comunicam a atualidade do gesto histrico, sua sobrevi-vncia. Ela d uma nova chance ao passado e insiste no fato de que ele ainda no passou.
Vozes inaudveis
Ao retomar todos esses arquivos de diferentes registros e pocas, Emil Weiss faz uma escolha formal, mas tambm tica, que consis-te em considerar a imagem como matria viva, autnoma e singu-lar, detentora de um discurso prprio, mesmo quando silenciosa e trmula, como as imagens do jovem Fuller. A atitude de Weiss em relao aos arquivos se assemelha do historiador que, diante da efemeridade das marcas deixadas pelo passado, aceita o desafio de produzir um discurso que organiza, como diz Michel de Certeau, uma presena ausente (DE CERTEAU, 1973, p. 9). So apenas 21 minutos, insiste Fuller, e d para sentir o amadorismo. nesse sentido que o filme de Weiss oferece ao arquivo a possibilidade de uma vida pstuma. Ele torna possvel o impossvel, mesmo que de maneira fugaz. Benjamin no dizia que a imagem do passado s nos aparece num lampejo?
Sem negar a importncia do gesto de um cineasta como Claude Lanzmann, que em nome de impossibilidade de representar o ir-
-
120 | significao | n34 | 2010
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
representvel, recusa a utilizao de imagens da Shoah em seus filmes, fazendo disso uma questo de princpios, a convocao dos arquivos no cinema no parece, no entanto, restringir-se a um pro-blema de representao. muito mais a uma questo de presena, de apresentao do arquivo que nos remete o mtodo de Weiss. E, ao contrrio do que uma certa crtica da ontologia da imagem po-deria argumentar, como tem feito, de maneira precipitada, com a obra de Bazin, por exemplo, a vida pstuma dos arquivos, sua en-carnao na fala de Samuel Fuller, no tem nenhuma relao com a doutrina crist. Da mesma forma que a imagem aberta de Didi-Hubermann, para alm dos limites da representao, os arquivos so um motivo, um motor do filme, e funcionam como um fantas-ma exploratrio (DIDI-HUBERMAN, 2007, p. 31). A materialidade do arquivo em Falkenau, viso do impossvel produz, como vimos, um verdadeiro encontro entre o que resta dos campos de concen-trao e a fala de uma testemunha, criando, assim, a possibilidade de reconstituio de um elo natural entre a palavra e a imagem (Warburg, 2003b, p. 106). Abordada como um personagem que tem um discurso prprio, a imagem de arquivo reaparece como um pro-blema atual: ela auxilia a pessoa filmada na elaborao de seu tes-temunho e, graas memria armazenada que carrega, o presente pode ser compreendido luz dos acontecimentos passados. dessa forma que os arquivos interferem na qualidade da narrativa histrica singular que o cinema capaz de organizar. Ao se colocar escuta dos arquivos, Weiss restitui, como diria Warburg, o timbre das vozes inaudveis do passado, as vozes dos mortos, vozes que ainda ecoam em milhares de documentos decifrados e ainda por decifrar.
-
Falkenau: vida pstuma dos arquivos | Anita Leandro
2010 | n34 | significao | 121
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bibliografia
AGAMBEN, Giorgio. Image et mmoire, Hobeke, 1998.AGAMBEN, Giorgio. Ce qui reste dAuschwitz. Larchive et le
tmoin. Homo Sacer III. Traduit de litalien par Pierre Alferi. Paris: Editions Payot & Rivages, 2003.
BATAILLE, Georges. Lexperience intrieure. Paris: Gallimard, 2009 (1943 e 1954).
BENJAMIN, Walter. Sur le concept dhistoire. In: Ecrits franais. Paris: Gallimard, 1991.
DANEY, Serge. La Rampe. Paris: Cahiers du cinma, 1996.DE BAECQUE, Antoine. Lhistoire-camra. Paris: Gallimard, 2008.DE CERTEAU, Michel. Labsent de lhistoire. Paris: Mame, 1973.DELEUZE, Gilles. Image-temps. Paris: ditions de Minuit, 1985.DERRIDA, Jacques. Mal darchive. Paris: Galile, 1995.DIDI-HUBERMANN, Georges. Limage survivante. Histoire de
lart et temps des fantmes selon Aby Warburg. Paris: Les Editions de Minuit, 2002.
DIDI-HUBERMANN, Georges. Ouvrir les camps, fermer les yeux. In: Annales HSS, septembre-octobre, n 5, pp. 1011-1049, 2006.
DIDI-HUBERMANN, Georges. Limage ouverte. Paris: Gallimard, 2007.
DIDI-HUBERMANN, Georges. Quand les images prennent position. Loeil de lhistoire I. Paris: Les Editions de Minuit, 2009.
FOUCAULT, Michel. Archologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969. HARTOG, Franois. Evidence de lhistoire. Ce que voient les
historiens. Paris: Editions de lEHESS & Gallimard.MICHAUD, Philippe-Alain. Aby Warburg et limage en
mouvement. Paris: Macula, 1998.SNCHEZ BIOSCA, Vicente. Imgenes marcadas a fuego.
Representacin y memoria de la Shoah. In: Revista Brasileira de Histria. So Paulo, vol. 21, n 42, 2001, p. 283-302.
WARBURG, Aby. Le rituel du serpent. Art et antropologie. Traduit de lallemand par Sibylle Muller. Paris: Macula, 2003a.
WARBURG, Aby. Essais florentins. Traduit de lallemand par Sibylle Muller. Paris: Klincksieck, 2003b.