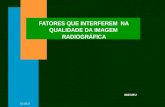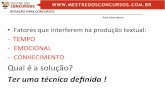Aula - Fatores Que Interferem Na Qualidade Da Imagem Radiografica
Fatores que interferem na capacitação de agfamiliares
-
Upload
maria-odete-alves -
Category
Education
-
view
273 -
download
3
Transcript of Fatores que interferem na capacitação de agfamiliares
ALGUNS FATORES QUE INTERFEREM NO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADOS DA
REFORMA AGRÁRIA1
Maria Odete Alves2
16/04/2002
Introdução
Este texto se dirige a agentes de desenvolvimento do Banco do Nordeste e tem o objetivo de subsidiar sua ação durante a execução dos trabalhos como facilitadores num programa de capacitação específico para agricultores familiares das áreas de assentamento beneficiadas com recursos do Pronaf A e financiadas pelo Banco do Nordeste. A intenção é provocar uma discussão sobre os principais fatores que interferem no desenvolvimento desse tipo de trabalho quando dirigido a organizações associativas em áreas de assentamento rural.
A idéia de elaborar o texto surgiu de um debate travado no âmbito do grupo que recebeu a tarefa de preparar o programa de capacitação, quando se reconheceu a necessidade de envolver os facilitadores do Programa numa discussão sobre fatores antecedentes que podem interferir no desenvolvimento de trabalhos de capacitação com o público em questão.
O texto é dividido em quatro itens e aborda aspectos relacionados com as especificidades dos agricultores familiares, as formas como se dão a ação coletiva e as relações interpessoais entre eles, além de fazer um paralelo entre a lógica do grupo e as regras do mercado formal.
1. Especificidades econômicas, sociais e culturais da agricultura familiar
O termo agricultura familiar só recentemente foi assumido pelos poderes públicos, agências de desenvolvimento e academia. Surgiu e ganhou força na última década, numa tentativa de suprir as deficiências e limitações apresentadas principalmente pelos conceitos de camponês e pequeno produtor, até então os mais utilizados.
Agricultura familiar é entendida como “...uma unidade de produção onde trabalho, terra e família estão intimamente relacionados” (Carneiro, 1999, p.5). É um conceito genérico e, por isso, muitas vezes é incompreendido, principalmente quando é feita a contraposição agricultura familiar x agricultura patronal, confundindo-se, por exemplo, o modo de fazer agricultura com o seu porte (Evangelista, 2000).
Apesar de genérico e incorporar uma diversidade de situações específicas e particulares, o conceito de agricultura-familiar associa família-produção-trabalho, o que
1 Texto elaborado para servir de apoio ao curso para Agentes de Desenvolvimentos oferecido pelo BNB.2 Enga. Agrônoma, Mestra em Administração Rural e Desenvolvimento pela Universidade Federal de
Lavras (UFLA) e pesquisadora do Banco do Nordeste – ETENE. Correio eletrônico: [email protected].
representa conseqüências fundamentais para a forma como o grupo age econômica e socialmente, conforme se observa a seguir.
Os agricultores familiares possuem uma racionalidade própria, a qual os faz agir de forma aparentemente irracional, se analisado sob uma ótica estritamente econômica, mas bastante compreensível, quando se tem em mente que seu objetivo primordial ao exercer a atividade produtiva não é o acúmulo de riqueza e sim a subsistência da família, conforme atestam diversos autores.
Schultz (1965), por exemplo, nos leva a entender que ninguém conhece e consegue organizar seu sistema melhor que o próprio lavrador, se forem mantidas as mesmas quantidades de trabalho, terra e capital.
Carrieri (1992) considera que a prática cotidiana do agricultor o leva a tomar decisões baseadas tanto em seu bom senso e conhecimento empírico, quanto na visão global de seu meio. E isso o faz considerar todo um complexo de conseqüências, de acordo com os objetivos que pretende atingir. Significa que existe uma articulação lógica entre condições, meios e fins na estratégia por ele adotada.
Para Chayanov (1974), todas as ações desses agricultores ocorrem de acordo com planejamento e motivações que são próprios deles e não têm nada a ver com a forma como agem os gerentes das empresas agrícolas. O cerne da questão reside no fato de que o objetivo da sua atividade econômica é diferente do da empresa. Ou seja, se na primeira é feita uma avaliação qualitativa da reprodução, na segunda, apenas o cálculo matemático é considerado. Enquanto na primeira a produção está direcionada para “valores de uso”, na segunda é orientada para “valores de troca”, como afirmam Alencar e Moura Filho (1988).
Entretanto, não se pode esquecer o fato de que a realidade rural é complexa e heterogênea, com uma multiplicidade de unidades de produção e conjuntos diferenciados de classes sociais, abrigando produtores que se encontram em situações diferenciadas, porque dispõem de base material diferenciada e, por isso, distinguem-se do ponto de vista econômico e social. A estrutura agrária, portanto, abriga um continuum de atores sociais, em cujos extremos situam-se, de um lado os camponeses e de outro os empresários rurais. Ambos estão preocupados em ter acesso a atividades estáveis e rentáveis e com a integração ao mercado. Porém, enquanto o primeiro prioriza a manutenção e a reprodução da família, o segundo é regido pela lógica da racionalização dos fatores produtivos para a obtenção de lucro.
No Nordeste, grande parte dos agricultores familiares se encontra num estágio de desenvolvimento que se aproxima do "camponês", conforme observa Alves (1999), porque a essência de sua organização é o trabalho familiar e, ao exercerem suas atividades econômicas, visam em primeiro lugar assegurar a manutenção e a reprodução da família. O montante de força de trabalho, sua composição e o grau de atividade nesse tipo de unidade familiar são determinados pela composição e tamanho da família (Chayanov, 1974).
Portanto, é o nível de consumo doméstico que vai determinar o grau de exploração na unidade familiar. Sob este aspecto, a unidade camponesa difere completamente da empresa, pois ao contrário desta, cessa ou reduz a intensidade de
força de trabalho quando satisfaz suas necessidades ou alcança o equilíbrio econômico. Não quer dizer que não haja preocupação com lucro, produtividade, custos etc, mas estes assuntos são secundários diante daquele objetivo maior.
Ribeiro (1992, p.22) considera que “suas normas, cultura e hierarquias na organização da produção [da agricultura familiar] são outras, e não exatamente aquelas da empresa”. Este autor afirma que o mais importante para os camponeses “é a sobrevivência, é a massa de produção retirada de um leque diversificado de atividades” (Ribeiro, 1992, p.83). Por isso a produtividade agrícola é uma questão cuja preocupação é “secundária ou terciária”.
Assim, o transplante de conceitos de empresa, tais como produtividade e eficiência, não têm sentido se analisados a partir da dinâmica da produção camponesa, porque não permitem a compreensão desse tipo de organização.
Com relação à gestão, é um assunto que deve ser tratado a partir do reconhecimento de que dentro da unidade de produção familiar as ações não aparecem sistematizadas de acordo com os “moldes cartesianos da ciência oficial”. Isso, porém, não implica a inexistência de outros tipos e níveis de conhecimentos. O sistema de trabalho camponês, se visto a partir de dentro, aparece sistematizado. Só que de forma diferente daquela vista pela ciência oficial. A seu modo, as unidades domésticas dão conta de reproduzir física, social e culturalmente o campesinato (Brandão, 1986).
Deve-se atentar, porém, para o fato de que o conhecimento do agricultor é empírico e também simbólico, ou seja, é a representação da realidade. Significa que pode atribuir a existência de determinados problemas a causas externas, inclusive divinas. Esta é uma explicação do senso comum de onde se origina e se sedimenta sua experiência. O trabalho do mediador, portanto, é orientar o agricultor para relacionar-se com explicações mais amplas ou mais científicas sobre os elementos reais e não cristalizar apenas os elementos simbólicos. Este é o trabalho da capacitação.
2. Ação coletiva entre agricultores familiares
Qualquer discussão que envolva os temas "agricultura familiar" e "ação coletiva" deve levar em conta alguns aspectos importantes e interligados.
Um aspecto diz respeito ao fato de que, do ponto de vista dos agricultores familiares, uma organização associativa deve contribuir para melhorar os processos produtivos, facilitar a comercialização do excedente de sua produção, ao mesmo tempo em que deve resgatar os melhores valores da sua cultura. Ou seja, eles se associam em grupos, cooperativas ou associações de caráter comunitário para fazer frente não apenas às dificuldades crescentes da produção e da comercialização, mas também àquelas que envolvem os processos sociais da vida no meio rural3.
Daí, que a atividade associativa para os agricultores familiares não está ligada unicamente à produção, mas se insere no seu modo de vida, o qual se manifesta através
3 Uma questão a ser observada, por exemplo, diz respeito ao fato de que a lógica capitalista “acumular para usufruir depois” pode não ser compreendida por esses agricultores, uma vez que sua preocupação imediata é com a sobrevivência e reprodução do grupo familiar.
"...de modos de reprodução de grupos sociais e da transmissão de conhecimentos e práticas fundamentalmente diferentes, heterogêneas em vista das relações propriamente capitalistas” (Almeida, 1999, p.153).
Outro aspecto se refere ao fato de que a superação dos diversos problemas comuns às ações coletivas e a garantia do sucesso no desenvolvimento de qualquer experiência associativa depende da capacidade do grupo de fazer valer as ações em benefício do coletivo, ao invés de priorizar os interesses individuais de cada membro.
Este aspecto recebe influência das relações interpessoais que se travam dentro da comunidade e que são regidas por regras, normas e códigos de conduta e vizinhança formulados e consolidados geração após geração e, portanto, têm valor de lei para todos os membros. Tais relações interferem diretamente no desenvolvimento das associações de agricultores familiares, porque são determinantes do comportamento dos membros no grupo.
3. Redes interpessoais entre agricultores familiares
Redes, segundo Brandão (1986, p.19), “São o que existe articulado por debaixo das ´lideranças´. São, portanto, a própria estrutura local que socialmente organiza e distribui pessoas e grupos da comunidade como sujeitos e identidades individuais e coletivas. Como ocupantes de posições na família, na classe, na vizinhança em grupos de trabalho, de mobilização política (movimentos, sindicatos, oposições sindicais), de religião, de serviços setoriais populares, e também de educação” .
O mesmo autor considera que as redes nas comunidades são a estrutura social de realização e reprodução da prática cotidiana do trabalho e do saber.
Num processo de capacitação de agricultores familiares que vivem em assentamentos de reforma agrária é fundamental o conhecimento, por parte dos mediadores, de como se travam as relações interpessoais, ou seja, de que forma funcionam as redes. Daí a importância de se levar em conta a origem dos membros de cada grupo a ser trabalhado.
O grupo tanto pode ser constituído de membros oriundos de uma mesma comunidade como de comunidades diversas.
Quando a maioria dos membros do grupo é oriunda de uma mesma comunidade, pode ocorrer uma tendência de manutenção do nível das relações interpessoais do grupo de origem; do contrário, as redes interpessoais serão construídas a partir da formação do assentamento. Embora, em essência, não existam diferenças fundamentais entre as comunidades rurais, a observação da forma como se originou o grupo é fundamental para subsidiar ações voltadas a associações de agricultores familiares, uma vez que essa questão vai interferir na metodologia de trabalho de grupo. É que a capacidade do grupo de sobrepor o interesse coletivo ao interesse individual depende, em grande medida, da forma como são travadas as relações dentro da própria comunidade.
Como visto no item anterior, a atividade associativa para os camponeses tem um significado que supera a mera preocupação com a produção. Mais que isso, ela se insere
no modo de vida camponês. Daí que, no seu desenvolvimento, existem decisões que transcendem o plano econômico e que se baseiam nas relações interpessoais.
Entram em jogo, portanto, a cultura solidária evidenciada pelos agricultores familiares, bem como os valores familiares e as relações de amizade, parentesco e compadrio. Essa cultura solidária, por sua vez, está ligada às organizações informais existentes na comunidade. Segundo Sabourin (1999), "o funcionamento das organizações informais vem do reconhecimento pelo grupo local de regras transmitidas de uma geração a outra e garantidas pela autoridade dos chefes de família". Assim, a consolidação grupal numa organização associativa é influenciada positivamente pelas organizações informais ali existentes.
Em associações de camponeses que dão certo, é evidente o forte elo existente entre solidariedade e cooperação entre grupos que desfrutam de relações interpessoais. Tais relações contribuem, entre outras coisas, para o melhor intercâmbio de idéias e experiências, informações, práticas e técnicas, melhor organização do trabalho, maior objetivação na identificação de problemas e possíveis soluções, melhor poder de negociação e maior facilidade de incorporação de tecnologias inacessíveis a nível individual. São relações marcadas por amizade, conhecimento e confiança mútua, quesitos absolutamente necessários para que ocorra uma boa comunicação e integração. No entender de Sabourin (1999), "O apadrinhamento recíproco das crianças entre duas famílias sem laço de parentesco é uma forma de aliança extremamente forte, que permite multiplicar as redes interpessoais além da esfera local, das classes sociais e das categorias profissionais".
A inexistência de relações interpessoais anterior à experiência associativa pode ser responsável pelo surgimento de diversos fatores negativos, tais como: pouco interesse pela organização, desconfiança, medo do compromisso, resistência à associação, falta de integração e má comunicação entre os membros.
Quando se trata, por exemplo, da articulação do grupo com o mundo externo, a partir da necessidade de encontrar soluções para os problemas discutidos internamente nas organizações, o nível dessas discussões depende da forma como se originou a associação. Se ela tem origem na organização de base, na qual ocorre uma perfeita integração entre os membros, em geral tem capacidade de tomar iniciativas, desenvolver atividades independentes, trabalhar com a comunidade e o mundo (Ribeiro,1994).
As associações criadas de cima para baixo, desrespeitam as regras internas da comunidade, desconhecem a importância das relações ali existentes existem em função de recursos e de técnicos que se propõem zelar por elas. Por isso, tendem a desaparecer quando cessa o apoio, pois não conseguem criar coesão de grupo.
4. Lógica do grupo versus regras do mercado formal
Um fator que interfere no desenvolvimento de associações de agricultores familiares diz respeito diretamente aos conceitos essenciais para a ação cooperativa em geral. É que as associações e o processo de comercialização tornam obrigatórias relações seguidas com o mercado formal. Entretanto, têm estrutura e circuitos de comercialização ainda mal adaptados e há certo desconhecimento das regras e condições de mercado.
Tais conceitos, por não fazerem parte das práticas cotidianas dos grupos que se associam, não estão presentes nas associações. Para eles não é difícil cooperar na política e ser solidário na ação familiar religiosa ou sindical. Mas quando se trata de alterar a disciplina necessária para garantir o sustento da família e reprodução da propriedade o seu comportamento muda, pois se trata de questão crucial para a família. Por isso não é possível cobrar racionalidade e eficiência empresariais das associações, como se fossem cooperativas.
A comercialização, por exemplo, é uma preocupação constante entre os grupos que compõem as organizações formais. A idéia de comercializar a produção de forma coletiva surge da necessidade que os camponeses têm de fugir da sujeição ao mercado. Consideram que esta ainda é a forma mais eficiente de barganhar preço, por combater os atravessadores. Para eles isso é suficiente para justificar a "trabalheira" que é agir coletivamente. Porém, existem inúmeras dificuldades no momento das negociações. Embora, à primeira, vista a comercialização conjunta pareça ser uma excelente saída para o enfrentamento do problema do intermediário, na prática ela apresenta uma série de complicações.
Por isso, esta é uma das ações dentro da associação cujo sucesso depende da forma como ocorrem as relações dentro do grupo. São importantes os valores familiares, o parentesco, a amizade, o compadrio entre os membros do grupo. Em primeiro lugar, porque aparecem os problemas comuns durante a negociação interna, que são intermináveis e deixam muita gente insatisfeita, pois ocorre um conflito entre interesses individuais e coletivos; depois, como proceder para manter uma oferta regular e sistemática dos produtos escolhidos para levar ao mercado, se a prioridade desses agricultores é o auto-consumo? O não cumprimento dessa exigência implica riscos, sacrifícios e custos que necessariamente têm que ser coletivizados; outro problema é que a maioria dos associados possui uma compreensão muito imediata do mercado, não percebendo que se trata de atividade cujas normas diferem daquelas que norteiam as trocas internas da comunidade, dentro da família, entre compadres e vizinhos. Percebe-se que a habilidade que estes agricultores têm de negociar entre si, em geral não se manifesta quando se trata do uso coletivo, porque o objetivo da ação é diferente, o mesmo acontecendo quando o assunto é gestão.
Porém, a questão mais grave diz respeito ao resultado final da comercialização conjunta que, em termos de ganhos, se revela aquém da expectativa. No final chega-se à conclusão de que “ela é trabalhosa demais” e produz “pouco ganho para o grupo”. É que a associação tem uma desvantagem fundamental com relação ao intermediário pois, ao contrário deste, não é um especialista. Além disso, existem custos de transporte, perdas de armazenamento, taxas de serviço, diárias de associados a serviço da associação etc, que acabam se revelando inesperadamente onerosos.
Considerações finais
Não existem dúvidas quanto à importância da agricultura familiar como um setor estratégico para o desenvolvimento sustentável do Nordeste. Ela é uma saída para a manutenção e recuperação do emprego, para a redistribuição da renda e, conseqüentemente, para a superação da crise social e econômica do país.
A reforma agrária, por sua vez, é uma forma de incluir milhões de agricultores familiares ao processo produtivo e, portanto, é um caminho imprescindível para uma política de geração de renda e empregos em massa no meio rural.
É papel do poder público criar instrumentos e políticas que contribuam para a construção de uma nova perspectiva ao desenvolvimento desses agricultores familiares. Portanto, é imprescindível que políticas dirigidas a esse público incluam propostas de programas de capacitação, pela relevância em termos de contribuição para o seu processo de desenvolvimento.
Não se pode esquecer, porém, que o sucesso de programas de capacitação junto a esse segmento do setor produtivo depende do conhecimento que formuladores e mediadores têm da realidade e especificidades econômicas, sociais e culturais da agricultura familiar. A definição dos rumos de um programa de capacitação requer um conhecimento não apenas sobre os problemas da comunidade, mas também sobre as suas estruturas internas de organização simbólica e social.
Daí a importância de permitir a efetiva participação dos grupos no processo, os quais devem deixar de ser agentes meramente espectadores, para terem um papel de propositor e executor do seu próprio desenvolvimento. No caso específico da intervenção do Banco do Nordeste, os “agentes de desenvolvimento” são efetivamente os mediadores, os agentes de mudança na escala local. Precisam, portanto, ter uma visão sistêmica da situação, ter um mínimo de percepção das situações sociais, sem cair, porém, no assistencialismo, além de contribuir para o fortalecimento da participação do agricultor no processo.
Referências bibliográficas
ALENCAR, E.; MOURA FILHO, J. A. de. Unidade de produção agrícola e administração rural. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v.14, n.157, p.25-29, 1988.
ALMEIDA, J. A construção social de uma nova agricultura: tecnologia agrícola e movimentos sociais no Sul do Brasil. Porto Alegre: Ed. Universitária/UFRGS, 1999.
ALVES, M. O. Agora o Nordeste vai. Experiência de desenvolvimento local: o caso do município de Tejuçuoca, Ceará. Lavras: UFLA/DAE, 1999. 135p. (Tese de Mestrado).
BRANDÃO. C. R. O ardil da ordem: caminhos e armadilhas da educação popular. Campinas: Papirus, 1986.
CARNEIRO, M. J. Agricultores familiares e pluriatividade: tecnologias e políticas. In: COSTA, L. F. De C.; MOREIRA, R. J.; BRUNO, R. (Orgs.). Mundo rural e tempo presente. MAUAD – Pronex, 1999.
CARRIERI, A. de P. A racionalidade administrativa: os sistemas de produção e o processo de decisão-ação em unidades de produção rural. Lavras-MG: ESAL, 1992. 208p. (Tese de Mestrado).
CHAYANOV, A. V. La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1974. 339p.
EVANGELISTA, F. R. A agricultura familiar no Brasil e no Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste-Leitura Recomendada, 2000.
RIBEIRO, A. E. M. Fazenda Pica Pau, Miradouro, Minas Gerais: estudo sobre a família, o trabalho e a reprodução de agricultores familiares da Zona da Mata de Minas Gerais. Belo Horizonte–MG, 1992. 112p. (Mimeo).
RIBEIRO, A. E. M. Fé, produção e política. São Paulo: Edições Loyola, 1994. 67p.
SABOURIN, E. Ação coletiva e organização dos agricultores no Nordeste semi-árido. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 37, Foz do Iguaçu, 1999. Anais... Foz do Iguaçu: SOBER, 1999.
SCHULTZ, T. W. A transformação da agricultura tradicional. Rio de Janeiro: Zahar. 1965.