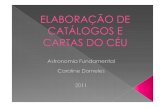Fichamento1 PITKIN 2011_1
-
Upload
daniela-rezende -
Category
Documents
-
view
850 -
download
0
Transcript of Fichamento1 PITKIN 2011_1

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
Disciplina - Inclusão Política e democracia: ativismo, deliberação pública e representação
Profª Cláudia Feres de Faria
Estudante: Daniela L. Rezende
Fichamento: PITKIN, Hanna F. “O conceito de representação”. In: CARDOSO, F.H.; MARTINS, C. E. (orgs.). Política e Sociedade. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1979. A autora inicia o texto resgatando a história da idéia de representação. Inicia afirmando que o conceito não existia em grego e que atividades como a seleção de membros da assembléia ou tribunais por sorteio e a representação artística, relacionada ao teatro, pintura ou escultura não eram tratadas a partir de uma única palavra e não poderiam ser traduzidas pelo conceito moderno de representação. Os romanos, por sua vez, possuíam o verbo repraesentare que, entretanto, referia-se a objetos inanimados, significando manifestar ou apresentar pela segunda vez, fazer um objeto presente ou referir-se à idéia manifesta em algum objeto, a substituição de um objeto por outro ou a aceleração de um acontecimento, trazendo-o para o presente (p.8). É na Idade Média que têm origem o conceito e as instituições modernas de representação. Nesse período, esta se relaciona à encarnação mística, à incorporação ou possibilidade de personificar coletividades, como na idéia de que o papa é o representante de Cristo, ou seja, o próprio Cristo reencarnado. Segundo a autora, “essas idéias uniram-se na noção de que o porta-voz de uma comunidade era sua corporificação, o portador de sua condição de pessoa representativa” (p.9). Com relação às instituições representativas, surgem nesse período os conselhos consultivos convocados por reis e papas, órgãos que atuavam como tribunais aplicando as leis a casos particulares. Os representantes ratificavam a imposição de impostos e informavam as mesmas às comunidades de origem. Sua atuação era vista como um dever. Porém, Pitkin afirma que tais práticas evoluíram: “O consentimento comunal aos impostos ligou-se à doutrina do Direito romano de que todos os grupos que têm algum interesse numa demanda civil têm o direito de participar ou, pelo menos, de estar presente no julgamento.” (p.9) Isso significa que passou a ser considerado que as comunidades tinham direito em participar ou estar presentes nas deliberações, através de seus representantes, que eram pagos pelas comunidades e deveriam prestar contas às mesmas. Assim, os representantes passaram a se considerar membros do Parlamento e assumiram a o papel de porta-voz do reino, em oposição ao rei. Essa idéia de representação ainda se relacionava à encarnação mística do povo pelo Parlamento e não à relação entre “agente e principal”1. Apenas durante a guerra civil inglesa, no século XVII, o conceito de representação se liga à idéia de agir através de um agente, à democracia e às questões de Direito. O Parlamento ganha centralidade e preeminência em relação à coroa e a representação passa a ser vista como um direito. No século XIX esse direito passa a ser institucionalizado, com a criação de instituições representativas, ampliação do sufrágio e mecanismos voltados a “tornar o governo responsável perante os corpos representativos e subordinar as assembléias hereditárias às eleitas.” (p.11). Questões relacionadas ao desenho de distritos e sistemas eleitorais também emergem. A representação passa a ser concebida como a forma moderna da democracia; críticas à representação se relacionariam a questões de desenho institucional e não à representação em si. Pitkin afirma então que apenas recentemente o ideal da representação passa a ser contraposto à democracia direta e à tradição de pensamento, que remonta à Aristóteles, que considera a participação como um valor em si:
“Na medida em que o governo e a política são considerados como um meio, um dispositivo prático para promover os interesses essencialmente isolados e provados e para proteger os direitos individuais dos governados, o principal problema parecer [ser] o de como criar uma máquina de representação realmente eficiente. O problema parece o de como selecionar os representantes certos, ou como controlar os selecionados de modo que eles respondam efetivamente às necessidades e interesses das pessoas. (...) Mas, se o problema é possibilitar a todos uma participação significativa numa vida pública, coletiva, um empreendimento comum e duradouro que perpetue suas realizações e alargue a visão e a percepção de si
1 “Os termos parecem ser utilizados, primeiramente, como uma expressão de - e como uma demanda por - autoridade, poder e prestígio. Que os Lordes fiquem cientes: Os Comuns representam o reino todo. Que o Rei fique ciente: o Parlamento representa o reino. Em nenhum momento durante esse período tais palavras são usadas para expressar a relação de um membro individual dos Comuns com sua base particular, seu dever de obedecer aos desejos daqueles que representa, seu poder de comprometê-los com decisões tomadas, ou qualquer coisa do tipo. Existe, é claro, a idéia de que os membros do Parlamento são delegados ou agentes de suas comunidades, mas ela não é expressa pelo termo ‘representação.’’” (Pitkin, 2006, 27).
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

mesmo, então a resposta é menos clara. Um homem pode muito bem cuidar dos negócios de um outro. Mas algumas atividades somente têm significado se cada homem as realiza por si mesmo.” (p.12)
Pitkin cita então Rousseau, autor que se enquadraria entre os críticos da representação. Para esse autor, a representação seria uma fraude e não poderia estar relacionada à soberania, mas apenas a questões administrativas. Entretanto, a autora argumenta que em tempos atuais a questão da escala coloca entraves à participação direta e questiona: “Será, então, a representação o melhor que podemos esperar, e a participação direta significaria um ideal inatingível e mesmo perigoso? Ou será que novas formas de vida política, que respondam a esses problemas serão delineadas?” (p.12). Segundo ela, é a partir dessas questões que pode se desenvolver o potencial da teoria da representação. Uma avaliação de concepções rivais
Nessa seção a autora introduz algumas concepções sobre representação, iniciando com aquela desenvolvida por T. Hobbes em O Leviatã. Pitkin argumenta que Hobbes pode ser considerado um teórico na representação, na medida em que o conteúdo o contrato que funda o Estado moderno se baseia no estabelecimento de um representante, ou seja, a soberania é estabelecida a partir da delegação de poder ao Estado. Este, como representante, pode agir em nome de seus representados, possui autoridade para fazê-lo e qualquer ação sua é considerada ação dos representados. O contrato que envolve o estabelecimento do soberano pressupõe uma autoridade ilimitada, ou seja, a representação para Hobbes é absoluta e se fixa no momento da autorização (para agir em nome de). No entanto, Pitkin afirma que as críticas a Hobbes enfatizam a ausência da noção de responsabilidade, relacionada à prestação de contas das ações do representante aos representados, com foco no momento final da relação de representação. Ambas, segundo a autora, são concepções formais porque definem a relação de representação em relação ao seu início ou ao seu término, não tratando do que acontece durante a relação ou do processo. Mais uma vez então a autora se refere à Rousseau, como crítico da concepção hobbesiana. Para o primeiro a representação seria tirania, uma vez que a vontade soberana não pode ser representada. Assim, enquanto para Hobbes a representação funda o corpo político, para Rousseau, ela significa sua decadência e o fim da soberania. Pitkin remonta a outras concepções de representação, com especial destaque para a representação descritiva ou especular, que aparece em sua forma mais desenvolvida no conceito de representação proporcional desenvolvido por J. S. Mill:
“Uma legislatura, para ser representativa, deve ser um mapa preciso de toda a nação, um retrato do povo, um eco fiel de suas vozes, um espelho que reflete com exatidão vários segmentos do público. O que qualifica um homem para ser representante é sua representatividade, não o que ele faz, mas o que ele é, como parece ser.” (p.15).
A representação descritiva possui algumas implicações: 1)pode sugerir que a representação é um objeto inanimado, como uma pintura. Nesse caso, a ênfase está na composição correta da legislatura; 2) representar pode criar uma representação e o representante seria “um retratador, um prestador ativo de informações, que representa seus eleitores como se tivesse certos desejos, visões ou interesses.” (p.16); 3) a representação descritiva seria uma espécie de simulação do autogoverno democrático, uma vez que a legislatura, ao replicar a composição da nação, agiria como esta. Outra concepção de representação seria a simbólica, ou seja, tornar o que está ausente presente por meio de símbolos. Segundo a autora, “quando a idéia de representação simbólica é aplicada à política, ela tende a concentrar atenção na atividade dos líderes políticos que criaram carisma, intensificaram a crença, estimularam reações irracionais e afetivas nas pessoas.” (p.17). Esta se basearia, portanto, na criação de apelos irracionais, que fundamentariam a relação de representação. No limite, a representação simbólica se torna a concepção fascista de representação, em que prevalece o poder do representante ou líder sobre os representados, havendo uma inversão: os representados representam a vontade do líder. Pitkin afirma, por fim, que a representação pode ser pensada também como um “modo de agir”, enfatizando assim a “atividade de representar”, embora nenhuma das concepções apresentadas anteriormente trate dessa perspectiva. Essa abordagem permitiria ultrapassar as definições formais, apresentando a substância da atividade do representante e sua conexão com os interesses dos representados. A autora cita E. Burke e J. S. Mill como autores que se referiram a essa questão. O papel do representante
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

A questão apresentada no parágrafo anterior culmina no que Pitkin chama de “controvérsia mandato-independência”, “que pode ser resumida na seguinte escolha dicotômica: deve (precisa) o representante fazer o que os eleitores querem, ou o que ele acha que é melhor?” (p.19). A questão central dessa controvérsia é a relação entre representantes e representados:
“O teórico do mandato dirá que, se o representante fizer persistentemente o contrário do que o que seus eleitores querem ou fariam, não se trata realmente de representação (...) os teóricos da independência protestarão que de maneira alguma se trata de representação, se o representante não é livre para decidir com base em seu próprio julgamento independente, se ele é um mero fantoche de seus eleitores, não assumindo nenhuma ação de fato.” (p.20).
Ambas as concepções trazem contribuições e autora afirma que a opção por uma delas depende de como se compreende os problemas políticos envolvidos: “a natureza do interesse, da prosperidade, da ou das vontades; as capacidades de representantes e representados; a relação entre a nação e suas subdivisões; o papel dos partidos políticos e das eleições; e a própria natureza das questões políticas. Depende em resumo do que pode se chamar de ‘metapolítica’”. (p.21) Passa-se então à apresentação dos argumentos de Burke e Mill, representantes, respectivamente, das posições da independência e do mandato. Segundo Burke, o representante não deve se vincular a interesses particulares ou subjetivos e sim representar o interesse nacional ou o conjunto de interesses estáveis, amplos e objetivos que o formam. Os representantes compõem uma elite política, superior aos representados em experiência e sabedoria e capaz de chegar a soluções racionais para os problemas políticos2. Essas soluções são construídas a partir das deliberações que tomam lugar no Parlamento, ocupado por “sábios homens de Estado”, capazes de administrar eficazmente. Mill, bem como outros “teóricos do mandato”, perceberia uma relativa igualdade entre representantes e representados, numa relação em que os primeiros deveriam representar as escolhas desses últimos, defendendo interesses pessoais ou locais contra a centralização do poder e em oposição à ação governamental. Entretanto, a autora afirma que Mill é “ambivalente com relação às características de representantes e representados”, apresentando ainda tendências elitistas e utilitaristas (os interesses são privados, os votos devem ser contados igualmente). Pitkin ressalta, finalmente, que apesar dessas ambivalências, Mill introduz a idéia de representação descritiva e de que o representante é um agente. NOTA: em 2006 foi publicado um artigo de Pitkin na revista Lua Nova, com o título Representação: palavras, instituições e idéias. Nesse texto, a autora retoma o argumento desenvolvido no texto de 1979, com algumas modificações. Uma delas é a referência à distinçao estabelecida por Burke entre “representação virtual” e “efetiva”. Essa última se refere ao fato de se ter voz na escolha do representante, enquanto a primeira remete a uma comunhão de interesses (e não opiniões) entre representantes e representados. Nesse caso, tal comunhão de interesses pressupõe que o representante transmitirá queixas e demandas dos representados, mas que quanto à determinação das causas e soluções de seus problemas, o representante possui independência para deliberar. A representação aqui não teria, pois, um caráter pessoal ou individual. Essa perspectiva foi introduzida, segundo Pitkin, pelos autores de O Federalista e pelos utilitaristas. Madison, Jay e Hamilton vêem o governo representativo como um substituto da democracia direta, tornando possível a constituição de uma república em sociedades de larga escala. Além disso, as instituições representativas garantiriam a preeminência do bem público sobre os interesses particulares, atuando como uma espécie de filtro desses interesses e, ao mesmo tempo, a escala atuaria positivamente no sentido de multiplicar tais interesses, tornando improvável a dominação de facções. Já os utilitaristas consideram que os interesses são pessoais e subjetivos e que, portanto, cada indivíduo pode defender melhor seu próprio interesse. Assim, a legislatura deve se ocupar de oferecer incentivos e sanções às ações individuais, de forma a haver uma convergência entre interesse individual e bem público. Para tanto, há que se pensar na composição da legislatura eleita e mecanismos institucionais que promovam tal convergência, o que remete aos argumentos de J. S. Mill. A autora repõe o debate entre representação e participação já apresentado no texto de 1979, citando novamente Rousseau. Curiosamente, porém, a saída oferecida no artigo aponta para a participação democrática direta como alternativa real para o dilema mandato-independência, numa referência ao argumento de Hannah Arendt desenvolvida em Da revolução.
2 “A consideração mais importante é que os governantes devem ser virtuosos e sábios, independente da forma como são escolhidos. Mas a única forma de produzir tal liderança, acredita Burke, é o complexo sistema tradicional de formação, educação e desenvolvimento de caráter que ele associa com uma ‘aristocracia natural.’” (Pitkin, 2006, 31).
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.