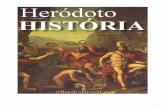Foto: Adriana Zehbrauskas/Folha Imagem · excelente que passou os últimos anos em casa de meus...
Transcript of Foto: Adriana Zehbrauskas/Folha Imagem · excelente que passou os últimos anos em casa de meus...
Emília Viotti da CostaEmília Viotti da CostaPOR SYLVIA BASSETTO
DEVEMOS REVER A IMAGEMQUE TEMOS DE NÓS MESMOSDEVEMOS REVER A IMAGEM
QUE TEMOS DE NÓS MESMOS
O depoimento da professora Emília Viotti da CostaO depoimento da professora Emília Viotti da Costapermite acompanhar sua trajetória intelectual,permite acompanhar sua trajetória intelectual,
fortemente vinculada à percepção da históriafortemente vinculada à percepção da históriabrasileira dos últimos 50 anos. Com perspicácia,brasileira dos últimos 50 anos. Com perspicácia,
sensibilidade, emoção e, às vezes, sutil ironia, nossensibilidade, emoção e, às vezes, sutil ironia, nosfala da sociedade, da política, da cultura e dafala da sociedade, da política, da cultura e da
Universidade. Relembra os bons tempos de projetosUniversidade. Relembra os bons tempos de projetoscoletivos e interlocuções férteis e outros momentoscoletivos e interlocuções férteis e outros momentos
menos felizes, mas sempre esclarecedores.menos felizes, mas sempre esclarecedores.Aposentada pelo AI-5, em 1969, como docente doAposentada pelo AI-5, em 1969, como docente do
Departamento de História, Emília Viotti trabalhaDepartamento de História, Emília Viotti trabalhadesde 1970 nos Estados Unidos. Dilemas, percalços,desde 1970 nos Estados Unidos. Dilemas, percalços,
superações estão no relato dessa experiência,superações estão no relato dessa experiência,sempre marcada pela necessidade visceral de sempre marcada pela necessidade visceral de
olhar para seu país, comparando, analisando,olhar para seu país, comparando, analisando,questionando, estimulando a reflexão.questionando, estimulando a reflexão.
PPesquisadora incansável, autora de obrasesquisadora incansável, autora de obrasfundamentais (fundamentais (Da Senzala à ColôniaDa Senzala à Colônia, ,
Da Monarquia à RepúblicaDa Monarquia à República, , Coroas de GlóriaCoroas de Glória,,Lágrimas de SangueLágrimas de Sangue, dentre outras) Emília nos, dentre outras) Emília nosrevela, acima de tudo, sua paixão pelo ensino,revela, acima de tudo, sua paixão pelo ensino,razão maior de seus trabalhos mais fecundos.razão maior de seus trabalhos mais fecundos.
Uma feliz coincidência permitiu a publicação desteUma feliz coincidência permitiu a publicação destedepoimento na ocasião em que Emília Viotti dadepoimento na ocasião em que Emília Viotti da
Costa recebe o título de Professor Emérito da FFLCH.Costa recebe o título de Professor Emérito da FFLCH.
Nasci às vésperas do grande crash de1929 e vivi desde então num mundoabalado periodicamente por recessõeseconômicas, que lançam muitos ao de-semprego e à miséria. Meu pai, natu-ral de Portugal, veio para o Brasil aos
6 anos, e mais tarde optou pela nacionalidade brasi-leira. Dele ouvi histórias da vida difícil na Beira Altae dos primeiros anos no Brasil. Trabalhava como re-presentante comercial de várias firmas do Norte eNordeste, que vendiam seus produtos em São Paulo.Em matéria de política era udenista. Seu catecismoera o jornal O Estado de S. Paulo, que lia assidua-mente. Interessava-se muito por política e economia.Na Associação Comercial defendia a teoria medievaldo justo preço e condenava os gananciosos. Era umhomem reservado, extraordinariamente metódico edisciplinado. Pouco se envolvia na minha educaçãoque, segundo ele, era coisa de mulher. Quando fi-quei adolescente, levava-me aos comícios políticos.Assim é que assisti a comícios do Brigadeiro Eduar-do Gomes, do Getúlio e do Prestes. Minha mãe ti-nha simpatias ligeiramente anarquistas. Era uma lei-tora voraz que, pouco antes de falecer, aos noventaanos, lia e comentava com argúcia livros sobre osmais variados assuntos, dos Versos Satânicos ao últi-mo livro do antropólogo Darcy Ribeiro. Sua rica bi-blioteca abriu para mim os prazeres da literatura eu-ropéia e americana. Era ela quem me levava aosconcertos e ao teatro. Um dos grandes momentos daminha adolescência foi ouvir Pablo Neruda recitar -seus poemas no estádio do Pacaembu, perante cen-tenas de operários entusiasmados e comovidos.
A família de minha avó materna vivia das glóriasdo passado. Falavam do Conselheiro Brotero, nossoantepassado que casara com uma americana de no-me Dabney e fora durante muito tempo diretor daFaculdade de Direito. Contavam também do meu bi-savô Frederico Abranches, que foi Conselheiro ePresidente de Província. Meu avô era jornalista epoeta. Contava histórias maravilhosas. Era uma fa-mília muito grande, com gente de todas as linhas po-líticas e religiões. Havia militares, padres, freiras,ateus, maçons, anarquistas, conservadores e liberais.Aí aprendi o respeito à opinião alheia e o valor da
democracia. Da família paterna pouco sei. O pai demeu pai nunca conheci. Morreu cedo. A mãe mor-reu de parto. Foi criado pela madrasta, uma mulherexcelente que passou os últimos anos em casa demeus pais e foi, para mim, um exemplo de alegria,bondade e infinita paciência.
Fiz o curso primário na Escola Estadual Caeta-no de Campos - que naquele momento era um pólode excelência - e o secundário, no Mackenzie.Quando saí do secundário abandonei a idéia de serfísica, minha matéria preferida. Um casamento euma gravidez me tinham afastado da vocação ini-cial. O curso de Física exigia tempo integral, de queeu não dispunha. Pensei em fazer ciências sociais,mas abandonei a idéia pois, na época, as oportuni-dades de trabalho para os formados em ciências so-ciais eram muito limitadas, ao passo que o curso deGeografia e História permitia lecionar no ensinosecundário ou no superior.
Entrei para o Departamento de Geografia e His-tória da USP quando esta era bastante jovem. Cria-da nos anos trinta, a USP tinha pouco mais de quin-ze anos. O período dos professores franceses já ha-via passado. Haviam ficado apenas seus discípulos,que, no Departamento de História, com exceção deuns poucos, não faziam jus aos nomes ilustres que oshaviam precedido. Nos anos em que freqüentei oDepartamento como aluna, ainda tivemos algunsprofessores estrangeiros, melhor seria dizer france-ses. A França dominava a cultura. Os cursos dos pro-fessores visitantes ainda eram dados em francês, poisse pressupunha que os alunos estavam aptos a acom-panhar as aulas sem dificuldade. O Departamentode História tinha um número bastante reduzido dealunos e quase todos haviam feito um bom curso se-cundário em escolas públicas ou privadas, o que oscapacitava a entender bem o francês e o inglês.
O currículo do curso era rígido, tanto na seqüên-cia cronológica quanto no número de matérias obri-gatórias em História e Geografia. Havia poucas op-tativas (três em todo o curso). Os geógrafos treina-vam os alunos para fazer pesquisa de campo. Promo-viam excursões e nos ensinavam a ver e explicar apaisagem física e humana. No curso de História nin-guém ensinava os alunos a fazer pesquisa. Tudo o
Junho 1999 RReevviissttaa Adusp
16
N
que aprendemos sobre pesquisa foi por conta pró-pria, lendo as grandes coleções de história, como aClio, e as revistas e livros de bons historiadores.Aprendíamos a pesquisar analisando as obras, nasua maioria de autores franceses e ingleses; algunsalemães eram traduzidos para o espanhol pela Fon-do de Cultura, casa editora que exerceu uma in-fluência marcante em toda a América Latina nesseperíodo. A historiografia americana não era muitoconhecida, com exceção de uns poucos autores quechegavam até nós através de revistas como o Journalof History of Ideas ou a American Historical Review.Apenas na cadeira de História da América tínhamosa oportunidade de contato com historiadores ameri-canos. Da América Latina conhecíamos uns poucos.A orientação era sobretudo francesa. Estudávamos afundo a história da Grécia e Roma no primeiro anodo curso. A história medieval focalizava a França e aInglaterra. Pouco sabíamos do que se passava na Es-panha ou em Portugal, na Idade Média. Na cadeirade História Moderna aprendíamos sobre o renasci-mento italiano, as guerras religiosas, o absolutismo,o despotismo esclarecido e a revolução francesa. Ocurso era dado durante todo o segundo ano. No ter-ceiro ano tínhamos História Contemporânea, quefocalizava principalmente a França e a Inglaterra. AFrança da restauração, Carlos X, a revolução de1848, Luís Napoleão, a Comuna de Paris, e a Ingla-terra da Revolução Industrial ao fim da era vitoria-na, a partilha da África e a ocidentalização da Ásia.O século XX era considerado recente demais paramerecer estudo sério. A Primeira Grande Guerra, arepública de Weimar, fascismo, nazismo, revoluçãorussa, 2ª Guerra Mundial, Roosevelt e o New Dealficavam por nossa conta. No período em que fui alu-na, a história do Brasil era o setor mais fraco. O pro-fessor Alfredo Ellis estava bastante alquebrado e li-mitava-se a dar cursos baseados em seus livros, quena maioria versavam sobre São Paulo.
Foi principalmente na historiografia do grupo dosAnnales, nos livros da coleção Clio, Hachette,Peuples et Civilizations, Que-sais-je? e Oxford queaprendemos história no curso de graduação. Por issopode-se afirmar que todos os que se formaram emhistória naquela época foram autodidatas no que
concerne à pesquisa. O Departamento visava princi-palmente a formar professores, não pesquisadores.Os cursos eram extensivos, não monográficos. Pre-tendiam dar uma visão que fosse ao mesmo tempotemporal e global, embora certas regiões do globoacabassem sendo privilegiadas e outras esquecidas.O que nos salvava do eurocentrismo era o estudo dehistória da América e do Brasil, ao qual se dedica-vam dois anos. Os trabalhos que escrevíamos para ocurso eram, na melhor das hipóteses, reinterpreta-ções da historiografia existente. Só excepcionalmen-te incluíam pesquisa de arquivo ou documentos. Pes-quisa só no curso de pós-graduação.
O meu primeiro trabalho de história na Faculda-de foi um ensaio sobre os etruscos. Passei o primeiroano lendo tudo o que havia sobre etruscos e escrevium resumo da literatura existente. Aprendi muitosobre os etruscos, mas não aprendi nada sobre pes-quisa histórica. E assim foi na maioria dos cursos.No segundo ano eu tive a sorte de ser encarregadapelo professor Eduardo de Oliveira França de fazeralgumas pesquisas na legislação portuguesa existentena Biblioteca Municipal, para o livro que estava es-crevendo. Foi uma experiência fabulosa! Infelizmen-te, oportunidades como essa eram bastante raras.
Foi no segundo ano que comecei a definir a his-tória que me interessava. Tive que dar uma aulasobre a nobreza francesa no século XVIII. Li tudoo que havia na biblioteca, mas nada me satisfez. Oslivros eram áridos, as ti-pologias abstratas: nobrezatogada, nobreza pala-ciana, nada me inte-ressava. O que euqueria saber nãoestava nos livros ameu dispor. Comoviviam as váriasnobrezas, quais seusvalores, suas aspira-ções, seus projetos?Como atuavam politica-mente? Qual o seupapel na socieda-de? Eu tinha
17
Junho 1999RReevviissttaa Adusp
aprendido bem a lição de Lucien Fèbvre: A histó-ria é a ciência do homem, dizia ele. Eu buscavauma história que tivesse um rigor científico, queresultasse de uma pesquisa de fontes primárias,que me desse uma compreensão do processo histó-rico, mas da qual homens e mulheres não estives-sem ausentes: uma história que ajudasse a nos si-tuar no nosso tempo. Muitas vezes eu me pergun-tei por que os livros de Balzac, Tolstói e Dickenspareciam capazes de comunicar um melhor enten-dimento do passado do que a grande maioria doslivros de história. Mas ao mesmo tempo me per-guntava se não lhes faltaria alguma coisa que só oshistoriadores eram capazes de fornecer. Eu alme-java uma síntese que tornasse possível a fusão en-tre a história que se dizia científica e a literatura,entre objetividade e subjetividade, entre a históriaque os homens encontram já feita, e que condicio-na sua formação, e a história que eles mesmosconstroem e que acaba por transformá-los. Umahistória sem barreiras, em que as interconexões en-tre o econômico, o político, o ideológico não seperdessem. Uma história que não fosse meramentedescritiva, que se preocupasse não só com narrarcomo as coisas acontecem, mas também explicar oporquê; uma história que de certa forma fosse umguia para a ação presente, não uma coleção de cu-riosidades. Nunca tive vocação para turista do pas-sado, nem para colecionadora de memórias.
Tais preocupações já estavampresentes em Da Senzala à Co-lônia, meu primeiro livro, e
continuei o aperfeiçoamentodesse projeto nas obras seguintes.O último livro que escrevi - Coroas
de Glória e Lágrimas de San-gue - não é senão a conti-nuação do projeto que meatraiu quando eu era aindauma aluna do Departa-mento de História, prepa-
rando aula sobre a nobrezafrancesa. Afinal de contas, o quese apresenta hoje como novo nãoé assim tão novo. Muitas das ten-
dências que dominam a historiografia hoje origina-ram-se naquela época. Lembro-me de ter lido na-quele tempo um debate entre o escritor inglês Ber-nard Shaw e o historiador Huizinga, sobre qual dosdois estava mais apto para contar a história de Joanad'Arc. Fizeram uma aposta. Ambos escreveram so-bre Joana d'Arc: Shaw uma peça, Huizinga um en-saio. Se bem me recordo, a vitória foi de Huizinga. Aliteratura é uma janela para a história, mas precisada história para explicá-la. Ficção e história são ma-neiras distintas de compreensão da realidade. Issoaprendi no segundo ano de história ao preparar umaaula sobre a nobreza francesa. Recorri ao professorAntonio Candido de Mello e Souza, que me empres-tou livros, indicou romances sobre a nobreza france-sa e recomendou-me que lesse memórias escritas pe-los nobres, o que me permitiu entender melhor co-mo a história do período era vista pelos vários seto-res da nobreza. Aprendi também que além das inter-pretações resultantes das múltiplas subjetividadesdos participantes havia uma outra realidade que asexplicava e que era preciso conhecer. Fazer história,para mim, era ser capaz de captar umas e outras.
Para a minha geração, tanto Antonio Candidoquanto Florestan Fernandes, não obstante suas ten-dências diversas, foram constante fonte de inspira-ção. Fora da Universidade, Caio Prado Júnior, Gil-berto Freire, Otávio Tarquínio de Sousa, cada um àsua maneira, exerceram importante papel. Mas
Junho 1999RReevviissttaa Adusp
18
coube a cada um de nós encontrar seu próprio ca-minho, construir a sua própria síntese histórica.Mais tarde preferi seguir Caio Prado, em vez deacompanhar Gilberto Freire, cuja falta de rigor me-todológico, impressionismo e principalmente con-servadorismo me faziam vê-lo como porta-voz dasoligarquias, criador de mitos românticos e engana-dores que ocultavam profundas desigualdades ra-ciais, econômicas, sociais e de gênero existentes noBrasil. Mas, ao buscar inspiração em Caio Prado e,mais tarde, em autores como Eric Hobsbawn, nun-ca fiz deles um modelo. Sempre procurei evitar asseduções da moda e encontrar uma voz própria. Omarxismo para mim foi um método de investigaçãoa ser usado criticamente e não adotado como dog-ma a ser demonstrado.
A criação da Revista de História pelo professorEurípedes Simões de Paula foi muito importante pa-ra os alunos de História daquela época. Nela encon-tramos um fórum para divulgação de nossas pesqui-sas. Publicávamos um pouco de tudo: ensaios histo-riográficos, resenhas de livros, traduções de artigosde Lucien Febvre e Marc Bloch, relatos de experiên-cias didáticas e pequenos trabalhos de pesquisa, aosquais nos lançávamos por conta própria. Dessa ma-neira, arriscávamos os primeiros passos bem antesde nos lançarmos na execução de uma tese.
A minha primeira experiência como professorade História foi no Mackenzie, onde dei aulas duran-te um ano para o curso colegial. Eu tinha quase amesma idade dos alunos quando comecei a ensinar.Estava ainda cursando a Universidade. Os alunos doMackenzie tinham fama de insubordinados. Dizia-seque haviam forçado um professor a abandonar o en-sino, tal a baderna que aprontaram. Até hoje não seipor quê não tive problema algum de disciplina. Tal-vez a história que havia aprendido na Universidade eque comecei a ensinar fosse muito mais interessantedo que a que os alunos haviam tido antes. O fato éque se interessaram e que a experiência serviu paradespertar em mim o gosto pelo ensino. Um dos me-lhores alunos que tive então foi o Ruy Fausto, quese tornou mais tarde professor de filosofia.
Quando terminei o curso de pós-graduação, fuicom bolsa de estudos do governo francês estudar na
École Pratique des Hautes Études em Paris. Lá meinscrevi num curso com Ernest Labrousse, um socia-lista de renome que ficou conhecido pelos seus estu-dos de preços, noutro com Paul Leulliot e num ter-ceiro com Georges Gurvitch. Lucien Fèbvre às ve-zes aparecia e participava do seminário. Assisti tam-bém algumas aulas de Fernand Braudel, no Collègede France, e aprendi a pesquisar nos Archives Natio-naux, sob a direção de Charles Morazé. Iniciei umtrabalho de pesquisa sobre a nobreza francesa du-rante a restauração que nunca cheguei a publicar.Foi então que realmente aprendi o que Marc Blochchamou de métier d'historien.
A viagem à Europa foi extremamente importantepara minha formação. Encontrei a história viva emcada rua, em cada praça, em cada monumento. Nosmuseus, nas igrejas, nas universidades a história es-tava sempre presente. Para quem vinha do novomundo, onde a história era recente e deixara tãopoucos traços (com exceção, evidentemente, do Pe-ru e do México, onde os vestígios do passado estãosempre presentes), viajar pela Europa valia pormuitos cursos de história. Aprendia-se história semperceber. As visitas ao Louvre e aos demais museusespalhados pela Europa, as viagens à Bélgica, Ho-landa, Dinamarca, Suécia, Espanha, Portugal e Itá-lia conferiram à história que eu aprendera uma"concretude" que jamais tivera. Era como se oseventos do passado se fizessem presentes, tão pre-sentes quanto os pinto-res e os escultores cujasobras eu admirava. Eera essa "concretude"que eu tanto desejavacomunicar nosmeus escritos. Nãohavia nem dez anosque a guerra ter-minara e a violênciados bombardeios e adevastação que a guer-ra causara ainda eram visí-veis por toda parte, alembrar que ohistoriador tinha
19
Junho 1999RReevviissttaa Adusp
uma missão social a cumprir. Como todas as gera-ções que viveram num período de pós-guerra, está-vamos empenhados em evitar os erros do passado,em construir um mundo melhor, mais democrático,com menos preconceitos, mais consciente, mais li-vre. Tínhamos a certeza de estar vivendo uma novaera. No navio de volta ao Brasil ouvi a notícia damorte de Getúlio Vargas. Era o fim do getulismo,início dos novos tempos em que grupos diversos lu-tariam pela definição do que seria o Brasil. No ní-vel pessoal, eu também ia iniciar um período novo.
Quando terminei o curso de Geografia e Históriarecebi dois convites para trabalhar como instrutora:um do Departamento de Geografia e outro do De-partamento de História. A decisão não foi fácil. Masacabei por escolher história. Naquele período o De-partamento não tinha verba para contratação. A úni-ca solução era contratar alguém que já tivesse um lu-gar no Estado e que seria posto à disposição da Uni-versidade. Eu precisava primeiro arranjar um em-prego num colégio estadual. Para isso precisava fa-zer concurso e assumir o cargo de professora secun-dária onde houvesse uma cadeira disponível. Só en-tão seria possível ser requisitada pela Universidade.Assim é que de Paris fui parar em Sertãozinho. Nes-sa época já tinha uma filha pequena e morava commeus pais. Viajava uma vez por semana de trem,quase quatrocentos quilômetros, até próximo a Ser-tãozinho, e tomava o ônibus para lá. Ficava na cida-de dois dias por semana. Durante o dia dava aulas eà noite ficava no único hotel ali existente, onde sehospedavam também os caminhoneiros. Fiquei ape-nas um semestre. O suficiente para tomar gosto peloensino secundário. Organizei um painel na escola,onde expunha os cartões postais que trouxera da Eu-ropa com textos que explicavam o significado deles.Incluía pequenas biografias dos artistas, comentáriossobre arte, textos de poesia e literatura, que serviamde complemento à história. Organizei até uma visitaà Bienal em São Paulo. Os relatórios que os alunosescreveram demonstraram o sucesso da visita. Meutrabalho em Sertãozinho não foi em vão. Os alunosresponderam com entusiasmo. Foi uma experiênciaestimulante e criativa, mas bastante trabalhosa.
Aproveitei o tempo lá para escrever poesia e ava-
liar a documentação existente. Na Prefeitura encon-trei documentos antigos, com descrição detalhadade fazendas na região, jogados num galpão. Prova-velmente desapareceram desde então. Encontreitambém nos livros antigos do tabelião local grandevariedade de informações que permitiam conhecera história da região. Meu primeiro contato com ar-quivos fora em São Paulo, quando ainda era alunado curso de Geografia e História. Pesquisava o po-voamento do Vale da Ribeira. Fui ao local onde es-tava o Arquivo do Estado, alojado temporariamentena Estação da Luz. Lá perguntei ao funcionário on-de estavam os documentos referentes a Pariquera-Açu. Naquela sala, disse ele, com um sorriso mali-cioso apontando-me uma porta. Dirigi-me sofrega-mente para a sala indicada e deparei com um quartoentulhado de documentos do chão ao teto. Nada es-tava catalogado! Como encontrar o que buscava na-quela montoeira? O amável funcionário veio aju-dar-me. Conhecia o arquivo a fundo e em poucotempo extraiu daquele labirinto os documentos de-sejados. Mais tarde vim a saber que se tratava deAntônio Paulino de Sousa, respeitado funcionáriodo Arquivo. Os que hoje freqüentam o Arquivo doEstado não têm idéia das dificuldades que enfrenta-mos quando iniciamos nossas pesquisas. Mais tardeo Arquivo mudou-se para a Rua Antônia de Quei-rós e muitos dos alunos que fizeram o curso de In-trodução aos Estudos Históricos na Universidade deSão Paulo, sob a minha direção, foram pela primei-ra vez pesquisar no Arquivo, que já estava muitomais bem alojado e organizado.
Fiquei pouco tempo em Sertãozinho. No concursode remoção do ano seguinte, transferi minha cadeirapara o Colégio Estadual em Jundiaí. A experiênciaem Jundiaí foi ainda mais gratificante. Embora os sa-lários fossem parcos, mas não tão ruins quanto hoje,o ambiente de trabalho era ótimo. Um bando de pro-fessores jovens, idealistas e bem intencionados, bemtreinados e devotados ao magistério. Nos intervalosdas aulas escrevíamos poemas e trocávamos expe-riências. O ambiente era cordial e divertido. Mas du-rou pouco porque transferi minha cadeira novamentepara o Colégio de Aplicação da USP. Nessa época le-cionava também na USP, onde estava encarregada de
Junho 1999 RReevviissttaa Adusp
20
cursos de História Moderna e Contemporânea, etambém dava cursos na Faculdade de Sorocaba.
No país de Juscelino Kubitschek o clima era depopulismo "desenvolvimentista" e a retórica era "na-cionalista". A construção de Brasília provocava críti-cas e acusações de corrupção. Os acordos interna-cionais também. Havia crescente mobilização popu-lar, sinais de inflação, receios e tensões que eclodi-riam no governo Jânio Quadros. A revolução cuba-na parecia anunciar novos caminhos. Essa intensaefervescência política e cultural ecoava na Universi-dade. Mesmo os mais indiferentes eram chamados aparticipar. Se o governo de Juscelino fora agitado, ode Quadros foi ainda mais tumultuado. Incerto so-bre os rumos a tomar, num dia condecorava Gueva-ra e no outro, tomava medidas de direita. Jânio aca-bou renunciando e causando a crise política mais sé-ria desde a morte de Vargas. Mais uma vez as "for-ças ocultas" a que Vargas se referira na carta-testa-mento, e que pelo visto até hoje governam o Brasil,foram responsabilizadas. Corriam boatos de que ovice-presidente, João Goulart, não tomaria posse.Este encontrava-se em visita à China. E de fato, nãofosse seu cunhado, Brizola, então governador doRio Grande do Sul, que contou com o apoio do co-mandante do Terceiro Exército ali sediado, Jangonão teria tomado posse. Assumiu, a despeito daoposição de amplos setores de elite e do exército
que desconfiavam de suas tendências populistas e"esquerdistas". As elites brasileiras e as forças arma-das viviam num clima de paranóia, que se iniciaranos Estados Unidos com o macartismo e se agravaradepois de Castro ter definido os rumos socialistasda revolução. Começou então um período de radi-calização e politização na América Latina, ao qual aUniversidade de São Paulo não estava imune. Nessaépoca, eu deixava o ensino secundário. Fora nomea-da finalmente para um cargo na Universidade, juntoà cadeira de História Moderna e Contemporânea, ecomecei a escrever a minha tese.
Passado um ano e meio pedi a minha demissão.O incidente que levou a essa decisão teve a ver como nascimento de uma segunda filha. Quando anun-ciei que precisaria um ajustamento do horário paraamamentar, o professor Oliveira França me fez umdiscurso dizendo que se eu pretendia ter filhos nun-ca seria uma intelectual. Furiosa, disse a ele que, sepretendia cercear minha vida pessoal, eu preferiame demitir. Foi o que fiz. No dia seguinte apresen-tei a demissão do cargo que tanto almejara. Come-cei então a dar aulas num curso de Introdução aosEstudos Históricos recém-criado no Departamentoe recebi, depois de algum tempo, minha indicaçãopara a nova posição. Encerrara um capítulo impor-tante de minha vida para começar um novo.
O país também entrava numa nova era. Nessa
21
Junho 1999RReevviissttaa Adusp
época iríamos descobrir a América Latina. Os even-tos desse período marcaram profundamente o meutrabalho. Vivíamos um momento de reformas. Porisso resolvi estudar um período histórico semelhan-te: a transição do trabalho escravo para o trabalho li-vre. Eu queria entender como fora possível aboliruma instituição tão arraigada em nossa cultura, semprovocar uma profunda convulsão social.
Desde meus 18 anos aproveitava as férias paraviajar pelo Brasil e pela América espanhola. Só vol-tei à Europa quase 20 anos depois da minha primei-ra visita. Preferi conhecer a América. Ao mesmotempo, devorei livros de história, romances, livros depoesia, peças de teatro. Conheci outros povos, ou-tras culturas. Adquiri a consciência de que os paísesda América Latina, se bem que profundamente di-versos, tinham uma história comum que precisáva-mos conhecer melhor. Dei-me conta de quão seme-lhante era nossa forma de inserção no mercado in-ternacional, o quanto as elites latino-americanas ti-nham os olhos voltados para a Europa e ignoravamo povo, sua cultura e tradição. Viajei de São Paulo aCuiabá, ainda quando era estudante de Geografia,numa época em que o interior do Brasil ofereciamuitas surpresas. Andei por estradas recém-cons-truídas onde se viam emas e siriemas, dormi em gal-pões infestados de morcegos. Subi o Rio Amazonasnum navio do Lloyd Brasileiro, que foi de Santos atéManaus, parando em todos os portos. Para mim foi adescoberta do Brasil, de sua riqueza, de sua pobreza,de seu povo sofrido, dos mocambos de Recife, dospescadores da Lagoa do Abaeté, das palafitas doAmazonas. A resistência e a miséria do povo eramcomoventes. Essas imagens vieram à mente, anosmais tarde, quando viajei pelo interior do Peru e daBolívia. Por toda parte encontrei pobreza e admireia dignidade do povo. Em toda parte, presenciei umaluta surda contra a exploração. Em Cuzco, pasmeidiante da desconfiança e da inocência dos índios pe-ruanos, a lembrar os retirantes das secas que via naminha infância na Rua São Luís, a pedir esmolas:mulheres rodeadas de crianças, recém-chegadas doNordeste. A realidade, tal como eu a via, reverbera-va na obra de um Pablo Neruda, de um Siqueiros, deum Portinari, de um Villa-Lobos, de um Ciro Ale-
gria, de um Jorge Amado, de um Graciliano Ramos,de um Celso Furtado. Os autores confirmavam asprimeiras impressões. Assim se forjava nossa cultura,nossa identidade, nossa economia, um projeto para oBrasil. A luta contra o subdesenvolvimento, contra adependência, a criação de um mercado interno, deuma sociedade mais igualitária, mais justa, era essenosso projeto. Escritores, pintores e poetas, todospareciam falar a mesma língua. Em todos a mesmamensagem de denúncia e de esperança. A luta pelodesenvolvimento para pôr fim à miséria que ator-mentava a tantos. A certeza de que o esforço coleti-vo nos emanciparia de uma elite desumana e ganan-ciosa, que parecia cuidar apenas de seus interesses.Imaginávamos que em seu lugar teríamos uma socie-dade mais justa e um governo a serviço do povo. Atéa Igreja parecia ter mudado sob a direção de JoãoXXIII. A teologia de libertação clamava por cons-cientização e justiça social. O trabalho do intelectualestava bem definido para minha geração. Nossasconvicções comunicavam energia e entusiasmo. Con-feriam significado a nosso trabalho, a certeza de fa-zer parte de um processo coletivo. Descobrir as raí-zes de nossa história, expor os mitos que nos aprisio-navam, que nos impediam de criar uma sociedaderealmente democrática, compreender e explicar a di-nâmica da história: era essa a nossa função.
Deixei o secundário num momento bastante críti-co que prenunciava os trágicos eventos que estavampor vir. O Colégio de Aplicação foi invadido pela po-lícia a chamado do seu diretor, que discordou deuma manifestação dos alunos. Para mim, essa inter-venção parecia um contra-senso. O diretor dizia-seliberal. Mas quando os alunos quiseram expressarsuas reivindicações encontraram pela frente a polí-cia. O Colégio fora organizado segundo os preceitosde John Dewey, filósofo americano, predileto doprofessor de didática da USP. Era um colégio-mode-lo, cujo objetivo era treinar professores para desen-volver a observação e o espírito crítico dos jovens,qualidades consideradas essenciais para a democra-cia num mundo em mudança. Criar cidadãos críticose éticos, esse era o objetivo. A atitude tomada pelodiretor, chamando a polícia para reprimir os alunos,anunciava maus tempos para uma escola que come-
Junho 1999 RReevviissttaa Adusp
22
çara alguns anos antes de ma-neira tão auspicio-sa. Os anos que seseguiram iriam de-monstrar que haviamuitos no Brasil quese diziam defensoresda constituição, da de-mocracia e da liberdade,mas não titubeavam emcriar qualquer pretexto parasilenciar os que queriam pôr em prática a democra-cia que nunca existira neste país.
Embora breve, a passagem pelo ensino secundá-rio foi muito valiosa para mim. Não só aprendi a im-portância da linguagem clara sem rebuços, mas tam-bém a necessidade de ensinar uma história que res-pondesse aos interesses dos alunos, uma história quefosse relevante. Foi a necessidade de tornar minhaaula interessante e significativa que me levou a es-crever um dos primeiros trabalhos que publiquei: umestudo sobre os degredados. Eu tinha percorrido to-dos os livros de história em busca de informações so-bre os tipos de crimes que resultavam em degredopara o Brasil. Mas não encontrara nenhuma infor-mação concreta. Todos falavam em degredados, masnão mencionavam o tipo de crime que esses teriamcometido. A falta de dados me levou a pesquisar alegislação portuguesa e daí resultou um ensaio. Oensino levara à pesquisa. Desde então a experiênciarepetiu-se muitas vezes. A ponto de eu acreditar queo ensino era essencial à minha pesquisa. As boasidéias pareciam sempre surgir numa sala de aula. Aspesquisas nasciam de problemas associados ao ensi-no. Por isso quando aposentada pelo AI-5, em 1969,fui ensinar nos Estados Unidos. A idéia de abando-nar o ensino me era assustadora.
O período que se iniciou quando consegui aban-donar o ensino secundário para me dedicar exclusi-vamente à Universidade até a minha aposentadoriaem 1969 foi provavelmente o mais fecundo de toda aminha vida. A Faculdade estava ainda na Maria An-tônia e lá permaneceu por mais alguns anos até queo Departamento de História se transferisse para aCidade Universitária. Foi ainda na Maria Antônia
que fiz o concurso de Livre-Docência com a tese Es-cravidão nas Áreas Cafeeiras (1964), publicada em1966 pela Difusão Européia do Livro sob o título DaSenzala à Colônia em 1966, atualmente na 4ª edição.Dediquei esse livro a Antônia, que fora empregadana casa de minha mãe por muitos anos e mantiveracontato conosco até morrer, e ao Zé Carnaúba, umalagoano que trabalhou alguns anos em minha casa.Eles representavam o povo brasileiro no que tem demelhor. A partir daí, publiquei vários trabalhos, al-guns dos quais posteriormente reunidos em Da Mo-narquia à República, que terá em breve sua 7ª ediçãopela Unesp, e o livrinho A Abolição, publicado pelaeditora Global, também na 6ª edição. Participei dasprimeiras reuniões da ANPUH.
Com o tempo, passei a trabalhar exclusivamentena Introdução aos Estudos Históricos, que estava en-tregue a professores visitantes. Aí trabalhei com JeanGlénisson, que acaboupublicando o livro Introdu-ção aos Estudos Históri-cos, no qual escrevi umcapítulo sobre as ten-dências da histo-riografia no Con-gresso Internacionalde História de1955. Com Yves Ber-nard Bruand, dei cur-sos de historiografia ede metodologia da história.Como os alunos ti-nham dificuldadede obter livros, fiz
23
Junho 1999RReevviissttaa Adusp
com o auxílio de Sylvia Bassetto uma coleção de tex-tos sobre metodologia histórica, para ser distribuídano curso. Quando saí da Universidade em 1969, dei-xei os cursos de Metodologia da História e de Teoriada História organizados. Um grande número de pro-fessores que ficaram na USP quando eu saí haviam si-do meus alunos: Fernando Novais, Carlos GuilhermeMota, Maria de Lourdes Janotti, Maria Luiza Marci-lio, Ana Maria Camargo, Adalberto Marson, IstvanJancsó, Sylvia Bassetto, Suely Robles Reis de Quei-roz, Arnaldo Daraya Contier, Raquel Glezer, CirceMaria Fernandes, hoje na Faculdade de Educação,Boris Fausto, José Sebastião Witter, Jobson de An-drade Arruda, Heloísa Bellotto, Lucy Maffei e muitosoutros. Eu me orgulho de juntamente com colegas doDepartamento de História ter dado minha contribui-ção para a formação de um grupo tão significativo.
O período 1964-1969 foi de tensão crescente e re-pressão, na Universidade e fora dela. Na USP, pro-fessores como João Cruz Costa e Florestan Fernan-des foram perseguidos já em 1964. Ao professorCruz Costa obrigaram a cantar o hino nacional intei-rinho. Depois foi aposentado. Florestan também foiforçado a abandonar a Universidade, que tanto ama-ra. Nos anos seguintes, novos IPMs, novas aposenta-dorias, não só na USP mas em universidades de todoo país. Editores como Ênio Silveira foram persegui-dos por publicarem literatura "subversiva". O histo-riador Caio Prado foi preso. Até a Igreja foi alvo deperseguições. Padres, juízes e políticos foram afasta-dos: Mauro Borges, Arraes, Brizola. Nem mesmopolíticos que tinham apoiado a revolução escaparamà sanha repressora. Ademar de Barros foi cassado eseus direitos políticos suspensos por dez anos. Jusce-lino Kubitschek também. Na Universidade havia es-piões da polícia, do exército e da aeronáutica por to-da a parte. A repressão foi num crescendo.
Em 1968 fui convidada pelo professor EurípedesSimões de Paula, então diretor da Faculdade de Filo-sofia, a dar a aula inaugural da Faculdade. Ao livre-do-cente mais novo cabia, como praxe, essa responsabili-dade. Procurei um tema que pudesse interessar a umpúblico que incluía o pessoal da química, física, ciên-cias biológicas, matemática, filosofia, ciências sociais,história, letras, enfim, pessoas com interesses bastante
diversos. Decidi falar sobre a Reforma Universitáriaque o governo estava propondo, o famoso Mec-Usaid,que estava na ordem do dia. Fiz uma história da Uni-versidade e seus problemas e falei da necessidade dereformas, analisei o projeto do governo, criticando oque considerava seus pontos negativos: o atrelamentoda Universidade ao setor empresarial, intervençãodeste no setor de pesquisa e ensino, a redução daeducação ao preparo da mão-de-obra, o desapareci-mento da orientação humanista e a sua substituiçãopor uma orientação exclusivamente tecnológica. Era asubordinação da Universidade aos interesses do mer-cado. Nas muitas mudanças de casa que fiz desde en-tão, o texto dessa conferência se perdeu. Para mim ho-je é difícil reconstituí-lo nos seus detalhes e ainda meespanto da repercussão que teve. O texto foi publicadona revista do grêmio da Faculdade de Filosofia e re-produzido por todo o país, como mais tarde vim a sa-ber. Fui convidada a repeti-la em mais de quarentauniversidades e acabei sendo chamada para um pro-grama de televisão com o então Ministro da Educa-ção, Tarso Dutra, juntamente com o representante dosalunos, José Dirceu, hoje na liderança do PT. Fiz mi-nhas críticas ao projeto do governo e a horas tantas di-vergi da idéia de que a Universidade deveria ser paga.Argumentei que o poder aquisitivo da população nãopermitia a um grande número de alunos pagar seus es-tudos. Bolsas de estudo retirariam a sua liberdade eautonomia. Na minha opinião cabia ao Estado forne-cer educação gratuita (pensava nos meus alunos docurso noturno que trabalhavam o dia todo e estuda-vam das sete e meia às onze e meia da noite, alunosque certamente ficariam impedidos de freqüentar aUniversidade caso essa recomendação vigorasse). Na-quela ocasião, aliás, nós, professores da USP, organiza-mos em vinte e quatro horas uma petição com qui-nhentas assinaturas à Câmara e Senado contra a apro-vação desse dispositivo. O Ministro concordou. Disseque ele também não era a favor do ensino pago. Per-guntei a ele como então assinara o Projeto Mec-Usaid.Ele negou que houvesse no projeto algum item a esserespeito. Retirando da bolsa o projeto, li a passagemque se referia ao pagamento da Universidade. Apesarde ter sido cumprimentada pelo Ministro, que me deuum cartão seu dizendo que o procurasse quando qui-
Junho 1999 RReevviissttaa Adusp
24
sesse, sempre desconfiei de que foi esse episódio quelevou à minha aposentadoria. Era o preço que deveriapagar por tê-lo envergonhado em público.
O ano de 1968 foi certamente o mais agitado. Amobilização estudantil paralisava a Universidade. Achamada revolução de 64 tinha inicialmente persegui-do os seus mais óbvios inimigos, mas aos poucos o sis-tema repressivo passara a criar outras vítimas. Prisões,desaparecimentos, fugas, exílios tornaram-se comuns.Alunos eram arrancados da sala de aula por soldadosarmados de metralhadora. Professores eram detidos,sem saber por quê. Enquanto uns eram perseguidospor suas convicções, se bem que a constituição até en-tão vigente garantisse liberdade de expressão, outrosse aproveitaram da situação para denunciar desafetosou para tomar o lugar dos que eram aposentados. Lu-gares que não haviam conseguido por mérito e queentão conquistavam pela adesão. Houve os que pro-curavam ajudar seus colegas visados pela repressão,manifestando-lhes apoio e protestando publicamentecontra suas prisões. Todos aqueles que expressavamqualquer reserva com relação ao golpe de 64 eramsuspeitos aos olhos dos donos do poder. A lei de segu-rança tornou crime a referência à luta de classes e amenção a conflitos raciais. Raça e classe foram, assim,banidos do vocabulário por ato do governo!
Como sempre acontece em momentos de grandetensão política como aquele, as posições radicaliza-ram-se. O centro dividiu-se: uns foram para a es-querda, outros para a direita. A situação piorou com
o começo da guerrilha. Os donos dopoder finalmente encontravam uma
justificativa: estavam em guerra, umaguerra à qual não se aplicavam os códigos
éticos internacionais. A tortura erausada contra os prisioneiros.Alguns morreram nas pri-sões. Outros simplesmente
desapareceram. O terrortinha chegado ao auge.Para os que tinham esca-
pado ao nazismo e fascis-mo na Europa o cenário erafamiliar. Para os que tinham
sido vítimas da repressão deGetúlio Vargas, a história parecia estar se repetindo.Dentro de alguns anos, dizia-me Sérgio Buarque deHolanda, profeticamente, todos os aposentados se-rão chamados de volta, e estarão reintegrados nosseus cargos. De fato, isso aconteceria anos mais tar-de, com a anistia.
Resolvi aceitar convite para dar um curso de His-tória na Universidade de Tulane em New Orleans. Aprimeira vez em que fui aos Estados Unidos foi em1970. Michael Hall, que lecionava em Tulane naque-la época, e depois passaria a viver no Brasil, estavade licença e indicou o meu nome para substituí-lo.Começava então uma nova etapa em minha vida.Não só teria de dominar bem uma nova língua, co-mo teria de aprender aensinar para um público in-teiramente novo a his-tória da América Lati-na que, àquela altura,era para mim umahistória pouco co-nhecida. Além detudo, teria de meseparar de minha fa-mília por vários meses.Foi um grande desafio.Felizmente, encontrei emTulane um grupo dehistoriadores solí-citos e gentis que
25
Junho 1999RReevviissttaa Adusp
amenizaram a minha estada. A Biblioteca parecia-me a ante-sala do paraíso. Ali passei longas horasescrevendo as minhas aulas. Às vezes precisava co-piar passagens inteiras dos livros porque não sabiacomo dizer as mesmas coisas de outra maneira. Du-rante o tempo que passei em Tulane escrevi uma mé-dia de noventa páginas por semana. O esforço foi re-compensado. Apesar de amargar constantementeum sentimento de inferioridade, uma sensação deestar falando com um vocabulário restrito mais con-dizente com o de uma criança de dez anos, os alunosrelevaram as minhas falhas e manifestaram seu apre-ço pelo curso. Desde logo senti as diferenças entreos meus alunos brasileiros e os americanos. Se osalunos americanos, em geral, estudavam mais, falta-va-lhes uma visão da história universal que me ser-visse de ponto de referência para ensinar a históriado Brasil. Muitos não tinham a menor noção do feu-dalismo, outros desconheciam a contra-reforma. Ha-via até quem não tivesse idéia da Revolução Indus-trial e nem mesmo da Revolução Francesa. Como fa-zê-los entender a especificidade da história do Bra-sil, sem esse quadro de referências?
Em Tulane assisti a um encontro dos Black Pan-thers. O auditório estava repleto de negros. Algunsagentes do FBI vestidos de azul-marinho, camisabranca e sapato preto andavam aos pares entre o pú-blico. O conferencista foi o líder negro Dick Gre-
gory. Nunca assistira a um espetá-culo como aquele. Também maisou menos na mesma ocasião houveuma reunião de cineastas em Tula-
ne e encontrei-me com Costa Gra-vas. Contei-lhe o que se pas-
sava no Brasil e sugeri quefizesse um filme sobre oassunto. Dê-me um script
que eu farei o filme, disse.Nunca mais o vi, mas anosdepois assisti com emoção ao
filme Missing, que relatava epi-sódios que aconteceram no Chi-
le por ocasião do golpe militar quedepôs o Presidente Allende.Voltei ao Brasil em abril de 1971. A
situação política piorara. Resolvi aceitar um convitedo professor Joseph Love para lecionar de novo nosEstados Unidos, na Universidade de Urbana-Cham-paign por um semestre. Acabei lecionando tambémno verão e me candidatei a uma posição de lecturerno Smith College, em Massachussets, para onde fuiem setembro de 1972. No ano seguinte fui para Ya-le, onde estou até hoje.
O meu primeiro contato com Yale foi surpreen-dente. Eu era, na ocasião, a única mulher no Depar-tamento de História. Uma vez por semana os profes-sores do departamento reuniam-se para o almoço.Servia-se um cherry antes da refeição. Tudo muitoelegante, mas quando eu me aproximava de um gru-po de homens que conversavam animadamente todosse calavam. Vencendo o embaraço, um colega polida-mente me perguntava: e como vão seus filhos, comoestão as coisas em Buenos Aires? Esse era o fim daconversa. Com exceção desse almoço semanal, no de-partamento ninguém conversava com ninguém. Asportas dos escritórios estavam sempre fechadas. Euestranhava o isolamento e a falta de comunicação en-tre as pessoas. A ausência de interesse político espan-tava-me ainda mais. Coisas importantes ocorriam nopaís e no mundo e no dia seguinte ninguém comenta-va. Watergate, o impeachment do presidente Nixon, aeleição de Jimmy Carter, o resgate dos norte-ameri-canos presos no Irã, a invasão de Granada pelas tro-
Junho 1999 RReevviissttaa Adusp
26
pas americanas, o bombardeio da Líbia, a revoluçãoda Nicarágua, as denúncias de participação da CIAna queda de Allende, todos esses fatos e muitos ou-tros se sucederam sem que provocassem comentáriosno meu departamento. Até os dias de eleição no paíseram dias normais. Todos estavam voltados para oseu próprio trabalho. Acabei me acostumando. Hojeo departamento mudou em vários aspectos. Se bemque sejam ainda uma minoria, há mais mulheres nocorpo docente. Há maior comunicação entre as pes-soas. Conversa-se mais. Mas ainda se evitam assuntoscontrovertidos que possam ameaçar o consenso. Apolítica continua tema proscrito.
Em Yale trabalhava-se muito, no setor de Améri-ca Latina, que durante anos contava apenas com umprofessor e um assistente. Eu dava dois cursos de gra-duação e dois de pós-graduação por ano. Os cursosde graduação consistiam de um survey sobre a histó-ria da América Latina, colonial e contemporânea, eum seminário sobre o tema que eu quisesse, relativoao meu campo de especialização. Os cursos de pós-graduação não podiam ser repetidos, porque o cursodurava dois anos e os mesmos alunos que assistiramàs minhas aulas em um ano voltariam a assistir nopróximo. Por isso tinha de preparar vários cursos.Além dos cursos, ficava encarregada de orientar dezsenior essays escritos pelos alunos de graduação, so-bre qualquer tópico que desejassem sobre a AméricaLatina. Dessa forma eu poderia orientar um trabalhosobre a política colonial no Peru, outro sobre as mi-nas de cobre no Chile, um terceiro sobre o governoArbenz na Guatemala e assim por diante. Procureivárias vezes mudar esse sistema. Como era possívelalguém orientar eficientemente trabalhos que co-briam um período que abrangia quase quatrocentosanos de história em mais de vinte países? Mas nãoconsegui alterar o sistema que até hoje é o mesmo.Somavam-se a essas atividades a orientação de tesesde doutoramento e a participação em exames de qua-lificação para doutoramento, que todos os candidatosdeveriam fazer ao fim do curso. Devia também com-parecer a reuniões do Departamento de História edo Latin American Studies, fazer relatórios anuais,aprovar projetos de pesquisa e distribuir bolsas. Asatividades eram muito intensas e a elas se somavam
as obrigações de fazer pesquisas, publicar, dar confe-rências em outras universidades e comparecer a con-gressos. De todas as atividades a que consumia maistempo eram as cartas de recomendação. Nada se fazsem uma carta de recomendação. Nos últimos anosestava escrevendo uma média de sessenta a oitentacartas por semestre, não só para os alunos, mas tam-bém para colegas que eram candidatos a bolsas, pro-moções ou novos empregos. A minha frustração au-mentava. Sentia-me uma burocrata. Não tinha maistempo para ler nada fora do meu campo específico.Não tinha tempo sequer de usufruir da biblioteca,das muitas conferências, concertos e exposições queacontecem no campus. Por isso resolvi me aposentar.
Os alunos de Yale estavam mais interessados naAmérica espanhola do que no Brasil. Portanto, sebem que continuasse dando alguns cursos de histó-ria do Brasil, passei a focalizar mais a América es-panhola, o que contribuiu para ver o Brasil com ou-tros olhos. Também me dediquei mais à históriacomparada. Por exemplo, dei cursos sobre a escravi-dão no Brasil e no Caribe, o mercado comum naAmérica Central, o populismo e o movimento ope-rário em várias regiões da América. Na graduaçãodei um curso sobre o radicalismo na América Lati-na, no qual analisei as mudanças econômicas e so-ciais que tiveram lugar no século 20 e que deramorigem a movimentos radicais no Uruguai, Argenti-na, Chile, Peru, Venezuela, Brasil, Guatemala, SanSalvador e Nicarágua.Esse foi um dos cursos pre-feridos pelos alunos.
O mais difícil dessatransição para os Es-tados Unidos foiescrever meus li-vros e artigos em in-glês para um pú-blico norte-america-no pouco familiariza-do com o Brasil e de-pois traduzi-los para o por-tuguês. Língua é pro-tocolo, e as eti-quetas verbais
27
Junho 1999RReevviissttaa Adusp
não são as mesmas no mundo saxão e no nosso. Oque no Brasil se considera boa retórica freqüente-mente é considerado uma linguagem abstrata, im-precisa, desorganizada ou verbosa nos Estados Uni-dos, e o estilo que agrada lá freqüentemente nãoagrada aqui.
Publiquei dois livros e vários artigos ou capítulosde obras coletivas em inglês. O primeiro livro foi TheBrazilian Empire Myths and Histories, uma coletâneade ensaios, alguns dos quais foram reunidos e publi-cados no Brasil sob o título Da Monarquia à Repúbli-ca. Mais recentemente, publiquei Crowns of Glory,Tears of Blood, que foi traduzido para o português epublicado pela Companhia das Letras no ano passa-do. Publiquei ainda vários ensaios em inglês, algunsdos quais foram traduzidos para o português.
O que ganhei? Ampliei e enriqueci minha visãoda história, sem entretanto abandonar o rumo queescolhera quando ainda estava no Brasil. Nos Esta-dos Unidos, com algumas exceções, a maioria doshistoriadores e alunos segue o método empírico.Nos grupos radicais há uma preocupação quase ob-sessiva com o politicamente correto. Mas as pessoasem geral se organizam em grupos que raramenteagem juntos. Há os grupos latinos, e estes se dividementre porto-riquenhos e chicanos e os outros. Há ogrupo negro, dividido em várias alas, há as feminis-tas e os homossexuais. Cada grupo promove a suapolítica. Só excepcionalmente eles atuam coletiva-mente. Isso os enfraquece. As demonstrações nocampus não dizem respeito à política nacional, mas aproblemas locais. Os tempos do Vietnã, quando oscampi foram varridos por protestos passaram. Tam-bém os Black Panthers que eu vira em Tulane em1970 tinham sido silenciados. Os campi se despoliti-zaram. A única vez que assisti a manifestações políti-cas promovidas por estudantes foi quando os alunosexigiram que Yale deixasse de investir em empresasnorte-americanas que operavam na África do Sul.Houve mais recentemente manifestações de solida-riedade aos funcionários que se organizaram paradefender suas posições e seus salários. Recentemen-te, os alunos de pós-graduação de todos departa-mentos da Universidade de Yale se organizaram pa-ra melhorar suas condições de trabalho.
É preciso lembrar, no entanto, que qualquer ob-servação que se faça sobre uma universidade norte-americana não dá conta da complexidade e varieda-de do meio acadêmico. O que é verdadeiro em umdepartamento não é verdadeiro em outro, e o pro-fessor de história grega, que quando muito formoumeia dúzia de doutores, descreverá uma situaçãobem distinta do que aquele que formou dezenas nomesmo período. O sistema é diversificado, tão varia-do quanto o imenso número de universidades públi-cas ou privadas que existem no país.
Os salários dos professores variam muito nas uni-versidades particulares. Na mesma universidade umfull professor de História poderá estar ganhando100.000 dólares anuais e outro, quase a metade. Adiferença ainda é maior entre as universidades deprimeira, segunda e terceira categorias. Nestas últi-mas não só se ganha menos, como se dá mais cursose se tem muito menos tempo para a pesquisa. Em to-das as universidades privadas, os salários são decidi-dos pelo chefe de departamento e em última instân-cia pela administração. A decisão teoricamente de-veria se basear na produtividade dos indivíduos, masacaba protegendo os amigos.
Na universidade paga-se tudo, até para estacionaro carro. Os descontos são muitos: social security, apo-sentadoria, imposto estadual, que no Estado de Con-necticut é de 6%, federal, que vai a 30%, e estaciona-mento, que para um professor custa aproximadamen-te mil e duzentos dólares por ano. O que se recebe aofim de tantos descontos corresponde à metade do sa-lário bruto. Depois há outros impostos a pagar. O im-posto sobre o carro, sobre as coisas que se compram,sobre a casa em que se mora. O que sobra é pouco.
Todos fazem economia o tempo todo. A universi-dade, o departamento, os professores, os alunos.Não se compram novos equipamentos enquanto osvelhos estão funcionando, mesmo que não sejam aúltima palavra. Anos atrás, um professor da Univer-sidade de São Paulo levou um material sofisticadopara ilustrar sua preleção, preparado na USP, para oqual não se encontrou um projetor num raio de cin-qüenta milhas, numa região que reúne um grandenúmero de universidades de renome. Esse fato reve-la o quanto os critérios são diferentes aqui e lá.
Junho 1999 RReevviissttaa Adusp
28
Quando o professor se aposenta, o salário que re-cebe corresponde ao número de anos que trabalhoue a forma de investimento que escolheu para suaseconomias, portanto, depende das condições domercado. Os cálculos são feitos na base da expectati-va de vida. Há uma certa humilhação quando um bu-rocrata responsável por estabelecer a aposentadoriapergunta: quantos anos você pensa que vai viver?Não há limite de idade para a aposentadoria. Qual-quer um pode aposentar-se quando quiser. Por outrolado, o indivíduo pode continuar trabalhando en-quanto a sociedade que ele serve o considera apto.Mas a carga de trabalho é tão pesada que a maioriados professores se aposenta entre os 65 e 75 anos.Enquanto o indivíduo trabalha, a universidade pagauma parcela da aposentadoria e a outra parcela épaga por ele. O professor tem também seguro-saúdeenquanto trabalhar e, depois de aposentado, o segu-ro será pago proporcionalmente ao tempo de servi-ço. Em Yale, para receber seguro total, é preciso tertrabalhado no mínimo trinta e cinco anos. Mas háuniversidades que deixam de pagar o seguro-saúdequando a pessoa se aposenta. Como o salário não sealtera a partir do momento em que a pessoa se apo-senta, ele fica à mercê da inflação que, acumuladadurante anos, pode causar uma enorme redução dosalário, a não ser que o indivíduo seja bem-sucedidonos seus investimentos. A única parcela que acom-panha os índices de custo de vida é a social securitypaga pelo Estado, mas essa não vai além de aproxi-madamente 1.300 dólares para os que trabalharammais de trinta anos e tiveram salários elevados. Háuma injustiça tremenda nesse sistema, mas ninguémprotesta. Quando as coisas apertam, o indivíduo ven-de a casa e muda-se para um apartamento menor,comprime as suas despesas. Sempre achei que o sis-
tema que existia no Bra-sil e que o atual governoextinguiu era muito me-
lhor, bastando corrigiralguns abusos. Não há ra-
zão para se pagar menos aquem trabalhou toda
uma vida e agora precisa do seu dinheiromais do que nunca, porque não tem condições de
recorrer a outras fontes, tais como bolsas de estudose outros empregos. Sem falar na ilegalidade de nãose respeitar contratos e se retirarem direitos adquiri-dos como recentemente se fez no Brasil. O que émelhor nos Estados Unidos é a segurança social, queinfelizmente está ameaçada pela mesma lógica neoli-beral que se vê por aqui. Mas lá essa ameaça é con-trabalançada pela capacidade de organização dosaposentados, que pertencem a uma associação bas-tante poderosa (pelo que representam em termos devotos) que defende os seus interesses atuando naCâmara e no Senado. De fato, a capacidade de orga-nização dos norte-americanos em defesa de seus di-reitos é notável desde o tempo de Tocqueville.
Esse é um dos aspectos positivos da sociedadenorte-americana. Há muitos outros de que nem sefala no Brasil, como o amparo ao ensino público, asbibliotecas municipais, as doações voluntárias priva-das a universidades e museus, a proteção que o go-verno dá à economia do país, que não segue à riscao catecismo neoliberal,e assim por diante. Preocu-pamo-nos muito com aimagem do Brasil noexterior. Talvez fossemelhor se nosp r e o c u p á s s e m o smais em rever aimagem que te-mos dos EstadosUnidos e a que temosde nós mesmos.
Sylvia Bassetto é pro-fessora do Departa-mento de Históriada FFLCH/USP.
29
Junho 1999RReevviissttaa Adusp