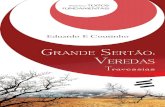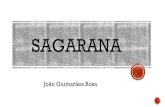Grande Sertão Veredas e a crítica do delírio feita por J. H. Dacanal
-
Upload
anna-faedrich -
Category
Documents
-
view
48 -
download
1
Transcript of Grande Sertão Veredas e a crítica do delírio feita por J. H. Dacanal

Grande Sertão: Veredas e a crítica do delírio feita por J. H. Dacanal
Anna Faedrich Martins1
Resumo: Este trabalho pretende fazer uma crítica da crítica de Grande Sertão: Veredas, mais especificamente, a
crítica feita no Rio Grande do Sul, por J. H. Dacanal. Questiona-se uma crítica que afirma coisas, que demonstra
uma necessidade de determinar, de querer as “coisas bem costuradas”, assim como a personagem de Riobaldo,
que vê na (tentativa de) definição a libertação de suas angústias. Pretende-se analisar a comunidade interpretativa
a partir da qual o crítico fala, percebendo, assim, que este não é um indivíduo que fala sozinho, mas que parte de
uma comunidade que o autoriza a falar, publicar e ser lido. Dessa forma, a intenção é mostrar que esta é uma
crítica que fecha um livro que não se deixa fechar. É uma crítica feita de neblinas, assim como o romance, porém
uma crítica que não percebe o que está por trás da bruma. A questão norteadora do trabalho será sempre “o
perigo da certeza”, quando se trata de um romance altamente indicial, como é o caso de Grande Sertão: Veredas.
Palavras-chave: Grande Sertão: Veredas; crítica literária; comunidade interpretativa; literatura brasileira.
Abstract: This study intends to criticize the critic of Grande Sertão: Veredas, specially the critic written in the
Rio Grande do Sul, by J. H. Dacanal. We question the criticism that states things, shows the necessity of
determinations, which wants the “things well sewn”, as the protagonist Riobaldo, who sees in the (attempt of)
definition the liberation of his anguishes. We intend to analyze the interpretive community from which he
speaks, noticing, in this way, that he is not a person who speaks alone, but he comes from a community which
allows him to speak, to publish and to be read. In this manner, we want to show a kind of critic that close the
reading of a book which cannot be closed. It is a critic made by mist, as the novel, however a critic that does not
realize what is behind of the mist. The guide question of this study will always be “the danger of the certainty”,
when it refers to indicial novel, as the case of Grande Sertão: Veredas.
Keywords: Grande Sertão: Veredas; literary criticism; interpretive community; Brazilian literature.
Mas, onde é bobice a qualquer resposta, é aí que a pergunta se
pergunta.
O que o senhor vê não é o que o senhor vê. É o que o senhor vai ver.
(Riobaldo, Grande Sertão: Veredas)
A intenção deste trabalho é fazer uma crítica da crítica de Grande Sertão: Veredas,
especificamente da crítica realizada, no Rio Grande do Sul, por José Hildebrando Dacanal2. O
fio condutor desta análise é o perigo da certeza. A investigação, aqui proposta, parte da
crença que temos na impossibilidade de afirmações categóricas sobre o romance de
1 Professora Substituta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutoranda em Letras – Teoria da
Literatura – na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Mestre em Letras – Teoria da
Literatura (PUCRS/2010). Especialista em Literatura Brasileira (UFRGS/2008). Licenciada em Letras –
Português/Inglês (UFRGS/2006). 2 José Hildebrando Dacanal nasceu em Catuípe, Rio Grande do Sul, em 1943. Formado em Letras Clássicas e
Vernáculas e Ciências Econômicas pela UFRGS, é jornalista, professor e ensaísta há 40 anos. Publicou mais de
vinte obras sobre linguagem, literatura, história, política e economia.

Guimarães Rosa. Pretendemos o estudo crítico do último livro de Dacanal3, o levantamento
de alguns elementos dessa crítica assertiva, limitada por premissas e princípios de uma certa
sociologia, que são insuficientes, isto é, não correspondem ao Grande Sertão: Veredas. Uma
vez que tal levantamento esteja feito, pretendemos trabalhar com alguns pontos de
indeterminação do romance, já considerados por outros críticos, sempre levando em
consideração que este é um livro feito de neblinas e de ambivalências, bem como a questão da
disseminação em Grande Sertão: Veredas e de esta ser uma narrativa altamente indicial4.
Assim, investimos na tentativa de dar uma explicação para a fraqueza crítica de Dacanal.
Vale lembrar que esta não é uma crítica pessoal, muito pelo contrário, pretendemos a
análise objetiva de elementos no texto do crítico, aos quais chamaremos de pontos de
fraqueza, assim como elementos de indeterminação no romance rosiano, a fim de buscar
reforço teórico para o nosso argumento. Não queremos, aqui, assumir um papel radical
semelhante ao que vem cumprindo Dacanal, nem afirmar coisas sem fundamentação, isto é,
afirmar sem o levantamento e a exploração desses elementos no texto. Este trabalho não tem o
intuito de polemizar, mas, sim, com certa maturidade acadêmica, criticar construtivamente,
enxergar e contradizer, ou seja, crescer e construir.
Quando se trata de crítica literária, podemos perceber a luta entre uma tendência forte
da crítica em determinar o sentido de um texto literário e uma tendência que o texto revela de
chamar a atenção para uma indeterminação. Essa luta nos leva a uma pergunta: por que a
crítica, em geral, procura determinar um texto? Existe, sim, um desejo de determinação, quase
da natureza humana, em (auto)afirmar não só a literatura, mas a própria vida. É uma certa
nostalgia pelo sentido, que nos leva à necessidade de determinar para nos livrarmos da
angústia do não saber/entender. Assim, quanto menos se entende mais se afirma. Dessa
forma, podemos dizer que uma crítica que afirma coisas, não é uma boa crítica. Riobaldo diz
3 Trata-se da tese de doutoramento do crítico, intitulada Riobaldo & eu: a roça imigrante e o sertão mineiro
(Porto Alegre: Editorial Soles, 2009), orientada pelo professor Luís Augusto Fischer, na UFRGS. Neste livro,
encontram-se todas as publicações de Dacanal sobre Grande Sertão: Veredas. Além da sua tese, que compara a
travessia de Riobaldo com a sua própria travessia, temos A epopeia de Riobaldo, livro publicado em 1968;
Grande Sertão: Veredas: a obra, a história e a crítica, publicado em 1980; Um coloninho lê Grande Sertão:
Veredas, publicado no jornal Zero Hora, Porto Alegre, 1996; A desmagicização do mundo, publicado no jornal
Correio do Povo, Porto Alegre, 1969; Guia de leitura Grande Sertão: Veredas, publicado em 1988. 4 Narrativa indicial no sentido de Roland Barthes, em Análise estrutural da narrativa: “os índices, pela natureza
de certa forma vertical de suas relações, são unidades verdadeiramente semânticas, pois, contrariamente às
„funções‟ propriamente ditas, eles remetem a um significado não a uma „operação‟; a sanção dos índices é mais
alta, por vezes mesmo virtual, fora do sintagma explícito [...] é uma sanção paradigmática” (1971, p. 30). Barthes
diz que os índices são expansões em relação aos núcleos. Estes formam conjuntos acabados de termos pouco
numerosos e são regidos por uma lógica. Sendo Grande Sertão: Veredas uma narrativa de disseminação,
altamente indicial, percebemos a impossibilidade de trabalhar com núcleos, a futilidade de se resumir o enredo e
o não-esgotamento do livro, que trabalha com dados ilimitados, fora do alcance de controle do leitor.

“eu nada sei, mas desconfio de muita coisa”. A boa crítica desconfia. Desconfiar é agir menos
e cuidar mais. É não saber para onde se vai. É, segundo Guimarães Rosa, “subir a bordo da
nave como timoneiro”; ser ilógico para descobrir. É aceitar o inexplicável. E, principalmente,
saber que, em se tratando de Grande Sertão: Veredas, toda a concentração de sentido é
perigosa. Onde a “pergunta se pergunta”, definir é muito perigoso...
Toda a crítica é uma visão, por isso, há áreas de iluminação e de escuridão. É
importante estar atento ao lugar de onde parte a voz, quais seus pressupostos, o que ela
esqueceu e o que ela não pode falar. Stanley Fish introduziu a noção de que um indivíduo não
fala sozinho, ele faz parte de uma comunidade interpretativa, que autoriza o seu discurso e faz
com que ele permaneça. Assim, existe um conjunto de leitores e intérpretes que compartilham
os mesmos pressupostos sobre a natureza do significado e as estratégias de leitura. Um
discurso “autorizado”, por assim dizer, pode até ser discordado, mas será sempre um discurso
respeitado. Esse tipo de crítico conquista a autoridade da voz a partir da análise do texto
literário, como é o caso de Antonio Candido, Walnice Galvão e João Adolfo Hansen. Quando
acontece de uma comunidade interpretativa não autorizar a voz de um crítico, como é o caso
do Dacanal, que é pouco conhecido fora do Rio Grande do Sul, ou, quando conhecido, não é
respeitado5, ele fica à margem e em sua própria defesa passa a se autoautorizar.
Essa autorização da própria voz pode se dar de várias formas. A autoautorização de
Dacanal começa pelo título de sua tese de doutoramento “Riobaldo & Eu”. O crítico fala de si
mesmo, revelando a necessidade de chamar a atenção para a sua pessoa, principalmente,
como sendo um revolucionário. É a retórica de um intelectual rejeitado6, que tenta conquistar
um espaço próprio através de uma rebeldia juvenil.
Ao falar de si mesmo, Dacanal tenta mostrar que vê coisas que os outros não vêem, ou
seja, tenta sempre convencer o leitor (e, talvez, a si próprio) de que sua interpretação é inédita,
renovadora e, por que não dizer, revolucionária. No capítulo “Uma leitura intelectual”, o
crítico relata que, desde o tempo em que estava cursando a graduação, ele já tinha o privilégio
intelectual de perceber coisas no texto que os outros não percebiam:
5 Luís Bueno, em Uma história do romance de 30, faz uma crítica às afirmações categóricas de Dacanal, que
levanta uma lista didática de características típicas do romance social, ignorando, por exemplo, Cornélio Penna,
Marques Rebelo e Lúcio Cardoso. Bueno observa que Dacanal nunca olha o elemento dissonante e que também
foge da variedade de experiência dos autores. 6 Outro crítico que apresenta uma retórica de intelectual abandonado é o Luiz Costa Lima. Este foi rejeitado pela
comunidade interpretativa da USP, mesmo tendo sido orientado pelo Antonio Candido. O discurso de Costa
Lima é o efeito de uma mágoa. Entretanto, não seria justo fazer uma comparação entre a contribuição de Costa
Lima para os estudos literários e a contribuição de Dacanal. Por isso, acreditamos que seria necessário um outro
trabalho para o aprofundamento no caso de Costa Lima. Caso contrário, seria colocar uma porção de gatos no
mesmo saco da “crítica na margem”, sem levar em consideração a especificidade de cada caso.

Foi na segunda metade da década de 60, ao cursar Letras, que li pela primeira vez
Grande Sertão: Veredas. Para mim, um adventício no mundo literário-intelectual
brasileiro, foi um choque. Mergulhado então na leitura de todas as grandes obras da
narrativa romanesca ocidental e brasileira, fiquei impressionado ao deparar-me com
Grande Sertão: Veredas, tanto pelo que eu nele via quanto pelo que nele os outros
não viam (DACANAL, 2009: 319).
Já na “Introdução” desta parte do livro, ele investe na autorização de seu discurso
hermenêutico de Grande Sertão: Veredas através da constatação de que já leu e escreveu
muito sobre o romance de Guimarães Rosa. Ele faz um autoelogio, dizendo que sua
performance ensaística é surpreendente:
O acaso e a necessidade fizeram com que Grande Sertão: Veredas se tornasse, em
termos profissionais, a obra literária mais importante da minha vida. Tanto é verdade
que, tendo o romance de João Guimarães Rosa como tema central, produzi uma
dezena de ensaios e artigos, num total aproximado de 200 páginas, ao longo de cerca
de 30 anos! Uma performance um tanto surpreendente, até mesmo para mim, que,
aliás, sempre me interessei muito mais por história, economia e política
internacional (DACANAL, 2009: 317).
Mais adiante, fica evidente o recalque por trás de seu discurso, pois ele aproveita o
meio para contar sua história pessoal e atacar um “colega aristocrático” que teria lhe chamado
de “coloninho”. Percebemos a tentativa de Dacanal, ao longo de toda sua escrita, de provar
que “esse coloninho” sabe ler e interpretar melhor que os outros (melhor que a intelligentsia,
como ele bem gosta de dizer). Fica a mensagem, nada subliminar, de que ele é um leitor
diferenciado, pois, mesmo sem necessidade e relevância para sua crítica de Grande Sertão:
Veredas, ele faz questão de dizer, por exemplo, que lê, fluentemente, grego e latim:
Afinal, o que teria levado – na expressão de aristocrático colega meu dos tempos da
Universidade Federal – um coloninho como eu a despender tanto tempo com uma
obra à primeira vista tão complexa, tão estranha e tão distante do meu passado
social, cultural e linguístico? Se fossem Marco Túlio Cícero ou Júlio César, cujos
discursos e relatos aprendi a ler fluentemente no original, fossem eles, vá lá! Mas
Grande Sertão: Veredas? (DACANAL, 2009: 317-8)
Tanto a sua postura polêmica, rebelde e, até mesmo, agressiva, quanto todo o seu
investimento na autoafirmação de sua voz, revelam a necessidade por parte do crítico de se
autodefender, sendo esta uma retórica constante de um intelectual rejeitado, não autorizado
pelas comunidades interpretativas dominantes. É válido lembrar que existe um grupo (talvez
uma comunidade interpretativa não dominante?), na UFRGS, que publica, divulga e trabalha
em sala de aula com os textos do Dacanal. Se formos pensar como essa crítica é produzida,
percebemos que grande parte de seus livros são publicados são pela editora Leitura XXI, cujo
apoio vem do professor Sergius Gonzaga. A tese de doutoramento do crítico foi orientada (e
incentivada) pelo professor Dr. Luís Augusto Fischer, que recebe um agradecimento no início

do livro de Dacanal. Ambos professores da UFRGS fazem circular a voz do crítico, ou seja,
preservam estes textos, em sala de aula ou mesmo na escolha do livro para provas de seleção.
Dessa forma, a voz de Dacanal, por mais contestada ou desconhecida (fora do RS) que seja,
por não estar sozinha, acaba não desaparecendo, mesmo que em espaços muito limitados.
Sobre o seu texto crítico, o primeiro ponto de fraqueza que gostaríamos de levantar é
em relação ao que ele afirma sobre a recepção de Grande Sertão: Veredas, por parte do ele
denomina de intelligentsia7. Dacanal diz que foi uma recepção de espanto, principalmente
pela “dita recriação linguística de Guimarães Rosa”. Ele defende a ideia de que o espanto foi
causado por pura falta de visão histórica, ignorância da intelligentsia:
De qualquer maneira, o que é indiscutível é que, em primeiro lugar, a tão falada
recriação linguística de João Guimarães Rosa não é tão profunda como quiseram ou
querem fazer os literatos e linguistas cegos à realidade histórica e, em segundo, que
se tal recriação existe – e é claro que existe – ela se processa sobre a variante
sertaneja ou caboclo-sertaneja do português. [...] E este espanto resultou – e até hoje
resulta –, como no caso da linguagem, da falta de visão histórica por parte da
intelligentsia literária e da decorrente ignorância em relação à sociedade caboclo-
sertaneja brasileira. Pois, decididamente, é dela que trata Grande Sertão: Veredas,
que foi a primeira ora a fixá-la artística e literariamente (DACANAL, 2009: 298).
Aqui, há, pelo menos, dois problemas a serem levantados. O primeiro problema, que
nos faz crer na impossibilidade de esta afirmação ser levada a sério, é a falta de uma definição
sobre que é a intelligentsia a qual o crítico se refere. Sabemos que este é um termo muito
genérico e, sem uma especificação, não se chega a lugar algum. É como se ele colocasse todos
os intelectuais e estudiosos de literatura num mesmo “saco de gatos” intitulado intelligentsia,
confundindo o leitor, que fica sem saber quem está dentro deste grupo, quem faz parte e quem
não faz, quais as diferenças entre os membros deste grupo, que, com certeza, não
compartilham de uma única linha de opinião crítica. Se, para Dacanal, a intelligentsia é a
massa intelectual da nação, resta-nos perguntar: ele faz parte dela ou não? Sendo assim, esta
é, claramente, uma tentativa de afirmação de um neófito periférico, que tenta passar uma
mensagem constante de que ele sabe e os outros não sabem.
Afirmar que os críticos desconheciam a realidade histórica do Brasil, até mesmo a
variante caboclo-sertaneja da língua portuguesa, é um grande arroubo juvenil. Se levarmos em
conta o exemplo de Antonio Candido, nascido em Minas Gerais, dado significativo para
alguém que escreve sobre Grande Sertão: Veredas, pois ele conhece o sertão, se levarmos em
7 O termo intelligentsia ou intelligentzia usualmente refere-se a uma categoria ou grupo de pessoas engajadas em
trabalho intelectual complexo e criativo direcionado ao desenvolvimento e disseminação da cultura, abrangendo
trabalhadores intelectuais. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Acesso em: 30/11/2010.

conta que Candido é um reconhecido historiador da literatura e sociólogo, podemos dizer que
as afirmações categóricas de Dacanal fazem parte de uma crítica do delírio.
O segundo ponto que levantamos é a subestimação da recriação linguística de
Guimarães Rosa a uma mera fixação artística e literária da variante caboclo-sertaneja do
português. Dacanal vai dizer que, linguisticamente, Grande Sertão: Veredas é desconcertante
para o leitor urbano do litoral, chegando à radicalização total ao afirmar que a crença numa
recriação da língua é um “duplo absurdo” ou “um equívoco de dupla face”, como podemos
ver a seguir:
Linguisticamente, Grande Sertão: Veredas provocou, ao ser publicado em 1957,
enorme impacto na opinião pública letrada, sendo por esta visto como algo total e
absolutamente novo. De um lado, isto é verdade, porque – tomada como referência a
ficção brasileira anterior, incluindo até a própria obra do autor – a linguagem de
Grande Sertão: Veredas era/é desconcertante, estranha e até chocante para o leitor
urbano do litoral, de ontem e de hoje. De outro lado, isto era, como se veria depois,
um equívoco de dupla face: histórico e técnico. [...] Tecnicamente, argumentou-se
que – e este foi o segundo equívoco, e monumental, porque praticado pela
intelligentsia letrada – João Guimarães Rosa criara uma língua/linguagem própria,
exclusiva dele. Ora, esta afirmação é um duplo absurdo. Em primeiro lugar porque,
como se viu, existiu outra variante do português que não a própria dos grupos
letrados dos núcleos urbanos do litoral. Em segundo lugar porque todo o artista da
palavra cria/recria, em maior ou menor escala, a língua. Isto todos os gênios da
palavra o fizeram, fazem e farão. (DACANAL, 2009: 77-78).
É interessante observar que cada declaração de Dacanal é matéria para um ensaio
crítico, devido à falta de definição para os conceitos genéricos que ele utiliza e às definições
violentas e redutoras que ele articula. As suas afirmações a respeito da questão linguística de
Guimarães Rosa deveriam, obrigatoriamente, partir de uma premissa básica: o que é uma
língua própria? Uma vez que tenha definido isto, valeria a pena investir seu argumento a
partir da análise do texto literário. Entretanto, vale lembrar que, como desejamos o
levantamento de vários desses elementos, nossa discussão, por tempo e espaço limitados,
abrirá caminhos para novas abordagens críticas sobre esta crítica tão peculiar que poderão ser
trabalhados em outro momento.
Há, na afirmação de que todo o escritor recria a linguagem, uma nivelação, que não
permite individualizar a obra de Guimarães Rosa. É uma tautologia, que não leva em
consideração a pergunta fundamental que todo o crítico deve se fazer ao estudar um autor: o
que faz de Guimarães Rosa Guimarães Rosa? Ou seja, o desafio da crítica é mostrar que todos
criam/recriam, mas que determinado autor faz de uma forma que, ao criar desta forma,
contribui com alguma coisa diferente. T. S. Eliot, quando aborda a musicalidade da poesia,
diz que o poeta é um escultor que faz da fala cotidiana matéria para sua poesia:

Naturalmente, não queremos que o poeta simplesmente reproduza exatamente a
linguagem da conversa que usa sua família, seus amigos, ele próprio oi seu bairro
em particular. Mas, o que ele ali encontra é o material do qual tem de fazer sua
poesia. Ele tem que, como o escultor, ser fiel ao material com que trabalha; é dos
sons que se acostumou a ouvir que tem de criar sua melodia e harmonia (ELIOT,
1972: 51).
O próprio Guimarães Rosa vai dizer que todo o bom escritor é um arquiteto da alma e
também um descobridor que procura mundos desconhecidos e vê, na linguagem, o passaporte
para o infinito. Rosa fala sobre o mau crítico, aquele que é “um demolidor de escombros,
dedicado a embrutecer, a falsificar as palavras e obscurecer a verdade, pois acha que deve
servir a uma verdade só conhecida por ele, ou então ao que se poderia chamar seus interesses”
(LORENZ, 1991: 76).
A ideia de que todo poeta é um escultor recriador da realidade não é novidade para
ninguém. Dizer que Guimarães Rosa recriou a linguagem simplesmente porque ele fixou
literariamente uma língua já existente é uma opinião rebelde, insuficiente, que não encontra
respaldo no texto para a sua sustentação. Dacanal fecha o texto de forma violenta; nas
palavras de Guimarães Rosa, podemos dizer que ele “embrutece o texto”, determinando de
maneira irresponsável àquilo que já foi abordado por críticos, cuja autoridade da voz é
conquistada de maneira muito mais produtiva – pela análise do texto.
Em seu diálogo8 com Lorenz, Guimarães Rosa fala sobre a sua condição de poliglota.
Ele conhecia oito línguas estrangeiras, “talvez algumas mais”, e lia em diversos idiomas, entre
eles, latim, grego, russo, sueco, dinamarquês, servo-croata, húngaro, persa, chinês, japonês,
hindu, árabe e malaio. O idioma próprio de Rosa provém da extração de muitos idiomas e,
também, “da não submissão à tirania da gramática e de dicionários dos outros”. O autor diz
que “uma palavra, uma única palavra ou frase podem me manter ocupado durante horas ou
dias”. Assim, fica difícil acreditar que seu trabalho foi o de fixar literariamente a variante
desconhecida pelo povo letrado da urbe. Guimarães Rosa fala do elemento metafísico da
língua que “faz com que minha linguagem seja minha” e, também, do processo irracional, da
busca do impossível, do infinito: “utilização de cada palavra como se ela tivesse acabado de
nascer”. Seu método era limpar a língua das impurezas da linguagem cotidiana, reduzindo ao
seu sentido original. O autor reconhece a riqueza da língua portuguesa, afirmando que esta
não é uma língua saturada, mas sim, uma língua em desenvolvimento. A riqueza do português
brasileiro também está na mistura de elementos indígenas, negróides, de singularidades
8 Guimarães Rosa não gosta da palavra “entrevista”, tendo, assim, a fama de ser “inimigo de toda a espécie de
entrevista”. Rosa diz que esta é uma expressão horrível, “trocas de palavras em que um formula ao outro
perguntas cujas respostas já conhece de antemão”. Por isso, ele prefere a conversa, que é um fazer em conjunto,
sem roteiro pré-programado.

filológicas, variantes latino-americanas do português e do espanhol. O escritor, segundo Rosa,
é também um descobridor da língua. E, “meditando sobre a palavra, ele [o homem] descobre a
si mesmo”, sendo assim, a sua relação com a língua é uma “relação de amor”, ela é sua
amante; e juntos são “um casal que procria apaixonadamente”.
Guimarães Rosa dizia-se um reacionário da língua, pois trabalhava para voltar à sua
origem. Por isso, o autor falava em um escritor como “alquimista”, um feiticeiro da palavra,
que vê na língua uma verdade interior e intraduzível. O alquimista transforma metais
inferiores em metais superiores. E é esse o trabalho de Guimarães Rosa com as palavras:
mistura e experimentação. Provavelmente, nenhum caboclo-sertanejo dizia “coraçãomente”.
E, se pensarmos no uso cotidiano da língua, a palavra cordialmente perdeu seu sentido
original – aquilo que vem do coração. Ao colocar no final de um email “cordialmente”, não é
mais o sentido do coração. Ao escrever coraçãomente, Guimarães devolve, por uma alquimia
da linguagem, o um frescor antes perdido. Esta é, no fundo, uma estética romântica da arte,
que vê na função da arte poética a possibilidade de renovação da percepção.
Para os Formalistas Russos, renovar a percepção é um desejo de novidade pela fuga do
racional, da vida mecânica, da automatização do pensamento. É o que eles denominam de
estranhamento. Se o mundo moderno faz com que as coisas percam o sabor, cabe à arte
devolvê-lo. Portanto, dizer que a inovação do autor está na fixação de uma variante linguística
é muito perigoso. Perigoso e redutor. Perigoso porque não condiz com o que o texto rosiano
nos apresenta. Não condiz com o que o próprio Guimarães Rosa fala sobre a arte do seu
ofício. Não condiz com estudos críticos relevantes sobre o léxico de Rosa. Tal recriação
linguística está ligada à poesia pura, ao voltar para uma língua antes de babel, ao sentido
original da língua, que se perdeu na automatização da modernidade: “Somente renovando a
língua é que se pode renovar o mundo”, Guimarães Rosa. A forma adquire, por sua vez, um
objetivo ético de resgatar o valor da vida.
São esses elementos que evidenciam a fraqueza das supostas convicções de Dacanal,
que caem por terra quando lemos um texto crítico do nível de Davi Arrigucci, por exemplo.
Arrigucci analisa a forma mesclada de Grande Sertão: Veredas e reconhece a singularidade
do romance intrinsecamente relacionada ao mundo misturado. O ponto que nos interessa aqui
é o que ele diz sobre a linguagem “de puras misturas”, “misturadíssima” do romance. O
crítico observa que a vontade de estilo de Guimarães Rosa “procura conscientemente a
desautomatização da percepção linguística, largamente lograda pela refundição das formas
velhas em mesclas renovadas” (ARRIGUCCI, 1994: 12). Dessa forma, Arrigucci vê, na

recriação linguística de Guimarães Rosa, “uma língua em estado de percepção nascente, feita
de palavras limpas das impurezas do uso cotidiano e corriqueiro, reinvestidas da força de criar
um mundo” (idem).
O contraponto maior com o texto do Dacanal é feito quando Arrigucci vai contra a
ideia de uma mera fixação da variante caboclo-sertaneja da língua portuguesa. Para o crítico,
Ninguém encontrará decerto nessa região a fala de Riobaldo; ou a linguagem
recorrente, embora com mudanças e diferenças substanciais, do restante da obra
rosiana. Sob este aspecto, o sertão rosiano é um artifício, ainda que ligado
metonimicamente à sua região de origem, pelo lastro da documentação. Ali se pode
encontrar apenas e quando muito o material bruto ou a fonte principal de que partiu
o escritor, levado, sem dúvida, por uma profunda curiosidade intelectual, por
enorme desejo de conhecimento daquele que era o seu mundo desde a infância, vasta
região agropastoril onde se criou, onde se situa Cordisburgo [...]. E tudo isto se
traduziu na vasta e rigorosa documentação a que procedeu e de que se pode ter
notícia hoje em seu acervo. Mas não convém subestimar nunca sua capacidade,
igualmente incomum, de transfigurar o dado factual, seja de que espécie for.
(ARRIGUCCI, 1994: 12)
Mary Lou Daniel faz uma análise linguística detalhada de Grande Sertão: Veredas,
mostrando a revitalização da língua portuguesa e a expressividade do texto rosiano, buscando,
nele, os elementos de recriação e as técnicas empregadas, tais como neologismos – afixação,
aglutinação, criação interparadigmática, analogia –, desarticulações e desvios sintáticos e
lexicais, emprego de aliterações, assonâncias e onomatopeias, repetição de palavras, anáforas,
etc. Daniel consegue identificar no texto elementos que mostram a preocupação do autor com
a criação do seu próprio léxico, sua verdadeira missão – o “compromisso do coração”.
Daniel comenta que para Cavalcanti Proença as inovações léxicas de Guimarães Rosa
“não são tanto pura invenção como consequência natural do potencial já existente na língua
que espera um talento original para a sua realização” (p. 34). Proença diz que “não cabe falar
em criação, mas em esforço consciente no sentido de uma evolução da linguagem literária”.
Entretanto, para Daniel
A procura incessante de le mot juste de parte de Guimarães Rosa e a sua paixão pela
condensação e concisão dos meios expressivos levam-no à invenção de numerosos
neologismos, os quais se integram no seu léxico funcional e em muitos casos
constituem verdadeiras marcas características da sua prosa. É nesta área neologista
que podemos considerar o autor como verdadeiro renovador da língua portuguesa,
mas renovador sempre fiel ao caráter essencial e ao desenvolvimento histórico dessa
língua, pois o seu padrão inventivo consiste na modificação parcial de palavras
comuns para lhes dar vida nova e significado penetrante. (DANIEL, 1968: 75)
Daniel, que trabalha com toda a obra literária de Guimarães Rosa, faz uma pergunta
em conclusão: “com o que tem contribuído o autor para a língua e a literatura?”:
A resposta consiste essencialmente em três palavras: renovação, flexibilidade e
universalidade. Por meio da revitalização de padrões morfológicos familiares,
chama a atenção para o valor inerente e o potencial da palavra, e por meio da
sintaxe original e dinâmica e o sensível emprego de técnicas poéticas e retóricas,

cria uma prosa de beleza estética e poder expressivo. Na sua preocupação com o
conteúdo e com a forma das suas obras, faz esta colega e não escrava daquele; ou,
melhor dito, na obra rosiana não se separam os dois elementos mas se efetua uma
confluência deles. [...] Fica comprovado o fato de ter dado o original estilo rosiano
uma impressão inesquecível na literatura brasileira contemporânea [...]. (DANIEL,
1968: 175-6)
Tal renovação é também considerada pelo crítico João Adolfo Hansen, em Forma,
indeterminação e funcionalidade das imagens de Guimarães Rosa, onde vai diferir
Guimarães Rosa de Euclides da Cunha pela sugestão ficcional das imagens nos texto de Rosa
(diferentemente da classificação sociológica de Euclides). O crítico analisa aspectos dessa
sugestão ficcional, as especificidades do seu estilo – o efeito imaginário e o intencional dos
procedimentos técnicos – como tensão contínua de indeterminação do efeito e comunicação
técnica. Por isso, Hansen afirma que a imaginação de Rosa não é reprodutora, mas sim
produtiva, aproximando Rosa e Joyce no que diz respeito “à recusa da linguagem existente,
sabendo que é impossível escrever em uma língua reduzida à estupidez instrumental”. O
crítico observa que
O efeito imaginário das imagens – por exemplo, a maneira não-reflexiva como os
personagens vivem a experiência de seu mundo – depende totalmente dos
procedimentos técnicos aplicados poeticamente para inventá-lo – seleção de
matérias sociais, correlação e estilização das matérias nos enunciados, invenção
vocabular, motivação dos nomes, enunciação paradoxal, deformações de
significados, produção de fundo indeterminado, metaforização platonizante do
fundo, composição de correspondências musicais, negação, ironia, paródia etc.
(HANSEN, 2007: 30)
Hansen observa os efeitos de indeterminação do romance de Rosa, produzidos por
procedimentos técnicos e poéticos, tais quais o paradoxo, a negação da lógica e da
representação:
Extensivamente, as classes gramaticais, categorias linguísticas, formas léxicas,
sintáticas e semânticas nomeiam objetos que usualmente não são designados e
classificados por elas; intensivamente, as correlações estabelecidas entre as palavras
e as temporalidades disparatadas de suas referências e conceitos reforçam a língua a
significar, aquém e além do conceito sensato, algo que, segundo a rotina de hábitos
petrificados como ideologia, não pode ser assim nomeado e significado. Poética e
funcionalmente apta para figurar e avaliar um outro cultural, a indeterminação
pressupõe outra imaginação. (HANSEN, 2007: 39).
Face à indeterminação presente em Grande Sertão: Veredas, onde a pergunta se
pergunta, é que definir se torna perigoso. O romance de Guimarães Rosa é um livro mais de
perguntas do que de respostas. Por isso, toda e qualquer definição é perigosa. A explosão de
significados nesta obra permite que o leitor crítico, por exemplo, fale “mais ou menos sobre o
sertão”, mas dizer “o sertão é” é perigoso. Não há possibilidade de definição do sertão, o
sertão é demais, é abundância, é um espaço ambivalente assim como Diadorim. O sertão é

geográfico, lugar que não se define, é sem limites. É interessante notar que quando Riobaldo
diz “a pergunta que se pergunta”, ele exclui toda a possibilidade de resposta, este é um
momento de indecisão do significado em que os pares binários da língua pergunta-resposta
não operam em produção de um sentido. Pela lógica, esta é uma frase agramatical, que
problematiza o hiato de respostas, a existência de perguntas que não podem ser feitas.
Perguntar “o que é?”, neste caso, é perigoso. Não procede. Não existe resposta definidora e
categórica.
Riobaldo, jagunço, professor, latifundiário, fazendeiro e poeta, tem a necessidade de
nomear e definir as coisas: “Tudo poitava simples. Então – eu pensei – por que era que eu
também não podia ser assim, como Jõe? [...] para Jõe Bexiguento, no sentir da natureza dele,
não reinava mistura nenhuma neste mundo – as coisas eram bem divididas, separadas”
(ROSA, 2001, p. 237). Essa necessidade de determinar é a ilusão da liberdade de suas
angústias. A insegurança de Riobaldo faz com ele, logo no início do romance, queira uma
canoa que não afunda. Mais adiante, ele quer que o governo determine que o demo não existe.
Riobaldo morre de medo das coisas misturas, ele quer a segurança das coisas certinhas, bem
costuradas e divididas. Quer ser como Jõe, quer simplificar, mas não consegue. Ele questiona,
duvida e problematiza.
Na primeira página do romance, a necessidade de determinação já está marcada,
quando determinam que o bezerro é o demo e o matam. O elemento híbrido, “cara de gente,
cara de cão”, não sobrevive na narrativa. O indeterminado gera insegurança, por isso, se
alguém (o Estado, a lei maior) determinar, alivia. Diadorim é híbrido e também não sobrevive
na narrativa. Riobaldo ainda se refere ao “povo prascóvio”, povo tolo, ingênuo como se não
fizesse parte dele, como se não concordasse com essa atitude, pois ele “não tem abusões”
(superstições), seduzindo, assim, o seu interlocutor:
Causa dum bezerro: bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser – se viu –; e com
máscara de cachorro. Me disseram; eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito
como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente,
cara de cão: determinaram – era o demo. Povo prascóvio. Mataram. Dono dele nem
sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. (ROSA,
2001: 23)
A primeira frase do romance, “– Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de
homem não”, chama a atenção para um jogo de aparências, um alerta para “as coisas não são
bem o que parecem ser”. E, assim, a partir dessa desconfiança, é que o romance deve ser lido.
Entretanto, o texto de Dacanal assevera o tempo todo coisas que não podem ser
definidas, coisas “mal costuradas”, pontos de indeterminação no texto. O nosso último recorte

de análise são os comentários determinantes do crítico gaúcho a respeito do final do romance.
Primeiramente, em relação à “opção de Riobaldo”, como veremos melhor a seguir e, depois,
em relação ao símbolo do infinito impresso no final da narrativa.
Dacanal vê, no final do romance (que não termina), uma opção de Riobaldo pelo
mundo lógico-racional em detrimento do mítico-sacral. Tal decisão resulta, segundo o crítico,
na estabilidade emocional do protagonista, na sua integridade e na possibilidade de justificar
seu passado. Selecionamos algumas passagens que identificamos pertinentes para a nossa
análise:
[...] a obra, tendendo para a a-historicidade e para a imanência (de acordo com o
que foi visto), parece estruturar-se basicamente a partir de uma visão de mundo a-
cristã e, em sentido que depois será melhor explicitado, épica. A opção de Riobaldo
– que surge clara no último parágrafo do livro – é existencial-imanente, como
me parece óbvio, permitindo justificar a imersão “inocente” do herói na ação,
ocorrida durante toda sua vida de jagunço. Ao mesmo tempo, estabelece também a
aceitação por parte do herói desta imersão.
Ali, em paz co seu alter ego (o interlocutor imaginário) e com seu super ego (o
compadre Quelemém), Riobaldo passa a viver integralmente seu ser e pode
justificar seu passado de jagunço. Aliás, o passado é também presente, em parte,
porquanto se a ação épica é apenas possível dentro de uma concepção de mundo
existencial-imanente, horizontal, esta continua sendo a posição de Riobaldo, apenas
que num plano de consciência diverso, mais avaçado.
Em sua Ítaca, Riobaldo é espiritualmente íntegro, unitário, não-problemático.
Não poderá jamais abandonar a ilha. Ali permite-se até o participar de vivências
religiosas, ecléticas, de característica mítico-sacrais, que lhe proporcionam calma
interior e agem sobre ele provocando um processo de catarse, ajudando-o a manter-
se em equilíbrio, aquém do problemático.
Riobaldo aceita o mundo em que viveu por ter consciência de que a experiência é a
existência. Não que o herói pretenda fazer a apologia, digamos, direta, de sua
convicção de que além da equação experiência-existência nada há. Ela faz, contudo,
indiretamente. Tem, e é isto o que verdadeiramente importa, a segurança íntima
da certeza de sua opção. (DACANAL, 2009: 344; 346; 349)
“A opção de Riobaldo – que surge clara no último parágrafo do livro – é existencial-
imanente, como me parece óbvio”. Em se tratando de um livro feito de neblinas, tal qual
Grande Sertão: Veredas, como é que um crítico pode afirmar que, primeiro, teve uma opção
por parte de Riobaldo, segundo, que esta opção é óbvia e clara no final do livro? Dacanal vai
dizer que houve uma vitória do plano de consciência lógico-racional, ou seja, uma visão de
mundo “imanente, agnóstica, temperada por certo estoicismo”. Esta vitória teria levado o
protagonista à “segurança íntima da certeza de sua opção”.
Ora, tais afirmações de Dacanal são irresponsáveis, pois, se fosse verdade que tal
opção tenha sido feita, é justamente no mundo do conhecimento e da razão que o homem se
vê sem respostas, num mundo desencantado e angustiante. O mundo lógico-racional não
poderia trazer a paz a Riobaldo, muito pelo contrário, esse é um mundo em que não é mais
possível encontrar sentido, um mundo que nos coloca diante de fatos sem explicação, um

mundo do desespero. Diferente da epopeia, onde as grandes perguntas têm respostas na
religião e nos mitos, por exemplo, numa crença anterior ao conhecimento; no romance
moderno, o homem é um ser em conflito existencial, é problemático, vive procurando a sua
salvação, e, por vezes, tem a ilusão de encontrá-la em forças de apoio, na tríade do conforto:
propriedade, família e religião.
Entretanto, ao final de Grande Sertão: Veredas, é preciso ver por trás da bruma, ir
além do que está posto. Dessa maneira, achar que Riobaldo tem certeza, segurança íntima é
um equívoco de interpretação. Uma ingenuidade. É querer determinar o que não pode ser
determinado. É a tentativa de encontrar um final fechadinho, bem costurado para um romance
que não se permite fechar, que não trabalha com núcleos, que não é uma narrativa de
concentração, que problematiza, questiona, que é incontrolável, que desaponta o leitor a todo
o momento, que surpreende pelo inesperado e que, antes de tudo, mostra um narrador para
quem contar é dificultoso. Ele conta a sua história mesmo afirmando que não sabe contar
direito, um “mal narrador” que sequer sabe para onde está indo. A dificuldade em narrar
também não é gratuita. De repente, ficou difícil narrar o mundo. É uma narrativa que se sabe
incapaz de completar o narrado, o inacabado. O final, por sua vez, é ambivalente, as coisas se
resolvem, ou não. E, ao perceber tal rarefação de sentido, podemos ignorá-la ou tentar
enfrentá-la. A boa crítica tenta reconhecer os momentos de resistência e enfrentá-los.
É muito significativo quando Riobaldo diz que “contar alinhavado só as coisas sem
importância” (ROSA, 2001: 115), ou seja, as novelas da Globo contam alinhavado, no final
tudo se encaixa, todo mundo está feliz. Mas Riobaldo não. Afirmar que Riobaldo, agora
fazendeiro e casado com Otalícia, está feliz e seguro de sua opção é um delírio. A vida, o
sertão, é uma bagunça, nem Deus tem controle, se entrar lá, que venha armado.
Comecemos com a afirmação de que “Riobaldo passa a viver integralmente seu ser e
pode justificar seu passado de jagunço”. Não, não pode. Riobaldo não pode justificar seu
passado de jagunço, pois ele vive um conflito existencial fortemente marcado no texto:
De tudo não falo. Não tenciono relatar ao senhor minha vida em dobrados passos;
servia para que? Quero é armar o ponto dum fato, para depois lhe pedir um
conselho. Por daí, então, careço de que o senhor escute bem essas passagens: da vida
de Riobaldo, o jagunço. Narrei miúdo, desse dia, dessa noite, que dela nunca posso
achar o esquecimento. O jagunço Riobaldo. Fui eu? Fui e não fui. Não fui! –
Porque não sou, não quero ser. Deus esteja! (ROSA, 2001: 232, grifo nosso)
A visão de Riobaldo sobre o “ser jagunço” é uma visão negativa, o jagunço é um
homem sem Deus, um homem de pecados, um homem que mata, que faz sofrer, que
atormenta. E o próprio Riobaldo vive atormentado com o fato de ser jagunço e de não querer

ser jagunço. Às vezes, se sente jagunço, outras vezes não. Oscila entre o pertencer e o não
pertencer à jagunçagem. Riobaldo vive um complexo conflito existencial, oscila ente o que
foi, o que acha que foi, o que queria ter sido, o que é hoje e o que quer ser hoje. Na verdade,
nem ele sabe. Entre “ser” e “querer ser” existe uma grande diferença. Negar-se como jagunço
é não querer ser jagunço, mesmo que tenha sido, mesmo que seja. Mas afirmar-se como
integrante da jagunçagem é, também, um desejo de afirmar uma identidade (uma identidade
dada ou uma identidade própria? Eu escolho meu destino ou eu sou escolhido por ele?), a qual
ele busca intensamente.
“Em sua Ítaca, Riobaldo é espiritualmente íntegro, unitário, não-problemático”.
Essa reflexão sobre o final de Grande Sertão: Veredas é não reconhecer que esta é uma
narrativa que produz angústia, e não conforto. Viver é muito perigoso, não dá para alinhavar o
perigo. Diferentemente da cultura de massa, que dá o que o povo quer ouvir. Contudo, o povo
prascóvio não pode ouvir da “intelligentsia” que Riobaldo é íntegro, unitário e não-
problemático. Grande Sertão: Veredas não trabalha com sentidos prontos, feitos e
alinhavados. A necessidade de Riobaldo de contar toda a sua história já mostra que as coisas
não vão bem. Riobaldo é um homem com traumas. Essa ansiedade em contar repetidamente
mostra a existência de um problema, que precisa ser narrado várias vezes na tentativa de
superá-lo. Mas essa é uma tentativa apenas, o que não quer dizer que no final tudo está
resolvido. Riobaldo já contou para o Compadre Quelemém antes de contar para o senhor. E
esse senhor teve que ficar lá com ele no mínimo três dias “visita aqui em casa é de três dias”.
Vale lembrar que, sabendo que ele atira muito bem, a recusa poderia ser perigosa...
Dacanal também compara a trajetória de Riobaldo com a sua própria trajetória, uma
vez que sua tese, Riobaldo & eu, trata da aproximação de sua história pessoal com a da
personagem:
[...] descobri que ele sobrevivera ao caos, ele organizara seu passado e seu
presente, ele encontrara a paz em sua Ítaca sertaneja, ao lado de sua Penélope.
[...] Sim, mas ocorrera uma mudança fundamental: a tormenta desabara sobre mim e
eu agora sabia o que era o caos. Riobaldo era ficção e ditara ao doutor a última
página da sua Odisseia. Eu era real e mal chegara à encruzilhada de Veredas
Mortas... (2009: 168)
O símbolo ∞, na última página do livro, é interpretado por Dacanal como símbolo da
natureza cíclica do romance, como uma eterna retomada do início:
Aliás, a própria estrutura da narrativa, e não foram poucos os que o notaram, é
circular. Ela não pro-jeta. Se se quiser ir além da palavra final, é se obrigado a
retomar o início, ad infinitum. (p. 347)

Todavia, tal interpretação não condiz com o símbolo do infinito, que também pode ser
a fita de Moebius9. Caso contrário, o símbolo, no final do livro, seria um círculo, o qual
permitiria a retomada do seu início ad infinitum. Mas, o símbolo ∞ ou a fita de Moebius
representa a impossibilidade de voltar-se para um mesmo ponto. É a crença na fluidez das
coisas, nas mudanças, e, até mesmo, no eu variável e polimorfo.
No quadro de M. C. Escher10
(1898-1972), “Moebius Strip” (1963), podemos ver a fita
de Moebius e o eterno caminhar das formigas que nunca chegarão ao mesmo ponto de origem.
A retomada ao início, ou o encontro das formigas, não existe, ou seja, é sempre um novo
começo, é um caminhar ad infinitum.
Enfim, gostaríamos de acrescentar que reconhecemos no trabalho de J. H. Dacanal
uma contribuição importante para a compreensão de Grande Sertão: Veredas, e não
pretendíamos dar a este estudo caráter polêmico. A ideia inicial era apenas indicar os lugares
em que surgiram as dúvidas que nos levaram a reexaminar as questões. Tendo como ponto de
partida o perigo da certeza, percebemos que, às vezes, parte da crítica “vê não vendo”, e,
assim, afirma coisas, denomina, determina, ou seja, define e mata, tal como a interpretação.
Esta é uma crítica que fecha um livro que não se deixa fechar. Este, um livro feito de neblinas.
9 Uma fita de Möbius é um espaço topológico obtido pela colagem das duas extremidades de uma fita, após
efectuar meia volta numa delas. Deve o seu nome ao alemão August Ferdinand Möbius (1790-1868), que a
estudou em 1858. Este é o espaço do não-orientável e do infinito. Fonte: Wikipédia. 10
Esta é uma contribuição do professor Sérgio Bellei, orientador deste ensaio, a quem agradeço pela indicação
da obra de Escher e da relação com a fita de Moebius. Aproveito para agradecer a todas as contribuições, desde
sugestões, indicações de leituras e reuniões, feitas durante o período de orientação.

Uma boa crítica, ao contrário, demonstra cuidado, não afirma, nem define. Por isso, tentamos
intermediar uma conversa entre alguns dos críticos de Grande Sertão: Veredas, a fim de
mostrar suas diferenças e as consequências dessas diferenças no que se refere à contribuição
para os estudos literários e críticos brasileiros.
Viver é muito perigoso, e definir é uma tentativa vã de dissipar neblinas de um livro
que indetermina mais do que determina. O grande salto da teoria contemporânea é o
deslocamento da tensão de “o que um texto significa” para “como é que o texto significa?”.
Como é que Guimarães Rosa significa? O leitor e o crítico comum quer um sentido, quer a
metafísica, quer respostas para perguntas que nem não podem ser aplicadas a certas coisas –
“o que é?”. Vale a pena questionar a própria pergunta. O grande desafio que a nova teoria
propõe é ser capaz de conviver com a indeterminação e de resistir à tentação de reduzir o
texto literário. E este foi o nosso ponto de partida, que nos conduziu até este fim: uma teoria
da suspeita, da instabilidade e da incerteza.
Referências
ARRIGUCCI JR., Davi. O mundo misturado: romance e experiência em Guimarães Rosa.
Cadernos de Pesquisa, CEBRAP, Nov., 1994, p. 7-29.
BUENO, Luís. Uma história do romance de 30. São Paulo: EDUSP, 2006.
DACANAL, José Hildebrando. Riobaldo & Eu: a roça imigrante e o sertão mineiro. Porto
Alegre: Editorial Soles, 2009.
DANIEL, Mary Lou. Guimarães Rosa: travessia literária. Coleção Documentos Brasileiros.
Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1968.
ELIOT, T. S.. Musicalidade da poesia. In: A essência da poesia. Tradução Maria Luiza
Nogueira. Rio de Janeiro. Artenova, 1972.
ESCHER, Maurits Cornelis. Moebius Strip. Disponível em: http://www.mcescher.com/.
Acesso em: 30/11/2010.
FISH, Eugene Stanley. Is There a Text in this Class? The Authority of Interpretative
Communities. Cambridge: Harvard University Press, 1982.
GALVÃO, Walnice Nogueira. As formas do falso: estudo sobre a ambiguidade no Grande
Sertão: Veredas. São Paulo: Perspectiva, 1972.

HANSEN, João Adolfo. Forma, indeterminação e funcionalidade das imagens de Guimarães
Rosa. In: Veredas no sertão rosiano. SECCHIN, Antonio Carlos (Org.) [et al.]. Rio de
Janeiro: Ed. 7Letras, 2007, p. 29-49.
LORENZ, Günter. Diálogo com Guimarães Rosa. In: Guimarães Rosa. COUTINHO,
Eduardo (Org.). Coleção Fortuna Crítica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991.
ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 19ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2001.