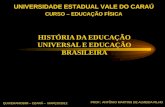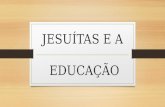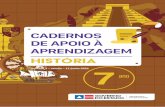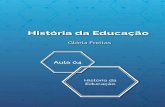História da Educação
-
Upload
phufpb4314 -
Category
Documents
-
view
122 -
download
0
Transcript of História da Educação

Universidade do Sul de Santa Catarina
Palhoça
UnisulVirtual
2006
História da Educação I
Disciplina na modalidade a distância
historia_educacao_I.indb 1historia_educacao_I.indb 1 13/10/2006 15:04:5813/10/2006 15:04:58

historia_educacao_I.indb 2historia_educacao_I.indb 2 13/10/2006 15:05:2113/10/2006 15:05:21

Apresentação
Este livro didático corresponde à disciplina História da Educação I.
O material foi elaborado visando a uma aprendizagem autônoma, abordando conteúdos especialmente selecionados e adotando uma linguagem que facilite seu estudo a distância.
Por falar em distância, isso não signifi ca que você estará sozinho. Não esqueça que sua caminhada nesta disciplina também será acompanhada constantemente pelo Sistema Tutorial da UnisulVirtual. Entre em contato sempre que sentir necessidade, seja por correio postal, fax, telefone, e-mail ou Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem - EVA. Nossa equipe terá o maior prazer em atendê-lo, pois sua aprendizagem é nosso principal objetivo.
Bom estudo e sucesso!
Equipe UnisulVirtual.
historia_educacao_I.indb 3historia_educacao_I.indb 3 13/10/2006 15:05:2113/10/2006 15:05:21

historia_educacao_I.indb 4historia_educacao_I.indb 4 13/10/2006 15:05:2113/10/2006 15:05:21

Karen Christine Rechia
Leonete Luzia Schmidt
Rosmeri Schardong
Palhoça
UnisulVirtual
2006
Design instrucional
Viviani Poyer
História da Educação I
Livro didático
historia_educacao_I.indb 5historia_educacao_I.indb 5 13/10/2006 15:05:2113/10/2006 15:05:21

Copyright © UnisulVirtual 2006 N enhum a parte desta publicação pode ser reproduzida por qualquer m eio sem a prévia autorização desta instituição.
370.9 R24 Rechia, Karen Christine História da educação I : livro didático / Karen Christine Rechia, Leonete Luzia Schmidt, Rosmeri Schardong ; design instructional Viviani Poyer. – Palhoça : UnisulVirtual, 2006. 120 p. : il. ; 28 cm. Inclui bibliografia. ISBN 85-60694-08-0 ISBN 978-85-60694-08-2 1. Educação – História. I. Schmidt, Leonete. II. Schardong, Rosmeri. III. Poyer, Viviani. IV. Título. Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Universitária da Unisul
Créditos Unisul - Universidade do Sul de Santa Catarina
UnisulVirtual - Educação Superior a Distância
Cam pus UnisulVirtual Rua João Pereira dos Santos, 303 Palhoça - SC - 88130-475 Fone/fax: (48) 3279-1541 e 3279-1542 E-mail: [email protected] Site: www.virtual.unisul.br
Reitor Unisul Gerson Luiz Joner da Silveira
Vice-Reitor e Pró-Reitor
Acadêm ico Sebastião Salésio Heerdt
Chefe de gabinete da Reitoria Fabian Martins de Castro Pró-Reitor Adm inistrativo Marcus Vinícius Anátoles da Silva Ferreira
Cam pus Sul Diretor: Valter Alves Schmitz Neto Diretora adjunta: Alexandra Orsoni
Cam pus Norte Diretor: Ailton Nazareno Soares Diretora adjunta: Cibele Schuelter
Cam pus UnisulVirtual Diretor: João Vianney Diretora adjunta: Jucimara Roesler Equipe UnisulVirtual
Adm inistração Renato André Luz Valmir Venício Inácio
Bibliotecária Soraya Arruda W altrick
Coordenação dos Cursos Adriano Sérgio da Cunha Ana Luisa Mülbert
Ana Paula Reusing Pacheco Cátia Melissa S. Rodrigues (Auxiliar) Charles Cesconetto Diva Marília Flemming Itamar Pedro Bevilaqua Janete Elza Felisbino Jucimara Roesler Lilian Cristina Pettres (Auxiliar) Lauro José Ballock Luiz Guilherme Buchmann Figueiredo Luiz Otávio Botelho Lento Marcelo Cavalcanti Mauri Luiz Heerdt Mauro Faccioni Filho M ichelle Denise Durieux Lopes Destri Moacir Heerdt Nélio Herzmann Onei Tadeu Dutra Patrícia Alberton Patrícia Pozza Raulino Jacó Brüning Rose Clér E. Beche
Design Gráfico Cristiano Neri Gonçalves Ribeiro (coordenador) Adriana Ferreira dos Santos Alex Sandro Xavier Evandro Guedes Machado Fernando Roberto Dias Zimmermann Higor Ghisi Luciano Pedro Paulo Alves Teixeira Rafael Pessi Vilson Martins Filho
Equipe Didático-Pedagógica Angelita Marçal Flores Carmen Maria Cipriani Pandini Caroline Batista Carolina Hoeller da Silva Boeing Cristina Klipp de Oliveira Daniela Erani Monteiro W ill Dênia Falcão de Bittencourt Enzo de Oliveira Moreira Flávia Lumi Matuzawa Karla Leonora Dahse Nunes Leandro Kingeski Pacheco
Ligia Maria Soufen Tumolo Márcia Loch Patrícia Meneghel Silvana Denise Guimarães Tade-Ane de Amorim Vanessa de Andrade Manuel Vanessa Francine Corrêa Viviane Bastos Viviani Poyer Logística de Encontros Presenciais Marcia Luz de Oliveira (Coordenadora) Aracelli Araldi Graciele Marinês Lindenmayr José Carlos Teixeira Letícia Cristina Barbosa Kênia Alexandra Costa Hermann Priscila Santos Alves
Logística de M ateriais Jeferson Cassiano Almeida da Costa (coordenador) Eduardo Kraus
M onitoria e Suporte Rafael da Cunha Lara (coordenador) Adriana Silveira Caroline Mendonça Dyego Rachadel Edison Rodrigo Valim Francielle Arruda Gabriela Malinverni Barbieri Gislane Frasson de Souza Josiane Conceição Leal Maria Eugênia Ferreira Celeghin Simone Andréa de Castilho Vinícius Maycot Serafim Produção Industrial e Suporte Arthur Emmanuel F. Silveira (coordenador) Francisco Asp Projetos Corporativos Diane Dal Mago Vanderlei Brasil
Secretaria de Ensino a Distância Karine Augusta Zanoni (secretária de ensino) Ana Paula Pereira Djeime Sammer Bortolotti Carla Cristina Sbardella Grasiela Martins James Marcel Silva Ribeiro Lamuniê Souza Liana Pamplona Maira Marina Martins Godinho Marcelo Pereira Marcos Alcides Medeiros Junior Maria Isabel Aragon Olavo Lajús Priscilla Geovana Pagani Silvana Henrique Silva
Secretária Executiva Viviane Schalata Martins
Tecnologia Osmar de Oliveira Braz Júnior (coordenador) Ricardo Alexandre Bianchini Rodrigo de Barcelos Martins
Edição --- Livro Didático
Professoras Conteudistas Karen Christine Rechia Leonete Luzia Schmidt Rosmeri Schardong
Design Instrucional Viviani Poyer
Projeto Gráfico e Capa Equipe UnisulVirtual
Diagram ação Vilson Martins Filho
Revisão Ortográfica B2B

Apresentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
Palavras das professoras conteudistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
Plano de estudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UNIDADE 1 – História da Educação: objetos, abordagens e fontes . . . . 17
UNIDADE 2 – As práticas educativas medievais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
UNIDADE 3 – Os colégios modernos e a pedagogia jesuítica . . . . . . . . . 65
UNIDADE 4 – A infância e a pedagogia moderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Para concluir o estudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Referências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Sobre as professoras conteudistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Respostas e comentários das atividades de auto-avaliação . . . . . . . . . . . . 119
Sumário
historia_educacao_I.indb 7historia_educacao_I.indb 7 13/10/2006 15:05:2213/10/2006 15:05:22

historia_educacao_I.indb 8historia_educacao_I.indb 8 13/10/2006 15:05:2213/10/2006 15:05:22

Palavras das professoras
Caro estudante,
Os livros de História da Educação estão organizados de modo a abarcar o estudo dos tradicionais períodos históricos, começando pela Antiguidade, passando pela Idade Média e Moderna e chegando à Idade Contemporânea. Por tratar-se de um período extensivamente longo, acaba-se por fazer um estudo panorâmico.
Mesmo seguindo alguns desses períodos, optamos em fazer algumas escolhas. Iniciamos o presente livro apresentando um pouco das atuais discussões que permeiam o campo de estudos e pesquisas em História da Educação. Veremos aí que é possível estudar a História da Educação sob diferentes abordagens e temas e a partir de diferentes fontes.
Em seguida, você irá conhecer o contexto histórico da chamada Idade Média Ocidental, para situar e compreender algumas práticas educativas relacionadas a este período, como a educação feminina, a educação nas corporações de ofícios, a formação dos cavaleiros e a constituição das universidades.
Quanto à época moderna, optamos por enfocar aspectos da cultura escolar presentes nos colégios modernos e na pedagogia jesuítica, os quais ajudarão a compreender muitas das atuais características de nossas instituições de ensino.
Para fi nalizar, discutiremos a infância e a pedagogia moderna, apresentando alguns aspectos da trajetória histórica da infância. Também enfatizamos a constituição de uma nova concepção de infância na modernidade e como esta derivou na pedagogização dos conhecimentos e no disciplinamento dos sujeitos.
historia_educacao_I.indb 9historia_educacao_I.indb 9 13/10/2006 15:05:2213/10/2006 15:05:22

Quanto às questões educacionais do período contemporâneo, século XIX e XX, acreditamos que, em outras disciplinas, você terá a oportunidade de discuti-las com mais propriedade.
Procuramos, no decorrer do livro, indicar fontes extras de pesquisa para que você possa, na medida do seu interesse e disponibilidade, aprofundar os temas apresentados.
Boa aprendizagem!
Professoras Karen, Leonete e Rosmeri
historia_educacao_I.indb 10historia_educacao_I.indb 10 13/10/2006 15:05:2213/10/2006 15:05:22

Plano de estudo
O plano de estudos visa orientá-lo/la no desenvolvimento da Disciplina. Nele, você encontrará elementos que esclarecerão o contexto da Disciplina e sugerirão formas de organizar o seu tempo de estudos.
O processo de ensino e aprendizagem na UnisulVirtual leva em conta instrumentos que se articulam e se complementam. Assim, a construção de competências se dá sobre a articulação de metodologias e por meio das diversas formas de ação/mediação.
São elementos desse processo:
o livro didático;
o Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem - EVA;
as atividades de avaliação (complementares, a distância e presenciais).
Ementa
História da educação: objetos, abordagens e fontes. As práticas educativas medievais. Os colégios modernos e a pedagogia jesuítica. Educação e infância na modernidade.
Carga Horária
60 horas – 4 créditos.
historia_educacao_I.indb 11historia_educacao_I.indb 11 13/10/2006 15:05:2213/10/2006 15:05:22

12
Objetivos
Identifi car as concepções de História que implicam em diferentes abordagens acerca da História da Educação, bem como analisar o uso de diferentes fontes de pesquisa nesta área, assim como a ampliação e multiplicidade de temas ou objetos de pesquisa nas últimas décadas.
Conhecer as práticas educativas medievais e modernas.
Identifi car as principais características da pedagogia jesuítica.
Analisar alguns modos de tratamento dispensados à infância em diferentes períodos históricos.
Compreender o processo de pedagogização dos conhecimentos e disciplinarização dos sujeitos na modernidade.
Reconhecer as diferenças entre as formas educacionais no tempo e em sociedades distintas.
Relacionar o panorama histórico com as idéias pedagógicas e suas aplicações educacionais.
Identifi car os sujeitos/grupos sociais que foram atingidos ou excluídos pelas instituições educacionais ao longo do tempo.
Conteúdo programático/objetivos
Veja, a seguir, as unidades que compõem o Livro Didático desta Disciplina e os seus respectivos objetivos. Estes se referem aos resultados que você deverá alcançar ao fi nal de uma etapa de estudo. Os objetivos de cada unidade defi nem o conjunto de conhecimentos que você deverá possuir para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à sua formação.
Unidades de estudo: 4
historia_educacao_I.indb 12historia_educacao_I.indb 12 13/10/2006 15:05:2213/10/2006 15:05:22

13
Nome da disciplina
Unidade 1 - IHistória da Educação: objetos, abordagens e fontes
Nesta unidade, pretende-se discutir concepções de História que implicam em diferentes abordagens acerca da História da Educação. Também abordar-se-á o uso de diferentes fontes de pesquisa nesta área, assim como a ampliação e multiplicidade de temas ou objetos de pesquisa nas últimas décadas. idéias.
Unidade 2 – As práticas educativas medievais
O estudo desta unidade lhe proporcionará conhecer o contexto histórico da Idade Média, bem como algumas práticas educativas desenvolvidas nesse período, como a educação das mulheres, a educação dos cavaleiros e a educação nas corporações de ofícios. Você estudará, ainda, a formação das universidades medievais.
Unidade 3 – Os colégios modernos e a pedagogia jesuítica
Esta unidade iniciará discutindo a constituição e as características dos colégios modernos no século XVI, bem como a pedagogia jesuítica, sistematizada a partir da Ratio Studiorum (1599), e sua infl uência na constituição de um determinado modelo de escola e sujeito.
Unidade 4 – A infância e a pedagogia moderna
Nesta unidade, você verá as principais características que a pedagogia e a escola moderna adquiriram em função das novas concepções sobre a criança desenvolvidas no período. Para entender a concepção de infância do período moderno, você iniciará o estudo desta unidade vendo como a infância foi tratada em diferentes momentos históricos. Verá que a partir do Renascimento institui-se uma nova concepção de infância que resultará num processo de pedagogização dos conhecimentos e disciplinarização dos sujeitos.
historia_educacao_I.indb 13historia_educacao_I.indb 13 13/10/2006 15:05:2313/10/2006 15:05:23

14
Universidade do Sul de Santa Catarina
Agenda de atividades/ Cronograma
Verifi que com atenção o EVA, organize-se para acessar periodicamente o espaço da Disciplina. O sucesso nos seus estudos depende da priorização do tempo para a leitura; da realização de análises e sínteses do conteúdo; e da interação com os seus colegas e tutor.
Não perca os prazos das atividades. Registre no espaço a seguir as datas, com base no cronograma da disciplina disponibilizado no EVA.
Use o quadro para agendar e programar as atividades relativas ao desenvolvimento da Disciplina.
historia_educacao_I.indb 14historia_educacao_I.indb 14 13/10/2006 15:05:2313/10/2006 15:05:23

15
Nome da disciplina
Atividades
Avaliação a Distância 1
Avaliação a Distância 2
Avaliação Presencial 1
Avaliação Presencial 2 (2ª. chamada)
Avaliação Final (caso necessário)
Demais atividades (registro pessoal)
historia_educacao_I.indb 15historia_educacao_I.indb 15 13/10/2006 15:05:2313/10/2006 15:05:23

historia_educacao_I.indb 16historia_educacao_I.indb 16 13/10/2006 15:05:2313/10/2006 15:05:23

UNIDADE 1
História da educação: objetos, abordagens e fontes
Objetivos de aprendizagem
Identifi car as concepções de História que implicam em diferentes abordagens acerca da História da Educação.
Analisar o uso de diferentes fontes de pesquisa nesta área, assim como a ampliação e multiplicidade de temas ou objetos de pesquisa nas últimas décadas.
Seções de estudo
Seção 1 Concepções de História e de História da Educação.
Seção 2 Abordagens teórico-metodológicas para a escrita da História.
Seção 3 Fontes e objetos para a História da Educação.
1
historia_educacao_I.indb 17historia_educacao_I.indb 17 13/10/2006 15:05:2313/10/2006 15:05:23

18
Universidade do Sul de Santa Catarina
Para início de estudo
Nesta unidade introdutória, pretende-se discutir com você algumas questões relacionadas ao debate contemporâneo em torno da História da Educação. Para isso iniciaremos analisando os “termos” educação, história e história da educação.
Em seguida, traçaremos um rápido perfi l das principais tendências historiográfi cas que marcaram e têm marcado o campo da História da Educação, para, na seqüência, abordarmos a questão dos possíveis objetos e fontes a serem explorados pela área.
Acreditamos que é importante para o estudo da História da Educação situar-se, mesmo que de forma aproximativa, de algumas questões atuais que têm norteado sua discussão.
Destacamos que a área da História da Educação ou o campo da História da Educação tem passado, nos últimos tempos, por profundas discussões que, por um lado, contribuem para o avanço teórico-metodológico e para as novas possibilidades de investigação, mas, por outro, difi cultam, em função das inúmeras questões que fi cam em aberto.
SEÇÃO 1 - Concepções de História e de História da Educação
Acreditamos que, para iniciarmos nossas discussões, seja interessante você refl etir um pouco sobre os termos educação, história e história da educação. Assim, gostaríamos que nos espaços, a seguir, você registrasse seu conhecimento sobre:
historia_educacao_I.indb 18historia_educacao_I.indb 18 13/10/2006 15:05:2313/10/2006 15:05:23

19
História da Educação I
Unidade 1
O que é educação?
O que é história?
O que é história da educação?
Não temos aqui a pretensão de esgotar a discussão sobre tais termos, principalmente devido a seus múltiplos sentidos, mas apenas problematizá-los. Quando realizamos essa atividade de sondagem com nossas turmas presenciais, é bastante comum relacionar-se o termo educação com escola e ensino e história com o estudo do passado. Embora isso não seja incorreto, é preciso ampliar essa compreensão. Não pretendemos oferecer respostas prontas e acabadas, já que esses termos/conceitos são historicamente construídos, ou seja, ligados à prática social e, portanto, variáveis no tempo e no espaço histórico-social.
Assim, quanto à educação, podemos dizer, dentre inúmeras outras formas, que é o processo de formação do ser humano, um processo que ocorre no decorrer da sua existência e em diferentes espaços formais e não formais. Como diria Carlos Rodrigues Brandão, “ninguém escapa da educação”.
historia_educacao_I.indb 19historia_educacao_I.indb 19 13/10/2006 15:05:2313/10/2006 15:05:23

20
Universidade do Sul de Santa Catarina
Quanto à História, Ghiraldelli Jr. diz que há, “entre outros, dois signifi cados básicos. Ele se refere tanto aos processos de existência e vida real dos homens no tempo como ao estudo científi co, à pesquisa e ao relato estruturado desses processos humanos.” (1994, p. 11).
Gostaríamos, ainda, de destacar que, embora o ensino tradicional de história enfatize fatos isolados e apenas alguns indivíduos como promotores da história, em nosso entender ela é construída cotidianamente pelos grupos humanos, num tempo e espaço determinados, componentes do que se chama o processo histórico.
Nesse sentido, o poema, a seguir, do escritor alemão Bertold Brecht (1898-1956) nos dá um pouco essa dimensão e nos alerta para estarmos atentos a outras histórias e a outros sujeitos históricos.
PERGUNTAS DE UM TRABALHADOR QUE LÊ
Quem construiu a Tebas de sete portas?
Nos livros estão nomes de reis.
Arrastaram eles os blocos de pedra?
E a Babilônia várias vezes destruída
Quem a reconstruiu tanta vezes? Em que casas
Da Lima dourada moravam os construtores?
Para onde foram os pedreiros, na noite em que
a Muralha da China fi cou pronta?
A grande Roma está cheia de arcos do triunfo
Quem os ergueu? Sobre quem
Triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio
Tinha somente palácios para os seus habitantes? Mesmo
na lendária Atlântida
Os que se afogavam gritaram por seus escravos
Na noite em que o mar a tragou.
O jovem Alexandre conquistou a Índia.
Sozinho?
César bateu os gauleses.
Não levava sequer um cozinheiro?
historia_educacao_I.indb 20historia_educacao_I.indb 20 13/10/2006 15:05:2313/10/2006 15:05:23

21
História da Educação I
Unidade 1
Mas se a História não é um conjunto de explicações e de certezas sobre fatos e acontecimentos do passado, há outra(s) forma (s) de escrevê-la?
Segundo Veiga, historiadores como Jacques Le Goff e Peter Burke, entre outros, observam que a historiografi a que se consolidou no século XIX foi aquela caracterizada pela narrativa dos eventos políticos. Isto porque, naquele momento, muitos Estados/Nação estavam sendo constituídos, criados.
Neste contexto, ainda conforme Veiga, a História como disciplina escolar foi organizada na perspectiva pragmática da formação do cidadão, bem como na utilização dos registros ofi ciais para a escrita da História, como critério de cientifi cidade.
Peter Burke diz que, apesar de existirem outros estudos históricos que contemplassem outros objetos “a história política era considerada (ao menos no âmbito da profi ssão) mais real ou mais séria que o estudo da sociedade ou da cultura”. (apud Veiga, 2003, p. 20).
A idéia predominante na época era de que o conhecimento produzido a partir de fontes ofi ciais, com base somente no conteúdo de documentos escritos, assegurava a História, baseada na escrita dos historiadores, como verdade absoluta.
Filipe da Espanha chorou, quando sua Armada
Naufragou. Ninguém mais chorou?
Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos.
Quem venceu além dele?
Cada página uma vitória.
Quem cozinhava o banquete?
A cada dez anos um grande Homem.
Quem pagava a conta?
Tantas histórias.
Tantas questões.
(disponível em <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/bronze.pdf>)
A Historiografi a constitui-se num campo de estudo sobre a própria forma de se produzir e escrever a História. Esta forma está associada a quem escreve e, portanto, leva em conta a sociedade e época na qual o indivíduo está inserido. (verbete Historiografi a, In: Dicionário de Conceitos Históricos, 2005, pp. 189-193). Para compreender melhor a trajetória deste conceito, acessar <http://eaprender.ig.com.br/ensinar.asp?RegSel=150&Pagina=6#materia>
O Brasil passa a ser constituído enquanto Estado/Nação a partir de 1822, com a proclamação da independência. Anterior a esta data, ele era uma colônia pertencente e administrada por Portugal.
historia_educacao_I.indb 21historia_educacao_I.indb 21 13/10/2006 15:05:2413/10/2006 15:05:24

22
Universidade do Sul de Santa Catarina
Este tipo de História, voltada predominantemente para os fatos políticos e organizada de maneira cronológica, tendo como sujeitos os “personagens ilustres” e os “heróis” eleitos de cada
época (possivelmente aquela História que muitos de nós aprendemos na escola), vai sendo questionada e dando lugar a outras concepções.
Isso não signifi ca que a História factual e política tenham deixado de existir e nem mesmo que não tenham sua importância. O problema, conforme os historiadores, diz
respeito ao método ou a abordagem utilizada para escrever a História, questão que você verá na seção 2, desta unidade.
Quanto à História da Educação, uma primeira questão a destacar é que ela surgiu no fi nal do século XIX, na Europa, como uma disciplina dos Cursos Normais, ou seja, dos cursos que formavam professores. No Brasil, também a disciplina História da Educação foi gerada no interior das escolas normais, estando sempre acompanhada de perto pela Filosofi a da Educação. Segundo Lopes,
(...)essa associação com a Filosofi a da Educação contribuiu para que uma das vertentes mais pesquisadas na História da Educação fosse exatamente a história das idéias pedagógicas e a fonte privilegiada para esse tipo de investigação fosse a obra dos grandes pensadores. (2005, p. 28)
Reforça, ainda, Lopes (2005, p, 29) que “o fato de a trajetória da História da Educação estar relacionada à Pedagogia e ao ensino difi cultou sua constituição como uma área de pesquisa propriamente dita.”
- Agora, sugerimos que você, antes de dar continuidade à leitura, refl ita um pouco sobre a seguinte quest ão:
História da educação é um campo que pertence à História ou à Educação?
historia_educacao_I.indb 22historia_educacao_I.indb 22 13/10/2006 15:05:2413/10/2006 15:05:24

23
História da Educação I
Unidade 1
Existem diversos entendimentos entre os historiadores da educação sobre o lugar da História da Educação em relação à História. Para uns, ela é defi nida como uma especialização da História, para outros como um objeto, para outros, ainda, como um sub-campo.
Para melhor compreender, a História da Educação foi retirada do campo da História e convertida em abordagem ou em enfoque. “O que signifi cou não ter sido instituída como especialização temática da História, mas como ciência da educação ou como ciência auxiliar da educação” (WARDE, 1990, p.3-11).
Segundo ela, esse processo que retira a História da Educação do campo da História e que a inseriu entre as ciências da educação está associado ao processo que a transformou em disciplina escolar, nos cursos de formação de professores, a partir dos anos 30. Nesse processo, ela foi separada do campo da História e, ao mesmo tempo, colocada em segundo plano no campo da educação.
O fato de ser transformada em disciplina escolar com objetivos institucionais e de formação de professores e pedagogos foi o que impediu, até muito recentemente, a constituição da História da Educação “como campo de investigação historiográfi ca capaz de se auto delimitar e de defi nir, a partir de sua própria prática disciplinar, dinâmicas de constituições de questões, temas e objetos.” (CARVALHO, 1997, p.6).
É importante ressaltar que é muito recente a consolidação da História da Educação como campo de investigação científi ca no Brasil, e que, talvez até em função disso, exista ainda pouco diálogo entre historiadores e historiadores da educação.
De acordo com Veiga (2003, p. 19), essa ausência de diálogo difi culta o entendimento da educação como objeto de investigação da História e permite que ela continue a ser vista como sub-campo ou especialização da História.
Contudo, apesar de se constituir historicamente e inicialmente como uma disciplina escolar, a História da Educação tem-se consolidado, nas duas últimas décadas, cada vez mais como um campo de estudos e pesquisas.
historia_educacao_I.indb 23historia_educacao_I.indb 23 13/10/2006 15:05:2413/10/2006 15:05:24

24
Universidade do Sul de Santa Catarina
Se durante muitos anos essas pesquisas restringiram-se à análise do pensamento pedagógico e das políticas educacionais, devido também a grande infl uência da Filosofi a, nos últimos
anos, devido à infl uência da Nova História, como veremos na próxima seção, e à aproximação com outras áreas de conhecimento, como a Antropologia e a Lingüística, outras temas de pesquisa têm sido investigados e ampliaram nosso conhecimento sobre a História da Educação.
Veiga observa que a educação tem apresentado um campo muito vasto de temáticas e o papel da História da Educação deve ser o de investigar e tornar visível diferentes objetos: a escola, o professor, os alunos, materiais escolares, processos e formas de aprendizagem, entre tanto outros.
Os temas de pesquisa no âmbito da História da Educação acompanharam e acompanham diferentes correntes teórico-metodológicas. Assim, julgamos importante discutir, na próxima seção, algumas das perspectivas que orientaram e têm orientado as pesquisas nesse campo.
Seção 2 - Abordagens teórico-metodológicas para a escrita da História
Para você compreender melhor o que foi falado até agora, é necessário um breve panorama sobre principais infl uências na historiografi a, ou seja, na forma de “contar” a História.
A primeira infl uência que destacamos é o Positivismo. Doutrina surgida no século XIX e associada a Augusto Comte compreendia a ciência como domínio da natureza e sinônimo de progresso. Portanto, o conhecimento científi co deveria basear-se na observação dos fatos e na experimentação, para a elaboração de leis gerais.
Neste sentido, para demonstrar a evolução do homem na história da humanidade, elabora a lei dos três estágios: o teológico, o metafísico e o positivo. No primeiro estágio, a explicação dos
Figura: Pintura Grega
Fonte: http://paginas.terra.com.br/arte/mundoantigo/grecia
Auguste Comte (1798-1857) nasceu em Montpellier, de família modesta ‘eminentemente católica e monárquica’, discípulo e secretário (e depois decidido antagonista) de Saint-Simon. Leitor dos empiristas ingleses, de Diderot, d’Alambert, Turgot e Condorcet. É o iniciador do positivismo francês e o pai ofi cial da sociologia. Ver mais sobre Comte e a lei dos três estágios em <http://socio.tropo.litica.vilabol.uol.com.br/personalidades/augustecomte.htm>
historia_educacao_I.indb 24historia_educacao_I.indb 24 13/10/2006 15:05:2413/10/2006 15:05:24

25
História da Educação I
Unidade 1
fenômenos era atribuída a elementos sobrenaturais, no segundo, a explicação foi legada a entidades abstratas e no terceiro e último – o positivo – a fonte para elucidar estes mesmos fenômenos passaria a ser a razão.
Mas o que nos interessa aqui são algumas características do Positivismo que vão repercutir na forma de escrever a História. Como Comte acreditava ser possível compreender a sociedade e os indivíduos que a compõem através da razão, acabou projetando lógica semelhante à da elaboração das leis naturais para a História, atribuindo ao historiador os critérios de objetividade e neutralidade, utilizados nas ciências físicas e naturais.
Seguindo essa concepção, o conhecimento do passado torna-se fundamental para o entendimento do presente e, conseqüentemente, para a projeção do futuro:
“Assim, o verdadeiro espírito positivo consiste, sobretudo, em ver para prever, em estudar o que é, a fi m de concluir disso o que será, segundo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais.” (COMTE, 1983, p. 50).
Assim, a noção de História preconizada por esta doutrina enfatizava as fontes/documentos escritos, pois só eles portariam a verdade histórica. Grande parte desta documentação remete a fatos políticos, que por sua vez deveriam ser descritos com base numa leitura supostamente objetiva do documento. Ou seja, seria possível compreender os fatos “como eles realmente aconteceram”. (BURKE).
A História numa abordagem positivista ou tradicional, realça sujeitos históricos como governantes, grandes homens e “heróis” selecionados por uma elite política e econômica de cada época. Os fatos históricos são colocados numa linha de tempo linear, dividida por períodos políticos.
Uma das características desta concepção de História é que muitas vezes possibilita um olhar de cima, excluindo-se uma série de sujeitos, temas e grupos sociais que escapam a esta abordagem. Então, nesta perspectiva, a História da Educação estaria associada, devido ao tipo e à forma de trabalho,
Figura: Augusto Comte
Fonte: www.si-educa.net
Para conhecer os diferentes tipos de fontes/documentos e suas defi nições, bem como suas formas de abordagens ao longo do tempo, consultar PINSKY, Carla B. (org.) Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005.
Por História tradicional entende-se que “(...) tradicional é a característica de uma história de classe dominante (ou que em algum momento esteve no poder do Estado).” (CERRI, disponível em <http://www.rhr.uepg.br/v2n2/cerri.htm>).
historia_educacao_I.indb 25historia_educacao_I.indb 25 13/10/2006 15:05:2513/10/2006 15:05:25

26
Universidade do Sul de Santa Catarina
com as fontes/documentos, a um panorama político-institucional no tocante à legislação da política educacional, ao pensamento pedagógico, etc:
A maneira como a história se organizou enquanto ciência e disciplina escolar se confunde com a própria história da educação, que durante muito tempo vinculou-se a uma interpretação essencialmente política, linearizada, confundida com a história das idéias pedagógicas, (...). (VEIGA apud FARIA FILHO, 1998, p. 7)
Essa visão de História, portanto, legitimava/legitima a ordem vigente.
Mas qual é o seu contexto de surgimento?
É importante conhecermos o contexto histórico para que compreendamos o signifi cado e o crescimento de tais teorias. Conforme já falamos no início da seção, o século XIX, ao menos no Ocidente, foi perpassado por discussões acerca dos pressupostos da razão e do conhecimento científi co.
A classe burguesa, que já havia consolidado seu poder econômico, almejava conquistar ou garantir também o poder político. Por ser uma classe que se opunha à velha ordem ou ao Antigo Regime, possuía a simpatia de alguns pensadores e grupos. A sociedade européia, no curso da Revolução Industrial, apresentava uma dicotomia básica, ou seja, a divisão de duas classes sociais: os capitalistas e os proletários.
O estabelecimento das fábricas nas cidades, a mecanização, bem como a descoberta de novas fontes de energia, dinamizaram a produção industrial, promovendo uma concentração de mão-de-obra nas cidades. Na busca de matérias-primas e de mercado consumidor para tal produção, os países europeus expandem-se para a Ásia e África, confi gurando o que se denomina como Imperialismo ou Neocolonialismo do séc. XIX.
Voltando à sociedade européia, percebe-se que essa massa trabalhadora vivia em condições subumanas, com jornadas de
Para compreender melhor as defi nições sobre Antigo Regime, Revolução Industrial e Imperialismo ou Neocolonialismo do séc. XIX, acesse o site: <http://www.historianet.com.br>.
historia_educacao_I.indb 26historia_educacao_I.indb 26 13/10/2006 15:05:2513/10/2006 15:05:25

27
História da Educação I
Unidade 1
trabalho que poderiam chegar a 18 horas diárias, sem direitos trabalhistas, com a presença do trabalho infantil e feminino e precárias condições de moradia, saúde e alimentação. É neste panorama que surge o Positivismo, legitimando a ordem vigente, assim como outra corrente teórica, antagônica na maior parte dos aspectos, com base nos estudos de Karl Marx.
Marx vai estudar profundamente a oposição das classes ao longo da História – que chamará de luta de classes – e a constituição do capitalismo. A teoria marxista é chamada de Materialismo histórico e dialético, toma como objeto de estudo a sociedade burguesa, porém do ponto de vista do trabalho e dos trabalhadores. Como explica Aranha (1996, p. 141):
(...) no lugar das idéias estão os fatos materiais: no lugar dos heróis, a luta de classes. A história se faz com os fatores materiais, econômicos e técnicos que correspondem às condições em que os homens se reúnem para produzir sua existência no trabalho.
Portanto, é nas contradições entre as classes antagônicas e do desenvolvimento das próprias forças produtivas de cada época, que se percebe a superação de uma classe sobre a outra, de um modelo, ou modo de produção sobre o outro.
É claro que estamos simplifi cando as idéias de tal teoria, no entanto, o que nos interessa aqui, é compreender a visão de História advinda de tal teoria. Por isso, podemos compreender que a História é movimento, pois pressupõe a ação de indivíduos reais, a partir de certas condições materiais de vida, no sentido de superá-las. A imagem do passado, portanto, também é construída a partir dos interesses de uma classe, dessa forma, a História não é neutra, nem objetiva, como dizia o Positivismo.
Karl Marx (1818-1883) nasceu na Alemanha. Sua existência foi dedicada à luta da classe trabalhadora. A revolução russa de 1917, que criaria a União Soviética (URSS), a revolução chinesa de 1949, a revolução cubana de 1919 são alguns exemplos de revoluções que se diziam inspiradas em suas idéias. Disponível em <http://socio.tropo.litica.vilabol.uol.com.br/personalidades/karlmarx.htm>.
Figura: Karl Marx
Fonte: www.unifi cado.com.br
historia_educacao_I.indb 27historia_educacao_I.indb 27 13/10/2006 15:05:2513/10/2006 15:05:25

28
Universidade do Sul de Santa Catarina
Tal noção de História, por ser calcada no desenvolvimento de processos materiais, ou de modos de produção, traduz-se numa visão economicista e linear, pois a “linha da História”, numa sucessão de superação dos modos de produção, levaria ao Comunismo (esta linearidade também está presente na lei dos três estágios de Comte).
De qualquer forma, desloca-se o foco do político para o econômico e ao mesmo tempo, permite-se, ao considerar a classe trabalhadora como fundamental, uma “história vista de baixo”.
Assim, a História, como a História da Educação, também constituiu outros campos de estudo e conhecimento da realidade, a partir desta teoria. Nessa linha, a educação pode ser vista como a reprodução da sociedade ou a sua superação, através da conscientização de uma classe oprimida.
A última corrente que abordaremos aqui, no sentido de compreender as formas de escrever a História e, portanto, a História da Educação, como falamos no início da seção, é a Nova História.
A Nova História e suas derivações, que são muitas e trataremos apenas de uma delas, a História Cultural – é uma corrente dentro da própria História, diferente das duas anteriores.
A expressão Nova História passou a ser amplamente conhecida através da obra “La nouvelle historie”, do historiador francês Jacques Le Goff (1978).
No entanto, é necessário que voltemos no tempo, pois ela é fruto de todo um movimento anterior. Na década de 20, do século XX, um grupo de historiadores franceses promove uma espécie de reação à História excessivamente política e as suas principais propostas podem ser assim resumidas:
Em primeiro lugar, a substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por uma história-problema. Em segundo lugar, a história de todas as atividades humanas e não apenas da história política. Em terceiro
historia_educacao_I.indb 28historia_educacao_I.indb 28 13/10/2006 15:05:2613/10/2006 15:05:26

29
História da Educação I
Unidade 1
lugar, visando completar os dois primeiros objetivos, a colaboração com outras disciplinas, tais como a geografi a, a sociologia, a psicologia, a economia, a lingüística, a antropologia social e tantas outras. (BURKE, 1992, pp. 11-12).
Muitas destas propostas foram apresentadas numa publicação criada em 1929, chamada Revista dos Annales, tendo a frente Marc Bloch e Lucien Febvre. Ao privilegiar a História econômica e social, este movimento, segundo o historiador Peter Burke, pode ser percebido em três gerações e a última seria a dos anos 70. Essa geração pode ser vista como uma continuidade, em certos aspectos, mas também como ruptura com as anteriores.
Quais características são fundamentais nesta nova forma de ver e escrever a História?
Veja a seguir:
Se a História deve considerar todas as atividades humanas, tudo tem história, portanto, novos temas foram incorporados à historiografi a, como: a morte, as festas, a infância, o corpo, a alimentação, os odores, a família etc.
Uma “história vista de baixo”, que leve em conta as pessoas comuns, desconhecidas, em seu contexto de tempo e espaço.
A abertura para outros documentos e fontes - não só os escritos – como fotografi as, pinturas, histórias orais, objetos, etc. Muitos são os registros necessários se pensarmos nas atividades e experiências humanas.
A História é construída a partir do ponto de vista de quem a escreve e das fontes selecionadas ou disponíveis no momento. Portanto, não é possível contar a História como ela realmente aconteceu.
Para saber mais sobre o movimento dos Annales e seus desdobramentos, acesse: <http://www.ohistoriador.hpg.ig.com.br/annales.htm> e também <http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=607>
historia_educacao_I.indb 29historia_educacao_I.indb 29 13/10/2006 15:05:2613/10/2006 15:05:26

30
Universidade do Sul de Santa Catarina
Não há uma única verdade em um contexto histórico, assim como também o historiador não é neutro e detém um ponto de vista (relacionado às idéias de sua época e ao lugar que ocupa).
Nesta concepção, vários objetos e abordagens conquistam espaço, como o cotidiano, as mentalidades, a historia social e, atualmente, a partir das discussões acerca da cultura no campo historiográfi co e principalmente metodológico, como a História Cultural. Dentre estes campos de investigação, Pesavento aponta a História das cidades, da literatura, da imagem das identidades, do tempo presente, da memória e da historiografi a. (apud FONSECA, 2003, p. 53).
No campo educacional, esta tendência da História está expressa em recentes pesquisas na área. Um dos historiadores da História Cultural que tem sido muito utilizada na História da Educação é Roger Chartier devido as suas pesquisas sobre a História da leitura e dos impressos. Neste sentido, você já percebeu que a História Cultural vai infl uenciar e, até mesmo, renovar os objetos e abordagens nesta área, como veremos na seção a seguir.
Seção 3 - Fontes e objetos para a História da Educação
O que vem a sua mente quando aparece a palavra fonte? Registre a seguir:
Se lhe veio à cabeça a palavra nascente ou, até mesmo, o lugar onde nasce, brota ou emerge a água, ou se você pensou em algo referente ao mencionado, não está errado(a). Fonte é o lugar de onde sai algo, ou melhor dizendo, fonte é a origem
Para saber mais acerca das idéias e pesquisas deste historiador que tem infl uenciado muitos trabalhos em História da Educação no Brasil, leia estas duas entrevistas: http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2479,1.shl e <http://www.multirio.rj.gov.br/portal/riomidia/rm_entrevista_conteudo.asp?idioma=1&idMenu=4&label=Entrevistas&v_nome_area=Entrevistas&v_id_conteudo=51218>.
historia_educacao_I.indb 30historia_educacao_I.indb 30 13/10/2006 15:05:2613/10/2006 15:05:26

31
História da Educação I
Unidade 1
de alguma coisa. E é por isso que o conhecimento produzido sobre a História da Educação também sai de alguma fonte, também tem origem.
Para deixar mais clara esta questão, buscamos junto a alguns autores que vêm estudando a História da Educação nas últimas décadas, algumas contribuições sobre seu entendimento sobre fontes, bem como exemplos de fontes por eles utilizados para produção da historiografi a educacional.
Com relação à palavra ‘fonte’, Saviani (2004, pp. 5-7) diz que ela apresenta, via de regra, duas conotações. Uma signifi ca ponto de origem, o lugar onde brota algo que se projeta e se desenvolve indefi nidamente e inesgotavelmente. Outra indica a base, o ponto de apoio, o repositório dos elementos que defi nem os fenômenos cujas características busca-se compreender.
Ele observa que, como ponto de origem, fonte é sinônimo de nascente que corresponde também à manancial, o qual, entretanto, no plural, já se liga a um repositório abundante de elementos que atendem à determinada necessidade. No entanto, a palavra nascente, assim como manancial, é usada apenas para se referir ao ponto de origem de um curso ou corrente de água.
O mesmo autor observa que, no caso da História, não se pode falar em fontes naturais já que todas as fontes históricas, por defi nição, são construídas, isto é, são produções humanas (salvo quando a questão for relativa a uma possível História natural, que não é o caso aqui – observação do autor). Além disso, é preciso considerar que, a rigor, a palavra fonte é usada em História com sentido analógico. Ou seja, não se trata de considerar as fontes como origem do fenômeno histórico considerado.
As fontes estão na origem, constituem o ponto de partida, a base, o ponto de apoio da construção historiográfi ca que é a reconstrução, no plano do conhecimento, do objeto histórico estudado. Assim as fontes históricas não são a fonte da história, ou seja, não é delas que brota e fl ui a história. Elas enquanto registros, enquanto testemunhos dos atos históricos, são a fonte do nosso conhecimento histórico. (SAVIANI, 2004, p.5)
historia_educacao_I.indb 31historia_educacao_I.indb 31 13/10/2006 15:05:2613/10/2006 15:05:26

32
Universidade do Sul de Santa Catarina
Ainda segundo Saviani, a analogia não se limita apenas ao caráter de origem, também o caráter de inesgotabilidade transpõe-se analogicamente para a historiografi a. Ou seja, sempre que a elas retornamos, tendemos a encontrar novos elementos, novos signifi cados, novas informações que nos tinham escapado nas
vezes anteriores.
De acordo com ele, podemos distinguir as fontes entre aquelas que se constituem de modo espontâneo e aquelas que produzimos intencionalmente.
As primeiras são aquelas que encontramos nos vários tipos de acervos com as mais diferentes formas. São
documentos, vestígios, indícios que foram acumulando ou que foram guardados. Entre eles estão a multidão de papéis existentes nas bibliotecas e nos arquivos públicos ou privados, as inúmeras peças guardadas nos museus, dentre muitos outros objetos que adquirem o estatuto de fonte diante do historiador, na medida em que estes buscam neles respostas às questões levantadas.
As segundas são aquelas que os educadores ou historiadores preservam para que, no futuro, novos pesquisadores possam compreender seu passado que é o nosso presente. Entre estas fontes encontram-se tanto materiais de trabalho como de pesquisa. Além disso, há ainda as fontes produzidas a partir de registros de testemunhos orais, nos quais nos apoiamos em nossa investigação.
Falando de História de instituições escolares, por exemplo, Werle (2004, p.14) diz que seus conteúdos resultam, em parte, da descoberta do pesquisador junto aos arquivos e outras formas de apropriação obtidas através de depoimentos orais ou escritos e de outros meios de expressão.
Mas nem sempre foi assim. É importante relembrar, como já vimos na primeira seção, que a História da Educação confi gurou-se primeiramente como disciplina escolar e, como nos coloca Fonseca:
(...) teve sua trajetória marcada pelas relações estabelecidas com o conhecimento produzido em outros
historia_educacao_I.indb 32historia_educacao_I.indb 32 13/10/2006 15:05:2613/10/2006 15:05:26

33
História da Educação I
Unidade 1
campos, como a fi losofi a e a Psicologia. Tratava-se de elaborar um conjunto de saberes sobre a história das idéias pedagógicas que tivesse função prática na formação dos professores e pedagogos. (In: VEIGA, 2003, p. 56)
O estudo das idéias pedagógicas acabou caracterizando as pesquisas nesta área. Um outro tipo de análise, mas na mesma concepção, ocupa lugar de destaque em obras de História da Educação no Brasil, por exemplo, que é a organização dos sistemas de ensino associada às políticas educacionais do Estado. A fonte ou documento utilizado por esta abordagem era unicamente o registro escrito, notadamente a evolução da legislação educacional.
Lembre-se do que já vimos sobre a concepção positivista e perceba as semelhanças!
Ainda no Brasil, Ghiraldelli jr. aponta que nos anos 80, Dermeval Saviani e seu grupo na Unicamp, numa perspectiva marxista, fazem questionamentos à condução dos planos e do campo de pesquisa da História da Educação:
(...) ora eram construídos a partir de uma visão determinada, ora seguiam um ecletismo em que passava-se em revista as instituições educacionais e/ou doutrinas pedagógicas da Grécia Antiga até a época contemporânea. (GHIRALDELLI Jr, 2003. p. 242.)
A trajetória da História da Educação é marcada pelas concepções que esboçamos na seção anterior. Aproxima-se atualmente da História Cultural, como campo de investigação e muitas vezes é vista como uma dimensão do universo cultural em estudo. Alguns historiadores, dentre eles Pierre Nora e Roger Chartier (que já citamos anteriormente), pesquisaram temas relacionados a este campo como os livros e a leitura, a escolarização, entre outros, numa abordagem diferente, tanto da tradição positivista, quanto da marxista.
historia_educacao_I.indb 33historia_educacao_I.indb 33 13/10/2006 15:05:2713/10/2006 15:05:27

34
Universidade do Sul de Santa Catarina
Como exemplos de fontes que os historiadores da educação vêm se apoiando nos últimos tempos para produzir o conhecimento sobre a área podem ser citados:
documentos (ofi ciais ou não);
legislação;
arquivos institucionais públicos e privados dentre eles os escolares;
arquivos pessoais (como baú de memórias, ou seja, informações que uma pessoa guarda como fotos, diários, correspondências, dentre outros);
dados estatísticos;
literatura;
produção bibliográfi ca;
livros didáticos;
pinturas e outras obras de arte; fotografi a;
memórias (entrevistas e histórias de vida);
arquitetura de prédios escolares; objetos escolares (desde tinteiros até cadernos e mobílias existentes no interior de uma escola).
Conforme Fonseca, na História da Educação no Brasil, por exemplo, novos temas têm sido considerados, como a História da leitura e dos impressos escolares, “a história da profi ssão docente, os processos de escolarização, a cultura escolar e as práticas educativas e pedagógicas.” (FONSECA, 2003, p.61) Em alguns casos, antigos temas ou pesquisas, como as idéias pedagógicas e o sistema escolar têm sido revistos.
Um exemplo disto são alguns estudos atuais sobre o período colonial que, ao invés de focarem apenas na escolarização formal relacionada à presença dos jesuítas e depois à administração pombalina, levam em conta outros processos educativos. Estes processos educativos, que podemos chamar de não formais, geralmente abarcavam uma população que estava à margem da escola, por condições fi nanceiras ou preconceito.
Para saber mais sobre os jesuítas e sua atuação no Brasil, acesse: <http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb02.htm> e <http://www.cimi.org.br/?system=news&action=read&id=1643&eid=259>.
Marquês de Pombal é o nome com que fi cou conhecido Sebastião José de Carvalho e Melo, político e verdadeiro dirigente de Portugal durante o reinado de José I, como 1º. Ministro. A partir de 1756, realizou um programa político de acordo com os princípios do Iluminismo, porém às suas reformas opuseram-se os jesuítas e a aristocracia. Num atentado contra a vida do rei em 1758, conseguiu implicar os jesuítas, expulsos em 1759. Disponível em <http://www.netsaber.com.br/biografi as/ver_biografi a.php?c=891>.
historia_educacao_I.indb 34historia_educacao_I.indb 34 13/10/2006 15:05:2713/10/2006 15:05:27

35
História da Educação I
Unidade 1
Este tipo de estudo, ao invés de considerar apenas os escolarizados formalmente, permite-nos vislumbrar outras formas educativas relacionadas aos indígenas, mestiços, brancos pobres e aos negros escravos ou livres. Neste caminho, são trazidas à tona informações sobre o aprendizado profi ssional, a circulação de artistas e artesãos que traziam consigo saberes e técnicas. A pesquisa sobre este período amplia-se, levando em conta as especifi cidades e as culturas que circulavam naquele momento histórico.
Um outro objeto de investigação tem sido ressaltado, refere-se à própria História da infância. Um dos trabalhos pioneiros e marcantes neste sentido é o do historiador francês Philippe Ariès, “História Social da Criança e da Família”. (1981). Neste trabalho, ele analisa a trajetória da construção da noção moderna de infância. Mostra a criação de um “sentimento de infância”, voltado à proteção e diferenciação em relação ao adulto, o que antes não ocorria. Ele inova não só na temática, como também na escolha das fontes. Ao contrário de outras tendências, utiliza a iconografi a (imagens), diários, inscrições de túmulos, etc.
Apesar de algumas críticas, pois o trabalho centrou-se nesta construção a partir das elites, contribuiu para chamar a atenção para o conceito de infância e para a ampliação das fontes e da análise.
Outros livros organizados nesta temática como “História das crianças no Brasil (PRIORE, 1991), “História social da infância no Brasil” (FREITAS, 1997) e “Infância e educação infantil” (Kuhlmann, 1998), nos mostram os mais diferentes objetos e fontes para a História da Educação. Em todos estão presentes diversas visões sobre a infância e os lugares atribuídos às crianças em cada contexto histórico.
Como exemplo de trabalho com fontes orais, mais especifi camente com histórias de vida de professoras aposentadas, temos o trabalho organizado por Maria Teresa de Assunção Freitas, “Memórias de professoras: história e histórias” (2000). Neste projeto, as histórias de vida foram cruzadas com uma
Figura: Livro de Philippe Áries – História Social da Criança e da Família
Fonte: www.livrariacultura.com.br
historia_educacao_I.indb 35historia_educacao_I.indb 35 13/10/2006 15:05:2713/10/2006 15:05:27

36
Universidade do Sul de Santa Catarina
história maior, trazendo elementos para a compreensão da História da Educação local (Juiz de Fora) e nacional.
Assim, os objetos de análise relacionam-se à formação de professores, à prática pedagógica, à leitura e à escrita, às bibliotecas e às políticas públicas e à própria vida cultural da cidade. Os objetos foram defi nidos a partir de suas falas e recordações.
Um outro componente que tem sido transformado em objeto de investigação são os manuais didáticos. Ao invés de serem utilizados só como fonte para a compreensão de outras questões, como os processos de escolarização, a construção de culturas escolares, a história de uma disciplina, têm sido analisado em seu processo de produção, sua circulação, seu uso e também nas apropriações que os diferentes grupos sociais faziam deles.
Para estudar a escolarização no século XIX no Brasil, por exemplo, quando utilizávamos somente as fontes tradicionais, como a legislação da época, tudo nos levava a crer que havia uma ausência do Estado, através da falta de políticas públicas para a educação e infância. No entanto, quando levamos em conta outras fontes, como cadernos escolares, mapas de matrícula, relatórios de profi ssionais envolvidos nesta organização escolar, percebemos que havia uma tentativa de viabilizar um sistema público de ensino, ao menos para a população livre.
Você deve ter percebido, até agora, que estes novos olhares sobre a História da Educação, relacionados à renovação da historiografi a, mas também à aproximação com outras áreas, como a Antropologia e a Sociologia (só para citar duas áreas) têm contribuído com novas fontes e objetos de estudo, até então desconsiderados. Por isso, podemos visualizar a educação num contexto mais amplo, também relacionada a temas que, anteriormente, não apareciam.
É nesta perspectiva que estaremos conduzindo as demais unidades deste livro. Agora, para praticar os conhecimentos conquistados nesta unidade, realize, a seguir, as atividades propostas.
historia_educacao_I.indb 36historia_educacao_I.indb 36 13/10/2006 15:05:2713/10/2006 15:05:27

37
História da Educação I
Unidade 1
Atividades de auto-avaliação
Efetue as atividades de auto-avaliação e, a seguir, acompanhe as respostas e comentários a respeito. Para melhor aproveitamento do seu estudo, realize a conferência de suas respostas somente depois de fazer as atividades propostas.
1) Referente ao conhecimento de História da Educação é correto afi rmar:
a) ( ) O conhecimento produzido a partir de fontes ofi ciais era visto, até muito recentemente, como forma de garantir a cientifi cidade.
b) ( ) No Brasil, a História da Educação foi transformada em disciplina nos cursos de formação de professores e de pedagogos a partir de 1930.
c) ( ) A fotografi a e as obras de arte nunca foram consideradas fontes historiográfi cas.
2) Construa um quadro síntese com as informações da Seção 2:
TENDÊNCIAS PRINCIPAIS REPRESENTANTES IDÉIAS CENTRAIS
historia_educacao_I.indb 37historia_educacao_I.indb 37 13/10/2006 15:05:2713/10/2006 15:05:27

38
Universidade do Sul de Santa Catarina
3) Realize a atividade sugerida a seguir na sua cidade e depois socialize com o grupo na ferramenta Exposição no EVA:
Visite uma biblioteca ou arquivo público e identifi que alguma fonte/documento referente à educação em outras épocas: notícia de jornal, cartilhas, livros didáticos, leis.
Realize uma entrevista com alguém que você conheça, com mais idade, acerca da sua vida escolar.
Localize fontes iconográfi cas como fotos, desenhos e outras imagens relacionadas à sua vida escolar ou à da sua família.
Anote suas impressões nas linhas a seguir:
Síntese
Na primeira seção desta unidade, você teve contato com termos como educação, História e História da Educação.Você pode perceber que podemos conceituar a Educação, dentre inúmeras outras formas, como o processo de formação do ser humano, um processo que ocorre no decorrer da sua existência e em diferentes espaços formais e não formais.
Podemos dizer, também, que a noção de História sofreu mudanças ao longo do tempo: desde uma concepção baseada
historia_educacao_I.indb 38historia_educacao_I.indb 38 13/10/2006 15:05:2713/10/2006 15:05:27

39
História da Educação I
Unidade 1
na ênfase aos fatos isolados, dispostos de maneira linear e cronológica e com apenas alguns indivíduos como promotores da História, até uma outra perspectiva, na qual ela pode ser entendida como uma construção de acordo com o ponto de vista de quem a escreve (o historiador).
Assumida esta imparcialidade na escrita da História, leva-se em conta a História dos grupos humanos, em tempos e espaços determinados, compondo o que se chama de processo histórico.
Você também aprendeu que a História da Educação, surgiu no fi nal do século XIX, na Europa, como uma disciplina dos Cursos Normais, ou seja, dos cursos que formavam professores. Assim como no Brasil, cuja disciplina foi gerada no interior das Escolas Normais, estando sempre acompanhada de perto pela Filosofi a da Educação.
No entanto, devido à aproximação com as novas tendências da História e de outras áreas do conhecimento, tem-se consolidado, nas duas últimas décadas, cada vez mais como um campo de estudos e pesquisas.
Na seção 2, ao apontarmos as correntes que infl uenciaram/infl uenciam a História da Educação, você pode notar as principais diferenças entre elas e as contribuições na forma de olhar e escrever a História e a História da Educação.
O Positivismo ao lançar um olhar de “cima para baixo”, exclui uma série de sujeitos, temas e grupos sociais que escapam a esta abordagem. Nesta perspectiva, a História da Educação estaria associada, devido ao tipo e à forma de trabalho com as fontes/documentos, a um panorama político-institucional no tocante à legislação da política educacional e ao pensamento pedagógico.
Já no Marxismo, a educação pode ser vista como a reprodução da sociedade ou a sua superação, através da conscientização de uma classe oprimida. No campo educacional, esta tendência da História está expressa em recentes pesquisas na área. No viés da Nova História, notadamente da História Cultural, a História da Educação infl uencia e até mesmo renova os objetos e abordagens nesta área, apesar de ser um campo ainda muito recente de estudos.
historia_educacao_I.indb 39historia_educacao_I.indb 39 13/10/2006 15:05:2813/10/2006 15:05:28

40
Universidade do Sul de Santa Catarina
Por fi m, você descobriu que há muitas fontes possíveis de serem utilizadas nas novas pesquisas em História da Educação, além dos documentos ofi ciais e da legislação, como as entrevistas orais, fotos, diários pessoais, pinturas, a arquitetura escolar, entre outros.
Também descobriu que, a partir destas novas fontes, é possível levantar outros objetos de pesquisa, como a História da profi ssão docente, os processos de escolarização, a cultura escolar, as práticas educativas e pedagógicas, o conceito de infância, etc. Dessa forma, a História da Educação constitui-se como um campo vasto de pesquisas, incluindo processos educativos e grupos sociais que, na maior parte das vezes, não eram mencionados.
Saiba mais
Para aprofundar as questões abordadas nesta unidade, você poderá pesquisar os seguintes livros:
ARIÉS, Philippe. A História Social da Criança e da Família. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981.
BURKE, Peter. A Revolução Francesa da historiografi a: a Escola dos Annales, 1929-1989. São Paulo: UNESP, 1991.
FONSECA, Th ais Nívia de L.; VEIGA, Cynthia G. História e Historiografi a da Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
SAVIANI, Dermeval. Breves considerações sobre Fontes para a História da Educação. In: LOMBARDI, José Claudinei e NASCIMENTO, Maria Isabel Moura (org). Fontes, História e historiografi a da educação. Campinas-SP: Autores Associados, 2004.
historia_educacao_I.indb 40historia_educacao_I.indb 40 13/10/2006 15:05:2813/10/2006 15:05:28

UNIDADE 2
As práticas educativas medievais
Objetivos de aprendizagem
Compreender o contexto histórico das práticas educativas medievais.
Identifi car os sujeitos e grupos sociais, que foram atingidos ou excluídos pelas instituições ou associações educativas.
Compreender o signifi cado e a importância de situações pedagógicas não formais.
Estabelecer critérios de comparação entre as formas educacionais do período medieval e as atuais.
Seções de estudo
Seção 1 Idade Média: um breve contexto histórico.
Seção 2 A educação das mulheres.
Seção 3 A educação dos cavaleiros medievais.
Seção 4 A educação nas corporações de ofício.
Seção 5 A educação nas Universidades.
2
historia_educacao_I.indb 41historia_educacao_I.indb 41 13/10/2006 15:05:2813/10/2006 15:05:28

42
Universidade do Sul de Santa Catarina
Para início de estudo
O estudo desta unidade lhe proporcionará conhecer o contexto histórico da chamada Idade Média Ocidental, para situar e compreender as práticas educativas relacionadas a este período.
Você conhecerá lugares e sujeitos das práticas educativas. É o caso, por exemplo, da educação feminina, nas corporações de ofícios, na formação de cavaleiros e na constituição das universidades.
Você perceberá, também, que havia uma defi nição das classes sociais bastante rígida e hierarquizada, no entanto, no campo educacional, muitas vezes elas estavam juntas, como no caso das escolas monásticas e das universidades.
Muitas vezes, a educação abrange espaços não formais, ou melhor, não é escolarizada, como é o caso da maioria das mulheres e dos aprendizes nas corporações de ofício.
Assim, entre diferentes sujeitos e grupos sociais, entre métodos e materiais pedagógicos, através de diferentes fontes e objetos - como você já viu na primeira unidade - esperamos que você entre em contato e também construa um conhecimento acerca das práticas educacionais neste período.
historia_educacao_I.indb 42historia_educacao_I.indb 42 13/10/2006 15:05:2813/10/2006 15:05:28

43
História da Educação I
Unidade 2
SEÇÃO 1 - Idade Média: um breve contexto histórico
Foi no século IV a.C. que a educação se institucionalizou com a fundação das primeiras escolas: Isócrates abriu a sua escola em 393 a.C. e Platão fundou a Academia em 387 a.C.
Ao conquistarem o mundo da Antiga Grécia, os romanos “absorveram” o melhor da sua cultura, acrescentando-lhe a disciplina e o respeito pela lei (tipicamente romana). Construíram escolas de infl uência grega (o ginásio, a escola de cálculo e de gramática) e escolas de direito.
A partir dos fi nais do século II da nossa era, o Império Romano, então cristianizado, entrou em decadência devido a vários fatores (tais como as crises na sucessão imperial, a crise econômica e social e o “perigo bárbaro”).
Quando, em 476, a autoridade imperial deixou de existir no Ocidente, os “bárbaros” já se haviam fi xado nas regiões da Europa que antes devastaram. Estes povos eram, na sua maioria, pagãos, mas os seus chefes acabaram por se converter ao catolicismo.
Tendo sido a única que resistiu e sobreviveu às grandes invasões, mantendo a sua organização e servindo de apoio às populações aterradas, a Igreja Católica tornou-se a instituição mais importante da Idade Média.
Certamente você já ouviu falar no termo Idade Média, e deve lembrar de ter estudado na escola, nas aulas de História, ou talvez por cenas de fi lmes, com cavaleiros, castelos e donzelas na torre. Além disso, você pode ter lido sobre a infl uência e os desmandos da Igreja Católica neste período,
Figura: Mural de Palau – Calades Barcelona
Fonte: www.odesenho.no.sapo.pt
Os romanos chamavam de bárbaros todos os povos que não possuíam a mesma língua, os mesmos costumes e organização política, social e econômica que eles. Estas diferenças podem ser observadas no fi lme “Asterix e Obelix contra César”.
historia_educacao_I.indb 43historia_educacao_I.indb 43 13/10/2006 15:05:2813/10/2006 15:05:28

44
Universidade do Sul de Santa Catarina
Independente da sua fonte de informação, você é convidado a registrar no espaço, a seguir, suas impressões sobre o período histórico em questão. Esse é o momento para fazer uma pausa e refl etir sobre o assunto!
Você deve ter percebido que muitas das referências que registrou acima dizem respeito à história européia, não abarcam o Brasil, por exemplo, ou outros lugares do mundo. Pois bem, esta expressão “Idade Média” é bastante eurocêntrica e leva em conta uma periodização política, conforme a história positivista, que é uma das formas de escrever a história, como você viu na Unidade 1 desta disciplina.
Dentro desta concepção de História, os marcos cronológicos do período conhecido como Idade Média, são os seguintes:
Início: 476 d.C. - Queda do Império Romano do Ocidente, com sede em Roma.
Final: 1453 d.C. – Queda do Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, tomada pelos turcos.
Ainda dentro desta classifi cação, há mais duas divisões, que muitas vezes são utilizadas: a Alta Idade Média, que compreenderia a formação dos povos germânicos até a estruturação do Feudalismo e a Baixa Idade Média, comumente descrita a partir do movimento das cruzadas, caracterizadas pelo ressurgimento e expansão das cidades e do comércio.
– Gost aríamos de deixar claro que est e recorte cronológico de “mil anos”, bem como o espaço geográfi co (Europa) será levado em conta nest a unidade, devido às pesquisas e ao material bibliográfi co
Considera-se o eurocentrismo como uma visão de mundo que tende a colocar a Europa (assim como sua cultura, seu povo, suas línguas, etc.) como o elemento fundamental na constituição da sociedade moderna, sendo necessariamente a protagonista da história do homem. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Eurocentrismo>
historia_educacao_I.indb 44historia_educacao_I.indb 44 13/10/2006 15:05:2913/10/2006 15:05:29

45
História da Educação I
Unidade 2
para os est udos em Educação. No entanto, não nos ateremos a uma seqüência cronológica para abordarmos as demais seções dest a unidade e sim, às práticas educativas associadas a temas, como a educação monást ica, nas corporações de ofícios, a educação das mulheres, dos cavaleiros medievais e a formação das universidades.
Dito isto, vamos compreender melhor o panorama histórico deste período. Tomando o Século V como ponto de partida e a Europa como espaço geográfi co, identifi camos a crise do sistema escravista como um dos principais fatores da fragilidade econômica e social em que se encontrava o Império Romano do Ocidente naquele momento:
A divisão do Império em duas partes no fi nal do século IV também contribuiu para esse processo: O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinpla ainda conseguiu manter uma atividade comercial com outras regiões do Oriente, enquanto que o Império Romano do Ocidente, com capital em Milão, vivenciou o aprofundamento constante da crise. (disponível em http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=144)
Algumas medidas administrativas foram empreendidas, como o estabelecimento das Villae, no entanto, estas unidades eram voltadas à autosufi cência, o que contribuiu ainda mais para a fragmentação do território do Império e para a ruralização. Devido a estes fatores, entre outros, a presença dos “povos bárbaros” constante nas fronteiras do Império Ocidental, acentuou-se, constituindo-se num movimento migratório de invasão, até o coração do Império.
Dentre os “invasores bárbaros”, destacamos os povos germânicos (vândalos, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões e francos), devido à formação de reinos - dentro do que era a área do Império Romano - e da própria organização econômica e social, que transplantaram para as áreas ocupadas, mesclando com outros costumes vigentes. Dentre estes povos, ressaltamos os francos, por sua importância na formação do Feudalismo e na aliança com a Igreja Católica, como você verá a seguir.
Villae eram grandes residências senhoriais que possuíam termas para os banhos, habitações para os trabalhadores (com os seus próprios banhos), e todos os edifícios essenciais ao funcionamento da exploração (lagares, olarias, tecelagens, forjas, estábulos, e mesmo templos). O ideal deste tipo de exploração era a auto-sufi ciência. <http://www.geocities.com/alex221166/h_a_10_por.html>
historia_educacao_I.indb 45historia_educacao_I.indb 45 13/10/2006 15:05:2913/10/2006 15:05:29

46
Universidade do Sul de Santa Catarina
Quem eram os francos?
A palavra franco signifi cava “livre” na língua franca. Os francos formavam uma das várias tribos germânicas que adentraram o espaço do império romano. Era um grupo oriundo do oeste da Europa, que ocupou a região da Gália (aproximadamente a atual França).
O reino franco passou por várias partilhas e repartições, já que os francos dividiam suas propriedades entre os fi lhos sobreviventes, e concebiam o reino como uma grande extensão de uma propriedade privada.
A conversão ao Cristianismo, de um dos reis da Dinastia Merovíngia, já no século V, facilita a consolidação do Reino Franco e a ascenção da Igreja Católica. O fortalecimento da relação entre a Igreja e o Reino caracterizou-se, principalmente, pelas doações de terra, conversões e proteção. Durante a Dinastia Carolíngea, o rei franco Carlos Magno (séc. X), é coroado pelo papa e defende o território europeu do avanço dos muçulmanos árabes (“os inféis”). Consolidando-se, deste modo, a aliança com a Igreja Católica.
O que é feudalismo?
O feudalismo foi um modo de produção baseado nas relações servo-contratuais (servis) de produção. Tem suas origens na desintegração da escravidão romana. Com a decadência e a destruição do Império Romano do Ocidente, por volta do século V d.C. (de 401 a 500), como conseqüência das inúmeras invasões dos povos bárbaros e das más políticas econômicas dos imperadores, várias regiões da Europa passaram a apresentar baixa densidade populacional e baixo desenvolvimento urbano. Isso ocorria devido às mortes provocadas pelas guerras, às doenças e à insegurança existentes logo após o fi m do Império Romano. A partir do século V d.C., entra-se na chamada Idade Média, mas o sistema feudal somente passa a vigorar em
Figura: Fases do Feudalismo
Fonte: www.culturabrasil.pro.br
historia_educacao_I.indb 46historia_educacao_I.indb 46 13/10/2006 15:05:2913/10/2006 15:05:29

47
História da Educação I
Unidade 2
alguns países da Europa Ocidental a partir do século IX d.C., aproximadamente.
O esfacelamento do Império Romano do Ocidente e as invasões bárbaras em diversas regiões da Europa favoreceram sensivelmente as mudanças econômicas e sociais que vão sendo introduzidas, principalmente na Europa Ocidental, e que alteram completamente o sistema de propriedade e de produção característicos da Antigüidade.
Em suma, com a decadência do Império Romano e as invasões bárbaras, os nobres romanos começaram a se afastar das cidades levando consigo camponeses (com medo de serem saqueados ou escravizados). Já na Idade Média, com vários povos dominando a Europa Medieval, foi impossível unirem-se entre si e entre os descendentes de nobres romanos, que eram donos de pequenos agrupamentos de terra. No entanto, foi da “mistura” de instituições romanas e instituições “bárbaras” que surgiu o Feudalismo.
Surge uma classe social caracterizada como a nobreza feudal, detentora de terras – a terra representa a riqueza – cuja manutenção consistia na concessão de terras a outros senhores, muitas vezes em troca de proteção. Assim, os que concediam a terra eram chamados de suseranos, e quem recebia era chamado de vassalo.
Em grandes propriedades de terra os senhores feudais estabeleciam-se em locais estratégicos. Os castelos eram fortalezas que serviam como quartel-general para cavaleiros antes de seus ataques aos inimigos. Além de tudo, eram as moradias dos nobres e os locais onde essas poderosas famílias se alimentavam, se divertiam e recebiam seus convidados. Para seus senhores, era uma forma de apresentar aos demais nobres, ao clero e aos visitantes de regiões distantes toda a sua riqueza e infl uência. Além disso, representavam, para os moradores das vilas ou feudos, um centro de decisões políticas, cobrança de impostos e justiça. Todo sistema de tributos era organizado em função do uso da terra pelos servos, mas também
Figura: Castelo de Dromoland, na Grã-bretanha, construído no século XVI .
Fonte: <http://www.planetaeducacao.com.br/new/colunas2.asp?id=167>
historia_educacao_I.indb 47historia_educacao_I.indb 47 13/10/2006 15:05:2913/10/2006 15:05:29

48
Universidade do Sul de Santa Catarina
do uso das ferramentas e dos locais como os moinhos, serrarias, carpintaria pertencente ao senhorio feudal.
Os servos não tinham a propriedade da terra. No entanto, eram obrigados a permanecer nela. Não eram escravos, pois não podiam ser vendidos. A base do sistema feudal eram estas relações servis de produção. Os servos deviam várias obrigações como a talha, a corvéia e as banalidades, entre outras.
Era uma sociedade dividida em grupos com pouca mobilidade entre eles. Composta fundamentalmente pelos nobres, clero e servos. Nas camadas pobres, havia também os vilões.
No livro de Paulo Miceli, “O Feudalismo”, observamos que a nobreza e o clero compunham a camada dominante dos senhores feudais, ou seja, aqueles que tinham a posse legal da terra e do servo e que dominavam o poder político, militar e jurídico.
O fator que mais contribuiu para o declínio do sistema feudal foi o ressurgimento das cidades e do comércio. Muitos camponeses passaram a comercializar produtos nas feiras e cidades, nas quais, muitas vezes se estabeleciam, em busca de melhores condições de vida.
E o papel da Igreja Católica?
A igreja cristã primitiva na região do Mediterrâneo foi organizada sob cinco patriarcas: os bispos de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma.
O Bispo de Roma era tido pelos outros Patriarcas como “o primeiro entre iguais”, embora o seu estatuto e infl uência tenham crescido quando Roma era a capital do império, com as disputas doutrinárias ou procedimentais a serem freqüentemente remetidos a Roma para obter uma opinião. Entretanto, quando a capital se mudou para Constantinopla, a sua infl uência diminuiu. Constantinopla tornava-se a residência do Imperador e do Senado. Uma série de difi culdades entre as partes divididas do Império (ocidente e oriente), no tocante à religião como disputas doutrinárias, Concílios disputados, a evolução de ritos separados
Pela talha, o servo devia uma parte da sua produção ao senhor feudal. A corvéia consistia no trabalho nas terras do senhor (manso senhorial), em alguns dias por semana. Os pagamentos que os servos faziam aos senhores pelo uso do forno, do moinho, do celeiro, chamavam-se banalidades.
(disponível em: http://www.historiadomundo.com.br/idade-media/feudalismo)
Os vilões eram homens livres que viviam no feudo, deviam algumas obrigações aos senhores, como por exemplo, as banalidades, mas não estavam presos à terra, podendo sair dela quando o desejassem. (disponível em: http://www.historiadomundo.com.br/idade-media/feudalismo).
historia_educacao_I.indb 48historia_educacao_I.indb 48 13/10/2006 15:05:3013/10/2006 15:05:30

49
História da Educação I
Unidade 2
e se a posição do Papa de Roma era ou não de real autoridade ou apenas de respeito, levaram à divisão em 1054.
A Igreja dividiu-se entre a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente e a Igreja Ortodoxa Oriental no Leste (Grécia, Rússia e muitas das terras eslavas, Anatólia, Síria, Egipto, etc.). A esta divisão chama-se o Grande Cisma.
A grande divisão seguinte da Igreja Católica - e talvez a mais signifi cativa, pois promoveu a fundação de outras igrejas - ocorreu no século XVI com a Reforma Protestante, durante a qual se formaram muitas outras religiões no Ocidente. Durante a Idade Média, a Igreja enfrentou movimentos contestadores de sua doutrina, abusos fi nanceiros e despreparo do clero. No início do século XVI, teve início a Reforma Protestante, movimento religioso liderado pelo monge alemão Martinho Lutero que rompeu a unidade da Igreja Católica na Europa. Várias Igrejas reformadas surgiram na Alemanha, Suíça, França e Inglaterra com seguidores entre todas as camadas da sociedade européia.
O período medieval caracterizou-se pela predominância da Igreja como a maior instituição feudal do Ocidente europeu, exercendo hegemonia ideológica e cultural na época. Atuando em todos os níveis da sociedade, estabeleceu normas, orientou comportamentos e soube imprimir nos homens e mulheres deste período uma cultura religiosa.
Essas questões afetaram o sistema de educação. Durante muito tempo não houve nenhuma instituição educacional, a não ser as escolas episcopais, mantidas pelos bispos. O propósito da maioria das escolas era formar monges e clérigos e, desde muito cedo, a criança era colocada em contato com os textos sagrados. Dessa forma, a Igreja adquiriu o controle da educação, tendo o clero como a elite intelectual e suas escolas como as únicas instituições culturais atuantes.
Por volta dos séculos X e XI, assiste-se às transformações econômicas e políticas associadas ao renascimento comercial e urbano. Com o ressurgimento do comércio e o crescimento das cidades, estas passam a depender dos banqueiros e dos mercadores. Se, até então, a educação era privilégio dos clérigos
Acesse o site http://www.hystoria.hpg.ig.com.br/reform.html ou assista ao fi lme Lutero, cuja referência está na atividade de auto-avaliação 1. Para saber mais sobre o Grande Cisma, acesse: http://enciclopedia.tiosam.com/enciclopedia/enciclopedia.asp?title=Grande_Cisma_do_Oriente
historia_educacao_I.indb 49historia_educacao_I.indb 49 13/10/2006 15:05:3013/10/2006 15:05:30

50
Universidade do Sul de Santa Catarina
e se restringia à formação religiosa, o crescimento das cidades, exigia uma formação. Os burgueses (habitantes das cidades) queriam uma escola voltada a seus reais interesses e difi culdades.
O conhecimento passou a ser indispensável à realização de seus negócios. Aos poucos, as vilas se transformam em cidades livres, contribuindo para uma vida menos subordinada aos “desígnios divinos’. Ainda que a Igreja continuasse direcionando e conduzindo a vida social e religiosa, as cidades passaram a ter importância como centros irradiadores dos novos valores culturais, libertando-se pouco a pouco dos domínios religiosos.
SEÇÃO 2 – A educação das mulheres
Para falarmos de educação feminina, precisamos, antes, esclarecer de que mulheres estamos falando. A mulher das classes populares não tinha acesso à educação formal, assim como os homens destes grupos.
Neste sentido, a Igreja exerce um forte papel pedagógico ao formar cristãos. A catequização por meio de livros ilustrados, o interior das igrejas com suas pinturas sacras e vitrais, a utilização da poesia e da música (canções populares) cujo enfoque é os temas religiosos, as inúmeras festas de santos do calendário anual, são algumas das constatações que permitem identifi car uma educação informal direcionada para os homens e mulheres destas classes.
As moças das classes mais abastadas poderiam receber aulas domiciliares. Além dos trabalhos manuais, as aulas centravam-se em conteúdos de religião, música e artes. Quanto às mulheres da burguesia, mais ao fi nal deste período, ascendem à educação escolar, quando do surgimento das escolas seculares.
Apenas na formação das mulheres religiosas, nos mosteiros, observavam-se diferentes segmentos sociais, a partir dos seis anos de idade. Ali aprendiam a ler e escrever e estudavam línguas como o latim e o grego, além de fi losofi a e teologia.
As escolas seculares signifi cavam escolas do mundo, não religiosas.
historia_educacao_I.indb 50historia_educacao_I.indb 50 13/10/2006 15:05:3013/10/2006 15:05:30

51
História da Educação I
Unidade 2
As opiniões acerca da educação feminina dividiam-se, porém os discursos também eram dirigidos às mulheres. Via de regra, os discursos eram enunciados por vozes masculinas como os pais, clérigos e mestres. Exaltavam a castidade, a humildade, o silêncio, o trabalho entre outros temas. Estavam fortemente vinculados ao casamento e às relações familiares. De acordo com Opitz:
A doutrina do casamento por consenso defendida pela Igreja não podia opor-se às relações de poder vigentes na sociedade-e no fundo também não o queria: a relação entre marido e mulher não podia doravante ser de amizade e pressupor a igualdade de direitos (...). Um bom casamento era a comunhão entre o homem e a mulher mas, segundo os ensinamentos morais da Igreja, ele só era realmente bom quando o homem ‘governava’ e a mulher obedecia incondicionalmente. (Quotidiano da Mulher no Final da Idade Média. In: DUBY, George e PERROT, Michelle. História das Mulheres: A Idade Média, v.2, p.356.)
É nesta relação entre Igreja, Direito e família que a “educação” feminina vai se confi gurando, na lógica da obediência e do controle social. Desta forma, foi somente no fi nal da Idade Média que as mulheres tiveram acesso aos manuscritos e às universidades. Isso representou uma grande conquista apesar dos estudos de cunho ofi cial continuarem a ser monopólio masculino.
Nesta fase, destacou-se, no campo das letras, a escritora franco-italiana Cristine de Pisan. Nasceu em Veneza, em 1364, e com o pai - que era astrônomo na corte de Carlos V - aprendeu o latim e a fi losofi a, “conteúdos” que não faziam parte da educação de uma mulher. Casou-se aos quinze anos de idade (algo comum para a época), tornou-se viúva aos 25 anos de idade e responsável pelo sustento da família com a escrita.
Chamamos atenção para esta escritora, pois, em um universo masculino, ela escreveu vários livros e manuscritos sobre e para as mulheres. A obra que nos chama a atenção é um manual de educação moral, chamado de “O Espelho de Cristina”, no qual procura mostrar a situação da mulher no fi nal da Idade Média. A escritora procurou concentrar a sua atenção em mulheres de diversos níveis sociais, ou seja, mulheres que viviam ao lado de reis, de nobres, de mercadores, artesãos e trabalhadores, que
Para saber mais sobre a vida e obra desta escritora, consulte <http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=alunos&id=35>
Figura: Christine de Pisan.
Fonte: http://www.historiaehistoria.com.br
historia_educacao_I.indb 51historia_educacao_I.indb 51 13/10/2006 15:05:3013/10/2006 15:05:30

52
Universidade do Sul de Santa Catarina
trabalhavam dentro e fora do espaço da casa, cultas ou iletradas, ricas ou pobres.
Veja, a seguir, alguns atributos que a escritora considerou como importantes para as mulheres da nobreza
ser devota a Deus;
temperada em tudo: no comer, vestir e falar;
rir baixo e não sem motivo;
manter distância de jogos, danças, caçadas;
visitar os doentes para lhes dar nova esperança;
não contrair dívidas maiores do que pode pagar;
dar esmolas e ser caridosa e sem cobiça;
mostrar-se séria e contida em público, falando pouco e mantendo o olhar honesto e baixo;
deve usar roupas e toucados ricos, pois fazem parte do seu estado;
nunca se mostrar áspera nem má para suas mulheres e servidores;
ter cuidado com as suas rendas e despesas e saber a soma de suas rendas e possessões, o valor de suas contas e o andamento de tudo na sua casa;
toda princesa e toda mulher deve ser cobiçosa de buscar honra e bom nome mais do que qualquer outro tesouro por que a faz reluzir em boa nomeada, a qual fi ca para sempre a seus fi lhos.
<disponível em http://www.historiahistoria.com.br/materia.cfm?tb=alunos&id=34>
Você pode perceber que os conselhos estão atrelados ao seu papel de submissão ao marido e aos costumes da época, mas também pode vislumbrar, a partir destas prescrições, que elas eram participantes ativas na criação dos fi lhos e na administração do reino e de suas terras, pois deviam se preocupar com a sua educação e com as suas posses.
Para as mulheres do povo também são direcionados conselhos semelhantes aos da nobreza, como a prudência no agir e no gastar os bens do seu marido, reafi rmando que a mulher deve conhecer os seus direitos para que não a enganem.
Figura: Execução na fogueira por ordem do tribunal da inquisição. Inglaterra, 1314.
Fonte: http://www.saberhistoria.hpg.ig.com.br/nova_pagina_156.htm
historia_educacao_I.indb 52historia_educacao_I.indb 52 13/10/2006 15:05:3113/10/2006 15:05:31

53
História da Educação I
Unidade 2
As especifi cidades da sua condição social são tratadas em outros capítulos, como a maneira de vestir, a administração do seu lar e do seu trabalho.
Neste momento, é importante ressaltar que os Tribunais do Santo Ofício da Inquisição tiveram um papel fundamental ao promover o afastamento das mulheres das universidades e a proibição de exercerem saberes populares específi cos ou práticas referentes à medicina - como a realização de partos, abortos e processos curativos em geral através da utilização de plantas.
Os processos de bruxaria incluíam homens e mulheres, porém as mulheres representavam a maioria dos réus e sentenciados dos processos inquisitoriais.
Podemos observar, então, que, em relação à educação feminina, esta também se revestia de um caráter não formal, pois havia conhecimento feminino e um aprendizado a ser compartilhado, com reconhecido poder pela Igreja Católica.
SEÇÃO 3: A educação dos cavaleiros medievais
A formação das cavalarias medievais dizia respeito às classes nobres. A cavalaria tem suas origens em grupos armados, que passam a compor exércitos de defesa, com códigos de honra relacionados à fi delidade e ao exercício da guerra.
Como já vimos, a Igreja possuía forte infl uência no ordenamento desta sociedade. Assim, a partir do século X, a Cavalaria institucionaliza-se e, por meio da sua cristianização, defi ne suas condutas e ideais, tomando como base os valores morais da Igreja.
A trajetória educacional na formação de um cavaleiro iniciava-se aos sete anos de idade, quando era enviado a outro castelo para servir de pajem, aprender montaria e participar de torneios e combates. Paralelamente a este aprendizado,
Para obter a confi ssão, o religioso da Inquisição contava sempre com o apoio de outros clérigos preparados para a função e utilizava instrumentos que causavam dor, medo e grande sofrimento. Em muitos casos, esses interrogatórios se encerravam em função da morte do inquirido. Acompanhe no fi lme O nome da Rosa a atuação do inquisidor dominicano Bernardo Gui.
historia_educacao_I.indb 53historia_educacao_I.indb 53 13/10/2006 15:05:3113/10/2006 15:05:31

54
Universidade do Sul de Santa Catarina
iniciava-se a educação das boas maneiras, do código de honra, do amor personifi cado na mulher idealizada, ou seja, uma educação cortês.
Uma outra etapa educativa inicia-se quando o aprendiz é alçado à condição de escudeiro. O seu mestre é um cavaleiro a quem deve servir. Assim, ele inicia-se no exercício das armas, das caçadas, dos torneios, preparando-se para as guerras.
A formação estava completa mais ou menos aos vinte anos de idade com uma cerimônia que culminava com a entrega das armas e a sua sagração como cavaleiro. Com o passar do tempo, foram incorporados outros ritos, como as vestes brancas e vermelhas (passagem), o banho purifi cador, a vigília de oração, até o juramento em público. Tornava-se cavaleiro participante de uma sociedade que comungava os ideais cristãos, como um “iniciado”.
Como você viu, os cavaleiros desenvolviam as habilidades relacionadas às lutas e às guerras, aliadas a uma formação religiosa e cortês. Os signifi cados e os valores da Cavalaria podem ser encontrados nas fontes literárias da época, que, por sua vez, viravam canções de grande disseminação e apelo popular. Talvez os feitos mais conhecidos que envolveram os cavaleiros medievais e suas ordens foram as Cruzadas.
Você sabia?
No século XI, os muçulmanos conquistaram a cidade sagrada de Jerusalém. Com o objetivo de expulsar os “infi éis” (árabes) da Terra Santa, o papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada (1096). Batalhas entre católicos e muçulmanos duraram cerca de dois séculos. Ao mesmo tempo em que eram marcadas por diferenças religiosas, também possuíam caráter econômico. Ao retornarem para a Europa, saqueavam cidades árabes e vendiam produtos nas estradas, nas chamadas feiras e rotas de comércio. Assim, contribuíram para o renascimento urbano e comercial a partir do século XIII. Após as Cruzadas, o Mar Mediterrâneo foi aberto para os contatos comerciais. Disponível em: http://www.suapesquisa.com/idademedia/
Sobre o amor cortês na literatura da época, mais especifi camente na obra Tristão e Isolda, acessar http://www2.ufpa.br/ceg2005/webceg/tc20000116.htm
Figura: Um cruzado ajoelhado em prece.
Fonte: http://www.saberhistoria.hpg.ig.com.br/nova_pagina_142.htm
historia_educacao_I.indb 54historia_educacao_I.indb 54 13/10/2006 15:05:3113/10/2006 15:05:31

55
História da Educação I
Unidade 2
A partir dos movimentos conhecidos como Cruzadas, foram fundadas várias ordens cavalheirescas destinadas a combater os “infi éis” (muçulmanos), com refl exos diretos no renascimento comercial e urbano europeu.
Esta formação do cavaleiro, associada aos princípios cristãos, pode ser sintetizada nos mandamentos a seguir:
I - Acreditarás em tudo o que a Igreja ensina e observarás todos os seus mandamentos.
II – Protegerás a Igreja.
III – Defenderás todos os fracos.
IV – Amarás o país onde nasceste.
V – Jamais retrocederás ante o inimigo.
VI – Farás guerra aos infi éis até exterminá-los.
VII – Cumprirás com teus deveres feudais, se estes não forem contrários à lei de Deus.
VIII – Nunca mentirás e serás fi el à palavra empenhada.
IX – Serás liberal e generoso com todos.
X – Serás o defensor do direito e do bem, contra a injustiça e contra o mal.
(Extraído de : http://marged.vilabol.uol.com.br/medieval_knights.html)
Você pode identifi car a observância a um código de conduta e de honra, a proteção e defesa da Igreja e aos seus princípios cristãos e institucionais, bem como ao combate aos não-cristãos. Pelo menos em teoria, estas eram as diretrizes “pedagógicas” na formação desta classe.
historia_educacao_I.indb 55historia_educacao_I.indb 55 13/10/2006 15:05:3213/10/2006 15:05:32

56
Universidade do Sul de Santa Catarina
SEÇÃO 4: A educação nas corporações de ofício
A educação das classes menos abastadas era fundamentalmente constituída pelo trabalho. Os profi ssionais dedicados às atividades artesanais nas cidades medievais, organizavam-se em associações, denominadas corporações de ofício, que detinham as técnicas de trabalho de tal atividade, confi gurando-se também como espaços educativos de formação profi ssional.
O aprendizado constitui-se no aprendizado técnico, com também na vivência da corporação, no respeito aos estatutos e às regras, que se estendiam ao comportamento social e individual. Veja dois artigos do estatuto dos “curtidores de couro branco”, do século XIV:
[4] E se qualquer aprendiz se comportar impropriamente para com seu mestre, e agir de forma rebelde para com ele, ninguém do dito ofício lhe dará trabalho, até que tenha feito as reparações perante o Alcaide e os Intendentes.
[6] Ninguém que não tenha sido aprendiz e não tenha concluído seu termo de aprendizado do dito ofício, poderá exercer o mesmo. (BLAND, BROWN E TAWNEY apud HUBERMAN, 1985, p. 65).
Observam-se, anteriormente, as regras disciplinares à sua condição de aprendiz, assim como a legitimidade da formação profi ssional a partir, obrigatoriamente, do aprendizado na corporação.
Para se ter uma idéia do poder destas associações, elas determinavam a matéria-prima a ser utilizada, o processo de fabricação, o preço do produto, como também o horário de trabalho, as condições necessárias à aprendizagem, entre outras coisas.
As corporações disseminaram-se em toda a Europa, desempenhando um papel educativo importante junto aos habitantes das cidades, diferentemente do que já vimos sobre as condições servis nos feudos, cuja educação era pautada na reprodução, tanto das habilidades técnicas quanto das classes e
As corporações de ofício foram associações que surgiram a partir do século XII para regulamentar o processo produtivo artesanal nas cidades. Agregavam pessoas que exerciam o mesmo ofício e eram responsáveis por determinar preço, qualidade, quantidade da produção, margem de lucro, aprendizado e hierarquia de trabalho. Existiam também corporações intermunicipais, chamadas hansas, cujo objetivo era defender os interesses de mercadores de um grupo de cidades.
Figura: Ofi cina de alfaiate
Fonte: http://www.saberhistoria.hpg.ig.com.br/nova_pagina_144.htm
historia_educacao_I.indb 56historia_educacao_I.indb 56 13/10/2006 15:05:3213/10/2006 15:05:32

57
História da Educação I
Unidade 2
relações sociais, associada a uma pedagogia religiosa, através das missas, dos ritos e das festas.
Em que condições dava-se este aprendizado?
Durante todo o aprendizado, os aprendizes fi cavam na casa do mestre, recebendo gratuitamente a estadia e a alimentação. O passo seguinte, determinado pelo mestre, era a submissão a um exame, para tornarem-se ofi ciais ou companheiros, podendo empregar-se por conta própria.
Por fi m, se quisesse ser dono de uma ofi cina, precisava ter algum capital e mostrar habilidade em seu ofício, através de um exame prático na sua corporação. Mediante aprovação, ele pagava uma taxa, obtendo o título de mestre e a licença para abrir o seu negócio.
SEÇÃO 5: A educação nas Universidades
Os alunos mais capazes, do ponto de vista dos seus mestres, dirigiam-se às universidades. A maioria das universidades surgiu de escolas monásticas, voltadas para a formação do clero, mas não somente. Os alunos viviam em regime de internato, sendo educados tanto em conhecimento quanto em valores morais. No entanto, estes centros de saber fi rmavam sua autonomia através da formação de associações corporativas de mestres. Muitos destes mestres eram clérigos não-ordenados, como Pedro Abelardo.
Eram as universitas, originadas a partir dos saberes oferecidos pelas corporações de ofício intelectual. Os mestres possuíam suas especialidades e os alunos recorriam a eles de acordo com seus interesses intelectuais.
Pedro Abelardo (1079-1142) era mestre livre, não sacerdote, famoso por sua oratória e por promover a aliança entre fé e razão, renovando os estudos da Sagrada Escritura. Envolveu-se com Heloísa, sobrinha do Cônego Fulbert, sofrendo várias perseguições e punições, incluindo a sua castração. Sobre esta história de amor, tendo como pano de fundo a educação medieval, assista ao fi lme Em nome de Deus.
historia_educacao_I.indb 57historia_educacao_I.indb 57 13/10/2006 15:05:3213/10/2006 15:05:32

58
Universidade do Sul de Santa Catarina
Como tornaram-se associações de grande importância, tiveram seu controle disputado pela Igreja. Institucionalizadas pelo papado, ligavam-se às escolas monásticas e episcopais, estas regidas pelos bispos, como as universidades pelo Papa.
Estas instituições possuíam características eclesiásticas, como nos coloca Régine Pernoud:
(...) os professores pertencem todos à Igreja, e as duas grandes Ordens religiosas que a iluminam no século XIII, Franciscanos e Dominicanos, conheceram aí grandes glórias, com um São Boaventura e um São Tomás de Aquino. Todos os alunos são chamados de clérigos, mesmo quando não se destinam ao sacerdócio e alguns recebem a tonsura. (Disponível em http://www.permanencia.org.br/revista/historia/luz2.htm)
Além de Teologia, ensinava-se dialética, gramática, geometria, música e disciplinas relacionadas às ciências e Filosofi a. A organização curricular foi sofrendo mudanças ao longo do tempo, mas, a princípio, as chamadas artes liberais funcionavam como um estudo preparatório para cursos mais especializados como Teologia, para os que queriam seguir o sacerdócio ou Medicina e Direito, entre outras. A partir do século XV, os colégios vão assumindo o ensino das artes liberais, fi cando as universidades com a formação profi ssional mais especializada.
Os alunos vinham de vários lugares, assim como seus professores, no entanto, em meio a esta diversidade, todos deveriam falar uma língua comum: o latim, o qual facilitava a comunicação e o acesso ao conhecimento.
Os métodos de ensino baseavam-se na Escolástica, em cujos procedimentos os estudantes exercitavam a dialética, debatendo proposições controversas. Tal método tem fundamento nas idéias de Aristóteles, tornando-se São Tomás de Aquino um de seus principais seguidores e cujos estudos associaram fé e razão.
Estas instituições disseminaram-se na Europa Ocidental. Destacam-se as mais antigas como a de Paris (França), a de Bolonha (Itália), Salamanca (Espanha), Oxford e Cambridge
Muitos historiadores consideram a bula Parens Scientiarum lançada pelo Papa Gregório IX, em 1231, como o documento de fundação da Universidade medieval. Em 1215, no Papado de Inocêncio III, o caráter de associação é reconhecido por estudantes e mestres.
As chamadas artes liberais compreendiam Retórica, Gramática latina, Dialética (Trivium) e Geometria, Música, Aritmética, Astronomia (Quadrivium).
Tomás de Aquino nasceu em 1224 ou 1225 num castelo perto da cidade de Aquino, no reino da Sicília (hoje parte da Itália). Para saber mais sobre São Tomás de Aquino e sua importância para a fi losofi a medieval, acesse http://www.mundodosfi losofos.com.br/aquino.htm e http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0183/aberto/mt_74923.shtml
historia_educacao_I.indb 58historia_educacao_I.indb 58 13/10/2006 15:05:3213/10/2006 15:05:32

59
História da Educação I
Unidade 2
(Inglaterra). Estes locais de saber movimentavam as cidades, que, por sua vez, mantinham o interesse pelas atividades docentes. Numa entrevista, a professora da USP e pesquisadora, Maria Lúcia Hilsdorf, afi rma: “a atuação deles atraía estudantes e, consequentemente, intensifi cava as atividades sociais e econômicas da cidade nascente.”
E como seria o ambiente universitário nesta época? Segundo Pernoud, o mundo letrado era um mundo itinerante. Os estudantes partiam para as universidades escolhidas, seguiam mestres de renome ou disciplinas oferecidas somente em outras cidades. Eram responsáveis, juntamente com os comerciantes e os peregrinos religiosos, pela movimentação nas estradas medievais.
Em cartas endereçadas à família, por exemplo, as preocupações relacionavam-se aos estudos, às provas, à necessidade de dinheiro e de comida.
Percebeu alguma semelhança com a realidade atual?
Os estudantes com poucos recursos pediam isenção das taxas de matrícula nas universidades e trabalhavam para manter os estudos, muitas vezes como copista ou encadernador de livros.
Como funcionava a organização didático-pedagógica?
Geralmente, as aulas eram expositivas e, a partir da lição (sempre em latim), mestres e alunos debatiam os temas. Não havia séries e classes e todos estudavam nas classes de mestres até que pudessem obter a titulação.
Havia alunos a partir de 12 anos no mesmo espaço que alunos mais velhos. Os mais novos poderiam passar da Faculdade de Artes para as formações específi cas (Direito, Medicina, Teologia) aos 15 anos e alcançarem a titulação de mestre e a licença com 20 anos.
Figura: A educação na Idade Média estava diretamente ligada aos estudos junto às igrejas.
Fonte: http://www.saberhistoria.hpg.ig.com.br/nova_pagina_161.htm)
historia_educacao_I.indb 59historia_educacao_I.indb 59 13/10/2006 15:05:3213/10/2006 15:05:32

60
Universidade do Sul de Santa Catarina
Como diz André Petitat:
Com sua pedagogia oral, seus cursos esparsos, sua ausência de graduação sistemática e de exames metódicos, sua mistura de idades, o ensino universitário da Idade Média guarda poucas semelhanças com o colégio que se seguirá, no século XVI. (...) Estamos assistindo ao nascer de uma nova pedagogia e de uma nova instituição. (1994, pp. 60-61).
A seguir veja as imagens de duas universidades criadas durante o período medieval.
Agora, para praticar os conhecimentos adquiridos nesta unidade, realize, a seguir, as atividades propostas.
Figura: Universidade de Paris, do séc. XII.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Paris
Figura: Universidade de Oxford, do séc. XI.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Oxford
historia_educacao_I.indb 60historia_educacao_I.indb 60 13/10/2006 15:05:3313/10/2006 15:05:33

61
História da Educação I
Unidade 2
Atividades de auto-avaliação
Efetue as atividades de auto-avaliação e acompanhe as respostas e comentários no fi nal do livro didático. Para melhor aproveitamento do seu estudo, realize a conferência de suas respostas somente depois de fazer as atividades propostas.
1) Escolha um dos fi lmes sugeridos registre os aspectos relacionados ao tema da Unidade e comente com seus colegas na ferramenta Exposição.
O feitiço de Áquila (EUA, 1985, 117 min., Dir.: Richard Donner).
O nome da rosa (ALE/FRA/ITA, 1986, 130 min., Dir.: Jean Jacques Annaud).
O incrível exército de Brancaleone (ITA, 1965, 90 min., Dir.: Mário Monicelli).
Em nome de Deus (Iugoslávia/Grã-Bretanha, 1988, 115 min., Dir.: Clive Donner).
Cruzada (EUA, 2005, 144 minutos Dir.: Ridley Scott).
Rei Arthur (EUA, 2004, 144 min., Direção: Antoine Fuqua).
historia_educacao_I.indb 61historia_educacao_I.indb 61 13/10/2006 15:05:3313/10/2006 15:05:33

62
Universidade do Sul de Santa Catarina
2) Em relação às práticas educativas das classes e grupos sociais que você viu nesta unidade, qual lhe chamou mais a atenção?
a) Indique características deste grupo ou classe.
b) Identifi que a forma de aprendizado.
historia_educacao_I.indb 62historia_educacao_I.indb 62 13/10/2006 15:05:3313/10/2006 15:05:33

63
História da Educação I
Unidade 2
Síntese
No estudo desta unidade, foram apresentados alguns elementos que, acreditamos, lhe possibilitaram compreender a forma e os métodos gerais das práticas educativas formais e não-formais, exercidas durante a Idade Média.
Procuramos abranger desde o contexto histórico medieval, passando pela educação das mulheres, dos cavaleiros, das corporações de ofício, até a educação nas universidades.
Ao falarmos de educação feminina, pontuamos as diferenças entre as classes sociais, mostrando que a mulher das classes populares não tinha acesso à educação formal, assim como os homens destes grupos. Os princípios educativos eram enunciados por instituições masculinas e voltados para as mulheres da burguesia e da nobreza.
A formação das cavalarias medievais dizia respeito às classes nobres. A cavalaria tem suas origens em grupos armados, que passam a compor exércitos de defesa, com códigos de honra relacionados à fi delidade e ao exercício da guerra. A Igreja exerce forte infl uência nesta formação.
Nas corporações de ofício, o aprendizado constitui-se na aprendizagem técnica, como também na vivência da corporação, no respeito aos estatutos e às regras, que se estendiam ao comportamento social e individual.
A maioria das universidades surgiu de escolas monásticas, porém fi rmaram sua autonomia através da formação de associações corporativas de mestres. A organização didático-pedagógica centrava-se mais no mestre que no aluno.
Pensamos que, assim, você pode construir um conhecimento signifi cativo sobre este assunto, instrumentalizando-se para fazer algumas comparações com a realidade atual.
historia_educacao_I.indb 63historia_educacao_I.indb 63 13/10/2006 15:05:3313/10/2006 15:05:33

64
Universidade do Sul de Santa Catarina
Saiba mais
Para aprofundar as questões abordadas nesta unidade, você poderá pesquisar os seguintes livros:
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999.
HUBERMAN, Leo. A história da riqueza do homem. 20 ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1985.
MICELI, Paulo. O Feudalismo. São Paulo: Atual, 1994.
OPTIZ, Claudia. O quotidiano da mulher no fi nal da Idade Média (1250-1500) In: DUBY, Georges e PERROT, Michelle. (Org.). História das Mulheres. Volume 2. Porto: Afrontamento, 1998.
PERNOUD, Régine. O ensino na Idade Média. Disponível em: http://www.permanencia.org.br/revista/historia/luz2.htm
PETITAT, André. Produção da escola / produção da sociedade: análise sócio-histórica de alguns momentos decisivos da evolução escolar no ocidente. Trad.: Eunice Gruman. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
historia_educacao_I.indb 64historia_educacao_I.indb 64 13/10/2006 15:05:3313/10/2006 15:05:33

UNIDADE 3
Os colégios modernos e a pedagogia jesuítica
Objetivos de aprendizagem
Compreender a constituição dos colégios modernos.
Conhecer aspectos da ordem religiosa da Companhia de Jesus e de suas ações referentes à educação.
Identifi car as principais características da pedagogia jesuítica.
Conhecer a ação dos jesuítas no Brasil colonial.
Seções de estudo
Seção 1 A secularização do pensamento.
Seção 2 Os colégios modernos.
Seção 3 O surgimento da Companhia de Jesus.
Seção 4 A Ratio Studiorum (a pedagogia jesuítica).
Seção 5 A ação dos jesuítas no Brasil colonial.
3
historia_educacao_I.indb 65historia_educacao_I.indb 65 13/10/2006 15:05:3413/10/2006 15:05:34

66
Universidade do Sul de Santa Catarina
Para início de estudo
Nesta unidade, você estudará alguns elementos referentes aos colégios modernos e, mais especifi camente, a educação jesuítica.
Muitos autores situam nos séculos XVI e XVII o berço do modelo de escola atual, quando da criação dos colégios modernos. Por isso, você verá nessa unidade alguns pensadores dessa época e a organização desses colégios.
Os colégios jesuítas, criados nessa época, representam bem esse novo tipo de escola. Você verá, ainda nessa unidade, como surgiu a Companhia de Jesus e quais as principais características da pedagogia jesuítica, expressas em um documento lançado em 1599 e denominado Ratio Studiorum. Além disso, verá um pouco da ação dos jesuítas no Brasil no período colonial.
SEÇÃO 1 – A secularização do pensamento
O período compreendido entre o fi nal do século XIV e o fi m do século XVI é marcado pelo movimento do Renascimento.
No caderno de Fundamentos Filosófi cos, você pode ver algumas de suas características, decorrentes de acontecimentos em diferentes áreas. Foi o período das grandes navegações, da chegada à América, da invenção da pólvora, da bússola, da imprensa e do papel, da Revolução Comercial, da formação dos Estados Nacionais, da Reforma Protestante e da Contra-reforma.
Essas mudanças geraram, portanto, novas formas econômicas, políticas, artísticas, religiosas e educacionais. É o período do Humanismo, “que signifi ca a procura de uma imagem do homem e da cultura, em contraposição às concepções predominantemente teológicas da Idade Média” (ARANHA, 1996, p. 86).
O Teocentrismo dá lugar ao Antropocentrismo, embora os valores religiosos e morais continuem com força. Segundo Aranha (1995, p. 87), busca-se a “secularização do saber, isto
Renascimento é o nome que se dá a um grande movimento de mudanças culturais, que atingiu as camadas urbanas da Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI, caracterizado pela retomada dos valores da cultura greco-romana, ou seja, da cultura clássica. Esse momento é considerado como um importante período de transição envolvendo as estruturas feudo capitalistas. <Fonte: http://www.historianet.com.br>
historia_educacao_I.indb 66historia_educacao_I.indb 66 13/10/2006 15:05:3413/10/2006 15:05:34

67
História da Educação I
Unidade 3
é, desvesti-lo da parcialidade religiosa, para torná-lo mais propriamente humano”. Os principais interessados nesses novos valores são oriundos da nascente burguesia.
Em termos pedagógicos, destacam-se, nesse período, as idéias de pensadores como Vives, Erasmo de Rotterdam, Rabelais e Montaigne.
Juan Luiz Vives (1492-1540), humanista espanhol, deu particular atenção aos aspectos psicológicos do ensino. Este ensino deveria “partir das impressões ou sensações para chegar à imaginação e desta à razão” ou dizendo de outra forma, defendia que devia-se “partir dos objetos sensíveis, naturais, para chegar às idéias”. Recomendava também que o ensino das línguas clássicas fosse realizado na língua materna (LUZURIAGA, 1985, p. 102).
Erasmo de Rotterdam (1465-1536), holandês, viajou por vários países europeus e dedicou inúmeros de seus trabalhos à educação. Defendia as línguas clássicas, latim e grego, desde que não reduzidas ao estudo da gramática. Para ele a educação sistematizada deveria começar desde o terceiro ano de vida respeitando-se as características naturais da criança e utilizando-se do jogo. Não fez referência em seus textos, diferentemente de seus contemporâneos, a questão da língua nacional.
O francês François Rabelais (1494-1553) é considerado o precursor do realismo e do naturalismo na pedagogia. Defendia o estudo das ciências, não através de livros, mas na natureza e pregava que o ambiente educativo fosse de liberdade e atraente, com métodos intuitivos e ativos (LUZURIAGA, 1985, p. 105-6).
Michel de Montaigne (1533-1592), francês, também pregava o realismo e o naturalismo, onde as disposições naturais da criança fossem respeitadas. Criticava o uso dos castigos e o ensino livresco e propunha uma educação onde o aluno participasse ativamente. Percebe-se, em linhas gerais, uma crítica à educação predominante até então e a defesa de uma pedagogia mais humana. Destaca-se, ainda, nos escritos destes autores, a preocupação com a moralização dos comportamentos infantis e prevêem-se roteiros de civilidade para orientar as ações das
historia_educacao_I.indb 67historia_educacao_I.indb 67 13/10/2006 15:05:3413/10/2006 15:05:34

68
Universidade do Sul de Santa Catarina
famílias e dos educadores. Veja-se, a seguir, a fala de Erasmo, de 1530:
A arte de educar as crianças divide-se em diversas partes, das quais a primeira e a mais importante é que o espírito, ainda brando, receba os germes da piedade; a segunda, que ele se entregue às belas-artes e nelas mergulhe profundamente; a terceira, que ele se inicie nos deveres da vida; a quarta, que esse se habitue, desde muito cedo, às regras de civilidade. (...) Convém, portanto que um homem preste atenção à sua aparência, aos seus gestos e à sua maneira de vestir, tanto quanto à sua inteligência. (ERASMO, apud FREITAS e KUHLMANN Jr., 2002, p. 18).
Essa nova civilidade tem a ver com os valores almejados pela nova classe burguesa que busca se diferenciar dos trabalhadores e se aproximar da aristocracia.
Seria assim essa conduta refi nada, a polidez, o bom comportamento, a moralidade e também uma educação clássica, enciclopédica que formaria os fi lhos da burguesia e da aristocracia renascentista.
Para isso, serão necessárias
(...) práticas de controles minuciosos e ordenados sobre o corpo: controles que visam a obtenção de autocontroles; censuras internalizadas e automação de gestos para o convívio público, de tal maneira que se passa a ensaiar um roteiro supostamente universal de como se comportar. São padrões da corte (cortesia), que preparam as regras de convívio das multidões das cidades (urbanidade), que retomam a cordialidade da antiga polis (polidez), e que constituem feixes encadeados de conduta para com os outros específi cos da vida civil (civilidade). (FREITAS e KUHLMANN Jr., 2002, p. 22).
Busca-se adequar os sujeitos a “padrões de urbanidade”, (...) “a um modelo de distinção”. É neste contexto que ocorre a “extensão da freqüência escolar” e crianças são transformadas em alunos. E os colégios, como veremos a seguir, serão a “moderna expressão de como tratar as crianças mediante códigos das boas maneiras
historia_educacao_I.indb 68historia_educacao_I.indb 68 13/10/2006 15:05:3413/10/2006 15:05:34

69
História da Educação I
Unidade 3
requeridos pela cultura moderna”. (FREITAS e KUHLMANN Jr., 2002, p. 22-23).
Os autores anteriormente citados (Vives, Erasmo Rabelais e Montaigne) expressam em suas teorias ideais educativos decorrentes de uma nova maneira de compreender a educação e a criança.
Contudo, nem todos esses ideais foram de imediato incorporados nas práticas escolares. Como veremos na próxima seção, no estudo dos colégios, a predominância do latim e o recurso aos castigos físicos, por exemplo, permanecem por longo período.
SEÇÃO 2 – Os colégios modernos
Segundo Ariès (1981, p. 110) “no século XIII, os colégios eram asilos para estudantes pobres, fundados por doadores. (...) Não se ensinava nos colégios”. Mas, a partir do século XV, esses colégios tornaram-se instituições destinadas ao ensino.
Se na Idade Média misturavam-se, nas escolas e colégios, crianças, jovens e adultos de diferentes idades, em pequenos grupos, a partir da constituição dos colégios modernos, teremos um número maior de colegiais, agrupados por idades mais próximas, organizados em classes ordenadas com graduação nos estudos e sujeitos a uma disciplina rígida.
Assim, aos poucos, os colégios vão sendo organizados em torno de seis ou sete classes sucessivas, com um mestre para cada uma e os exames são instituídos para estabelecer a aprovação ou reprovação. (PETITAT, 1994, p. 78).
Embora muitos desses colégios se organizassem na forma de internatos, os alunos externos eram em grande número. Mas ambos, internos e externos, fi cavam sujeitos ao espírito de isolamento e controle dessas instituições.
Claude Baduel, diretor de um colégio no século XVI, defende “que se deve agrupar em classes os alunos grandes e sujeitá-los
historia_educacao_I.indb 69historia_educacao_I.indb 69 13/10/2006 15:05:3413/10/2006 15:05:34

70
Universidade do Sul de Santa Catarina
a um maior respeito pelos professores e a uma maior docilidade em tudo o que se refere aos seus estudos. (...) Deve-se ter uma lista com os nomes dos alunos e proceder a uma chamada na abertura das aulas” (apud PETITAT, 1994, p. 79). Vêem-se aqui algumas formas de controle que permanecem até hoje em nossas instituições de ensino.
Exemplo de um dia de estudos num colégio protestante do século XVIEle principia às seis horas no verão e às sete horas no inverno. Pela manhã, oração, chamada, punições dos retardatários, aula durante uma hora e meia, oração, desjejum em aula, oração, aula mais longa ou menos longa conforme fosse verão ou inverno, oração dominical e breve ação de graças; os alunos são reconduzidos aos respectivos alojamentos para a refeição (às 10 horas); à tarde: retorno à classe às 11 horas, canto de salmos até ao meio-dia, uma hora de aula, oração, lanche, oração e tempo livre para estudos até às 14 horas; aula durante duas horas; às 16 horas, reunião de todos os alunos na sala comum, castigos públicos e “admoestações” para os “delitos notáveis”, leitura da oração, da confi ssão de fé e dos dez mandamentos, dispensa acompanhada de benção.
Fonte: Petitat, 1994, p.103.
Vê-se que o espaço e o tempo escolar passam a ser amplamente controlados. Quanto ao tempo, Petitat destaca que nas escolas medievais “o tempo do aluno dividia-se em largos períodos”. Já nos colégios modernos,
(...) este tempo é repartido em períodos anuais; horários estritos e bem carregados dividem as matérias pelos dias e horas. Relógios e sinetas, já presentes no século XV e muito difundidos no século XVI, marcam agora as atividades escolares. Os alunos dispõem de um tempo limitado para assimilar determinadas matérias, para entregar os temas e para apresentar-se aos exames. É o princípio dos prêmios pelo desempenho escolar, das censuras e das recompensas, dos alunos brilhantes e dos preguiçosos. (PETITAT, 1994, p.79).
historia_educacao_I.indb 70historia_educacao_I.indb 70 13/10/2006 15:05:3513/10/2006 15:05:35

71
História da Educação I
Unidade 3
Há, portanto, uma “nova temporalidade”, ditada pelo relógio mecânico, o “tempo da ciência”. Assim como os colégios controlam o espaço e o tempo dos alunos, visando gerir a vida dos mesmos, as manufaturas da época, de acordo com Petitat, também, organizam-se de forma a controlar o assalariado. Diferentemente da ofi cina artesanal medieval, onde o artesão produz no seu próprio ritmo, a manufatura impõe um outro tempo de trabalho, sincronizado, subdividido e vigiado.
Assim, como o colégio, a manufatura acentua as rupturas no interior das atividades sociais. O aluno se vê distante dos locais de socialização espontânea e privado, em grande parte, de suas relações com a vida adulta usual. O artesão, despojado de sua lojinha, está concomitantemente afastado da família, dos vizinhos, dos clientes, o que restringe a vida do bairro e reduz as funções da família. (PETITAT, 1994, p. 93).
Essa nova forma de organização e funcionamento dos colégios está ligada a uma nova maneira de conceber a infância e a adolescência. Estas precisam ser afastadas do mundo adulto. Segundo Petitat (1994, p. 90), “a separação entre o mundo dos adultos e do das crianças e adolescentes está na base da pedagogia moderna”.
Poderíamos perguntar, ainda, qual a origem dos alunos que freqüentavam os colégios e qual o conteúdo essencial aí aprendido.
Segundo Petitat (1994, p. 88), há poucos trabalhos ainda sobre a questão da origem social dos colegiais e destaca ainda que esta origem “apresenta uma face mais ou menos heterogênea de acordo com as cidades: minoria mais considerável ou menos importante de fi lhos de artesãos, presença variável, embora sempre majoritária de funcionários, comerciantes, burgueses e nobres”. Enfatiza, também, que a maioria dos colegiais não termina os estudos.
Quanto ao conteúdo, destacam-se, entre outros, o estudo do latim e do grego, da gramática, de obras literárias e fi losófi cas da Antiguidade, de eloqüência e boas maneiras, ou seja, a aquisição
historia_educacao_I.indb 71historia_educacao_I.indb 71 13/10/2006 15:05:3513/10/2006 15:05:35

72
Universidade do Sul de Santa Catarina
de uma cultura geral, onde os exercícios escritos substituem cada vez mais os orais.
Essa cultura geral, mais do que contribuir para a ascensão social dos que freqüentam os colégios, servia antes para manter as diferenças de classe, para consolidar uma determinada posição social.
Petitat (1994, p. 100) conclui que
(...) o colégio, embora particularmente destinado a certas camadas, é produto de uma estrutura de conjunto das relações de força e de sentido dentro da sociedade e de um nível elevado de trocas econômicas, para as quais a cultura escrita escolarizada, uniformizada, serve de referência, de enraizamento e de distinção.
Essa cultura escrita escolarizada foi difundida nos diversos colégios que surgiram e se consolidaram nesse período. Colégios criados por diferentes iniciativas e congregações religiosas, como os oratorianos, os doutrinários e os jesuítas.
- Nest a disciplina, você irá se deter nos últimos colégios citados, por causa da infl uência que tiveram na educação brasileira. Antes de você conhecer a prática pedagógica jesuítica, você é convidado a conhecer como surgiu essa ordem religiosa.
Seção 3 – O surgimento da Companhia de Jesus
A criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola (1491-1556) ocorreu em 1534. A mesma foi reconhecida pelo papa Paulo III em 1540.
Companhia de Jesus é a denominação de uma ordem religiosa da igreja católica e os membros dessa ordem são denominados jesuítas. Para compreender melhor o seu surgimento, é preciso lembrar que os novos ares oriundos do movimento renascentista afetaram não somente as artes e a ciência, mas também a religião.
historia_educacao_I.indb 72historia_educacao_I.indb 72 13/10/2006 15:05:3513/10/2006 15:05:35

73
História da Educação I
Unidade 3
Neste período, alguns integrantes da igreja católica manifestam posições contrárias ao monopólio da Igreja sobre a religiosidade e contra o comportamento imoral do clero. Martinho Lutero lidera um movimento de crítica a estrutura da Igreja Católica, dando origem à Reforma Protestante.
Para ele, Deus não era como um contador com quem devia barganhar ou um juiz severo a ser aplacado com boas ações. Cristo viera para salvar os pecadores, a salvação não seria alcançada com esforços insignifi cantes, mas com a fé no próprio Deus. Assim, muitos dos princípios da Igreja pareceram irrelevantes e blasfemos a Lutero. Especialmente suspeitos eram: a noção de que Deus recompensa um cristão na proporção das orações, peregrinações ou contribuições; o culto dos santos e de suas relíquias e a venda de indulgências.
De acordo com Pedro, Lutero protestou violentamente contra as indulgências a ponto de, em 1517, afi xar na porta da igreja de Wittenberg, onde era mestre e pregador, 95 proposições onde, entre outras coisas, condenava a prática vergonhosa da venda de indulgências. O papa Leão X exigiu uma retratação e, tendo ele recusado, foi expulso da Igreja. (Pedro, A, 1995).
As 95 proposições mencionadas são, na verdade, afi rmações ou idéias defendidas por Martinho Lutero e seus seguidores contra práticas ou determinações da igreja católica naquele momento. Também são conhecidas como as 95 teses de Martinho Lutero.
Como a Igreja Católica perdeu muitos fi éis com esse movimento de protesto (daí o termo “protestante”) liderado por Lutero pela Reforma da Igreja Católica, iniciou outro movimento que fi cou conhecido como Contra-reforma.
A reação da Igreja Católica a esse movimento protestante é conhecida como Contra-reforma.
Entre as ações desencadeadas pela hierarquia católica para combater esse movimento, podemos destacar:
Figura – MARTINHO LUTERO.
Fonte: <http://www.saberhistoria.hpg.ig.com.br/nova_pagina_104.htm>
Martinho Lutero Nasceu em 1483, na cidade de Eisleben, Alemanha. Iniciou os estudos de direito em 1505 e os abandonou no mesmo ano, trocando-os pela vida religiosa, sem o apoio do pai. Tornou-se monge e depois padre. Apesar de dedicado à Igreja, sempre esteve atormentado por duas grandes dúvidas: o poder da salvação atribuído a lugares santos e, posteriormente, a venda de indulgências.
historia_educacao_I.indb 73historia_educacao_I.indb 73 13/10/2006 15:05:3513/10/2006 15:05:35

74
Universidade do Sul de Santa Catarina
Concílio de Trento
O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, foi convocado pelo Papa Paulo III. O objetivo era assegurar a unidade de fé e a disciplina eclesiástica. A sua convocação surge no contexto da reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. O Concílio de Trento foi o mais longo da história da Igreja: é chamado Concílio da Contra-Reforma.
Lista de livros proibidos (Index)
Segundo o historiador alemão Hubert Wolf, a censura eclesiástica se tornou uma instituição em 1571 e intensifi cou seus trabalhos nos séculos seguintes, como reação à reforma protestante e ao Iluminismo.
Acirramento das ações da Inquisição
A Inquisição foi criada na Idade Média (século XIII) e era dirigida pela Igreja Católica Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas (conjunto de leis) desta instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados, cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública. Esta perseguição aos hereges e protestantes foi fi nalizada somente no início do século XIX.
Assim, é nesse contexto que Inácio de Loyola, militar espanhol, cria a Companhia de Jesus. Com muita rapidez os jesuítas se espalham pela Europa, Ásia, África e América (chegam ao Brasil em 1549), pregando a fé e combatendo heresias.
Embora não fosse o intento inicial dos jesuítas, logo eles passaram a dedicar-se à criação de escolas devido, principalmente, à necessidade de formar os futuros quadros da congregação.
Esses colégios passaram a receber também alunos externos. O Colégio de Messina, em 1548, foi o primeiro a recebê-los. Em 1551, foi o fundado o Colégio Romano, em Roma, onde seriam
Uma boa opção para compreender melhor o período e a Santa Inquisição é assistir o fi lme O Nome da Rosa, de Umberto Eco.
Figura: Venda de indulgências
Fonte: <http://www.saberhistoria.hpg.ig.com.br/nova_pagina_104.htm>
historia_educacao_I.indb 74historia_educacao_I.indb 74 13/10/2006 15:05:3513/10/2006 15:05:35

75
História da Educação I
Unidade 3
realizadas as principais experiências educativas que se tornariam modelares para os demais colégios inacianos.
Segundo HANSEN (2001, p.14), visando assegurar uma uniformização das práticas educativas desenvolvidas nos colégios jesuítas espalhados pelo mundo todo, os jesuítas, liderados pelo Superior Geral da Companhia, Pe. Cláudio Acquaviva, no ano de 1581, desencadeiam um processo para elaboração de um Plano de Estudos a ser adotado em todos os colégios.
Isto para que as determinações e práticas fossem iguais em todas as instituições da companhia.
O mesmo autor coloca que, inicialmente, Acquaviva nomeou uma comissão composta de doze padres para “formular a ordem de estudos que se deva guardar a Companhia”. Este grupo tinha como compromisso, através de cartas, conseguir informações das práticas efetivadas em todos os Colégios e, partir dessas informações, elaborar os Planos de Estudos.
Hansen coloca ainda que, por causa de vários problemas, o grupo de doze padres não levou o projeto adiante, tendo Acquaviva, em dezembro de 1584, nomeado outra comissão de seis membros, composta por padres de vários países, sendo todos eruditos e experientes no ensino (HANSEN, 2001, p.16).
Em 1591, Acquaviva, mandou para toda a companhia uma versão da Ratio que tinha em conta as críticas e sugestões recebidas das diferentes instituições existentes, contendo 466 regras e estabelecia que fi casse em experiência durante três anos.
Finalmente, em 1599, foi publicada a edição defi nitiva da Ratio Studiorum que regula com grande detalhe o modelo de ensino praticado durante séculos pela Companhia de Jesus.
Sendo os jesuítas precursores da educação institucional no Brasil, é de fundamental importância conhecermos um pouco de sua prática pedagógica para compreendermos o processo de escolarização desenvolvido no país. Sendo assim, convidamos
historia_educacao_I.indb 75historia_educacao_I.indb 75 13/10/2006 15:05:3613/10/2006 15:05:36

76
Universidade do Sul de Santa Catarina
você para conhecer aspectos dessa pedagogia através da leitura de alguns componentes estabelecidos na Ratio Studuorum.
Seção 4 – A Ratio Studiorum (a pedagogia jesuítica)
Sendo a Companhia de Jesus uma ordem religiosa não contemplativa, como a maioria das ordens religiosas da época, que viviam recolhidas em mosteiros, a Ratio Studiorum, de 1599, orienta o ensino das letras, das artes e teologia no sentido de desenvolver nos educandos as capacidades de assimilar, transferir e aplicar conhecimentos como intervenções nas questões do presente.
Considerando o momento contra-reformista daquele momento, essas intervenções na prática cotidiana não poderiam estar dissociadas das práticas das virtudes cristãs. Nesse sentido, Hansen observa que o sentido fi nal das normas e das práticas da Ratio Studiorum “é o da ortodoxia, seguindo-se com a máxima fi delidade a tradição e os textos canônicos autorizados pela Igreja a partir do Concílio de Trento” (HANSEN, 2001, p.18). Para cumprir estas determinações a Ratio
Prescreve Santo Tomás de Aquino em teologia escolástica, evita as interpretações averroísticas de Aristóteles, segue em teologia positiva os doutores aprovados pelas universidades católicas, sempre cuidando (...) (não ser nem curioso nem temerário nos estudos nem defensor de opinião própria) mas visando, ao contrário, à humildade, modéstia, simplicidade e outras virtudes cristãs (HANSEN, 2001, p.18).
A Ratio Studiorum, publicada em 1599, é um regulamento interno da Ordem Jesuítica, composto por 467 regras, agrupadas em 30 conjuntos, dirigidas aos agentes e instituições escolares dos colégios jesuítas. Esse conjunto de regras trata de questões administrativas, planos de estudos, método e as disciplinas escolares.
historia_educacao_I.indb 76historia_educacao_I.indb 76 13/10/2006 15:05:3613/10/2006 15:05:36

77
História da Educação I
Unidade 3
As mesmas regras são válidas para todos os cursos que eram divididos em Estudos Inferiores (retórica humanidades e gramática) e Faculdades Superiores (fi losofi a e teologia).
Os estudos inferiores eram divididos em séries: Retórica, Humanidades e Gramática, sendo que esta era subdividida em inferior, média e superior.
Segundo Dallabrida, aproximadamente um terço das regras da Ratio normatizavam os conteúdos e as práticas escolares dos estudos inferiores. A Ratio determinava que as cinco séries (Retórica, Humanidades, Gramática inferior, Gramática média e Gramática Superior) não deveriam misturar-se e que as promoções de uma série para outra deveriam ser realizadas anualmente, mas nas classes de gramática somente quando o aluno demonstrasse domínio do conhecimento estipulado (DALLABRIDA, 2001, p.138).
Para este autor,
O objetivo central das classes inferiores era proporcionar ao estudante jesuíta um sólido conhecimento gramatical, como auxílio e fundamento para os estudos de fi losofi a e principalmente de teologia. O núcleo central do currículo das classes inferiores fi xado pela Ratio era o ensino das línguas e literaturas clássicas, que eram ministradas em todas as classes em grau crescente de complexidade e aperfeiçoamento (DALLABRIDA, 2001, p. 139).
Mas todo o ensinamento deveria ser trabalhado de forma descontextualizada da mentalidade pagã das sociedades antigas. A maior preocupação dos jesuítas era em eliminar qualquer possibilidade de contato dos alunos com livros que continham “escritos impuros” e os “perniciosos e inúteis”.
A regra número 34, intitulada de “Proibição de livros inconvenientes”, dizia:
Tome todo o cuidado, e considere este ponto como da maior importância, que de modo algum se sirvam os nossos, nas aulas,de livros de poetas ou outros, que possam ser prejudiciais à honestidade e aos bons costumes, enquanto não forem expurgados dos fatos e
Figura - Ratio Studiorum Societatis IESU, 1598.
Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ratiostudiorum.jpg
historia_educacao_I.indb 77historia_educacao_I.indb 77 13/10/2006 15:05:3613/10/2006 15:05:36

78
Universidade do Sul de Santa Catarina
palavras inconvenientes; e se de todo modo não puderem ser expurgados, como Terêncio, é preferível que não leiam para que a natureza do conteúdo não ofenda a pureza da alma (apud Dallabrida, 2001, p. 139).
Além de afastar obras e escritos pagãos dos educandos, os jesuítas também produziam obras didáticas próprias, como a Gramática do Padre Manuel Álvares, recomendada às classes de gramática, onde predominava a mentalidade católico-tridentina.
Os alunos ao fi nal dos Estudos inferiores deveriam dominar perfeitamente o Latim, língua preferida sobre as demais, inclusive sobre o grego. Para Dallabrida (2001), o ideal a ser perseguido era o domínio oral e escrito do latim clássico, a partir de alguns escritores romanos, de preferência Cícero, que deveria ser, não somente aprendido, como imitado, de forma progressiva, durante as cinco séries dos Estudos inferiores.
A predominância da língua latina sobre as demais está relacionada ao seu caráter utilitário, já que nas estruturas políticas e culturais do Antigo Regime, ela era a língua ofi cial da Igreja Católica e dos Estados absolutistas. Além disso, tinha a função de distinção social, sendo uma forma das elites cortesãs e burguesas distanciarem-se tanto da antiga nobreza guerreira como das classes populares.
De acordo com a Ratio (apud. DALLABRIDA 2001, p. 141) era preciso “moldar a alma plástica da juventude no serviço e no amor a Deus”, o que requeria uma metodologia que incluísse estratégias e táticas voltadas para este fi m dentro e fora da sala de aula, durante o período em que o educando permanecia no colégio. Para isso, era preciso absoluto controle sobre o tempo e o espaço, ou seja, o aluno devia ter todo o tempo ocupado com atividades propostas pelos professores, bem como defi nição de horários e lugares para cada atividade. Deveriam realizar atividades escritas todos os dias, com exceção de sábado, que era dia da sabatina.
historia_educacao_I.indb 78historia_educacao_I.indb 78 13/10/2006 15:05:3713/10/2006 15:05:37

79
História da Educação I
Unidade 3
A Ratio detalhava ainda, os passos da preleção (lição) para todos os professores das classes inferiores: leitura do texto, análise sintética do texto, leitura detalhada de cada período e, por último, apresentação de observações detalhadas a cada classe (DALLABRIDA, 2001, p.143).
Outro componente da metodologia jesuítica previsto na Ratio era a emulação e a competição entre alunos, grupos e classes. Esta era considerada uma forma de manter os educandos em permanente estado de alerta e desafi ados a provar sua maior capacidade em relação ao outro.
Segundo Dallabrida, a emulação estava conjugada a um sistema individualizado de controle, avaliação, classifi cação e premiação dos alunos, que propunha uma rígida hierarquia escolar.
Esta hierarquia estava pautada na autoridade e na obediência, à semelhança do que ocorria na estrutura da própria Companhia de Jesus. Os Reitores dirigiam os colégios, assessorados pelos Prefeitos Gerais dos Estudos a quem estavam submetidos os Prefeitos de Estudos inferiores, os professores e os alunos.
Nos estudos superiores, de acordo com Hansen, o Curso de Filosofi a era dividido em três anos: no primeiro, estudava-se a lógica, metafísica geral e matemáticas elementares. No segundo, estudava-se cosmologia e outras ciências e no terceiro ano, teodicéia e ética, astrologia e matemáticas superiores. Já o Curso de Teologia, dividido em quatro anos, além de fi nalizar todos os cursos anteriores, seguia o sistema de Santo Tomás de Aquino: teologia patrística ou positiva; teologia escolástica moral; Sagrada Escritura; Instituições canônicas; hebreu, siríaco e outras línguas bíblicas. No curso de teologia, “somente podiam ensinar os padres que tinham demonstrado conhecimento pleno de Santo Tomás de Aquino” (HANSEN, 2001, p.22).
historia_educacao_I.indb 79historia_educacao_I.indb 79 13/10/2006 15:05:3713/10/2006 15:05:37

80
Universidade do Sul de Santa Catarina
Seção 5 – A ação dos jesuítas no Brasil
Nesta seção, faremos um breve relato sobre a ação dos jesuítas no Brasil, desde sua chegada em 1549 até sua expulsão em 1759, pelo fato de na disciplina de História da Educação II, da 2ªfase, a prática pedagógica dessa ordem religiosa, no Brasil, ser tema bastante detalhado.
Já em 1549, ou seja, apenas nove anos após a criação ofi cial da Companhia de Jesus, chegaram ao Brasil os primeiros padres jesuítas, liderados pelo Pe. Manoel da Nóbrega. Dedicaram-se desde cedo à divulgação da fé cristã e ao trabalho educativo. Iniciaram criando escolas de primeiras letras, onde ensinavam a ler e escrever, a fi m de facilitar o trabalho de catequese.
Tendo em vista algumas difi culdades no projeto de catequização e conversão dos índios, como a dispersão e mobilidade de muitas tribos, os jesuítas criaram os aldeamentos ou missões, retirando os indígenas da selva e impondo-lhes um outro modo de vida, onde havia tempo determinado para cada atividade cotidiana.
A introdução dessa racionalidade na vida dos nativos sem dúvida revolucionava os seus hábitos e reorganizava o seu cotidiano. À indiferença da oca, onde as famílias realizavam, sem qualquer privacidade, as suas atividades de trabalho e de lazer, deu lugar à vida regrada imposta pelos jesuítas. Havia que ter lugar e tempo próprios para o sono, as refeições e as diversões, assim como lugar e tempo adequados para o trabalho e para a devoção. (XAVIER, 1994, p. 43)
Segundo Ferreira Jr. e Bittar (1999), para manterem-se fi nanceiramente, devido às difi culdades em receber as verbas repassadas pela coroa portuguesa, os jesuítas reivindicaram terras (sesmarias) que foram transformadas em fazendas altamente produtivas. Nestas empregava-se o trabalho escravo negro. Assim, as práticas escolares jesuítas destinavam-se a crianças de várias origens raciais: indígenas, brancas (fi lhas de colonos e da elite portuguesa), mamelucas, mulatas e negras (fi lhas dos escravos das fazendas).
Além das escolas elementares de ler, escrever e contar, os jesuítas implantaram também colégios. Em 1570, já havia cinco escolas
Para maior conhecimento sobre aldeamentos e missões dos jesuítas no Brasil, assista o fi lme A Missão, de Roland Joff é.
historia_educacao_I.indb 80historia_educacao_I.indb 80 13/10/2006 15:05:3713/10/2006 15:05:37

81
História da Educação I
Unidade 3
de instrução elementar localizadas em Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo de Piratininga e três colégios localizados na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.
Buscava-se seguir, nestas escolas e colégios, o que estava prescrito na Ratio Studiorum. Contudo, conforme indicação de alguns autores, foram necessárias algumas concessões devido à realidade brasileira apresentar características bastante diferenciadas da realidade européia.
Toleraram-se alguns hábitos indígenas, como um vestuário mais tropical; utilizou-se menos o latim, dando preferência ao português e às línguas nativas (inúmeras orações e músicas católicas foram traduzidas para a “língua geral” (tupi), bem como se elaboraram gramáticas nessa língua); o teatro e a música, principalmente, foram amplamente utilizados como estratégias pedagógicas para a catequização e moralização dos nativos.
Ao fi nal dos 210 anos (1549-1759), de predomínio educacional jesuítico quase exclusivo, a Companhia de Jesus possuía em território brasileiro além de inúmeras escolas elementares, 25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários.
Os jesuítas foram expulsos de Portugal e de seus domínios em 1759 e dos demais países europeus nos anos seguintes, até que, em 1773, o papa Clemente XIV extinguiu a Companhia de Jesus. Em 1814, ela foi novamente restabelecida, sendo que os primeiros jesuítas retornaram ao Brasil na década de 1840, abrindo, em 1845, um colégio em Desterro, atual Florianópolis, dando prosseguimento à sua ação educacional.
Quanto à expulsão dos jesuítas de Portugal e de seus domínios pelo Marquês de Pombal, primeiro ministro português, aprendemos, de modo geral, que a razão principal decorre da perspectiva conservadora do ensino jesuítico, o que estaria gerando atrasos para a cultura portuguesa. Contudo, há outros motivos, principalmente políticos e econômicos, que desencadearam a expulsão. Entre eles, podemos destacar que a política administrativa de Pombal se contrapunha ao
historia_educacao_I.indb 81historia_educacao_I.indb 81 13/10/2006 15:05:3713/10/2006 15:05:37

82
Universidade do Sul de Santa Catarina
poder temporal (civil) exercido pelos jesuítas nos territórios guaraníticos, por exemplo.
Pombal queria reduzir o poder dos jesuítas ao plano espiritual.
Os jesuítas também haviam adquirido um considerável poder econômico que ameaçava os interesses de Pombal que defendia a criação de Companhias de Comércio, visando controlar as relações comerciais.
Como mencionamos no início dessa seção, na 2ª. fase do curso, você terá oportunidade de aprofundar algumas questões aqui expostas, brevemente, a título de contextualização, bem como conhecer inúmeros outros aspectos da ação jesuítica no Brasil e das razões para a sua expulsão.
De qualquer modo, é bom deixar claro que não há de um lado apenas heróis e de outro apenas vilões, nessa história. Tanto a imagem heróica ou vilã do Marquês de Pombal, quanto dos jesuítas, são imagens historicamente construídas que atendem a determinados fi ns.
Agora, para praticar os conhecimentos conquistados nesta unidade, realize, a seguir, as atividades propostas.
historia_educacao_I.indb 82historia_educacao_I.indb 82 13/10/2006 15:05:3713/10/2006 15:05:37

83
História da Educação I
Unidade 3
Atividades de auto-avaliação
Efetue as atividades de auto-avaliação e, a seguir, acompanhe as respostas e comentários a respeito. Para melhor aproveitamento do seu estudo, realize a conferência de suas respostas somente depois de fazer as atividades propostas.
1) A que classe social os colégios modernos atenderam e ajudaram o forjar?
2) Quais os objetivos principais dos jesuítas ao elaborar um Plano de Estudos (Ratio Studiorum) que deveria ser seguido em todas as instituições de ensino jesuíticas?
historia_educacao_I.indb 83historia_educacao_I.indb 83 13/10/2006 15:05:3713/10/2006 15:05:37

84
Universidade do Sul de Santa Catarina
3) Para você, ainda permanecem resquícios da pedagogia jesuítica nas nossas instituições educativas? Justifi que sua resposta.
4) Coloque (V) para Verdadeira e (F) para Falso:
a) ( ) A Ratio Studiorum constitui-se num conjunto de regras que trata de questões administrativas, planos de estudos, método e as disciplinas escolares.
b) ( ) A elaboração do texto da Ratio Studiorum, publicado em 1599, é resultado do trabalho da comissão de seis membros, composta por padres de vários países, nomeados pelo Padre Acquaviva, em dezembro de 1584.
d) ( ) A Ratio era um conjunto de regras com determinações diferentes para cada instituição de ensino da Companhia de Jesus.
e) ( ) O núcleo central do currículo das classes inferiores era o ensino das línguas e literaturas clássicas, ministradas em todas as classes em grau crescente de complexidade e aperfeiçoamento.
f) ( ) Cada instituição da Companhia de Jesus poderia elaborar seus próprios planos de estudos.
historia_educacao_I.indb 84historia_educacao_I.indb 84 13/10/2006 15:05:3813/10/2006 15:05:38

85
História da Educação I
Unidade 3
Síntese
Na primeira seção desta unidade, você teve oportunidade de conhecer características do período marcado pelo movimento do Renascimento. Movimento este que gerou novas formas econômicas, políticas, artísticas, religiosas e educacionais. É do período do Humanismo, em contraposição, as concepções predominantemente teológicas da Idade Média. O teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo, embora os valores religiosos e morais continuem com força.
Percebe-se, em linhas gerais, uma crítica à educação predominante até então e a defesa de uma pedagogia mais humana. Destaca-se ainda, nos escritos destes autores, a preocupação com a moralização dos comportamentos infantis e prevêem-se roteiros de civilidade para orientar as ações das famílias e dos educadores.
Na seção 2, você pôde verifi car o surgimento dos colégios modernos onde os alunos passam a ser agrupados por idades mais próximas, organizados em classes ordenadas com graduação nos estudos e sujeitos a uma disciplina rígida. O tempo e o espaço passam a ser totalmente controlados.
Entre os conteúdos destacam-se, entre outros, o estudo do latim e do grego, da gramática, de obras literárias e fi losófi cas da Antiguidade, de eloqüência e boas maneiras, ou seja, a aquisição de uma cultura geral, onde os exercícios escritos substituem cada vez mais os orais.
Na seção 3, você pôde perceber que a criação da Companhia de Jesus ocorreu em meio aos protestos liderados por Martinho Lutero contra algumas práticas da Igreja Católica do período e que as ações dos jesuítas fi zeram parte do movimento da igreja católica contra a reforma protestante.
Na seção 4, você aprendeu que a Ratio Studiorum, publicada em 1599, é um regulamento interno da Ordem Jesuítica, composto por 467 regras, agrupadas em 30 conjuntos, dirigidas aos agentes e instituições escolares dos colégios jesuítas e que esse conjunto de regras trata de questões administrativas, planos de
historia_educacao_I.indb 85historia_educacao_I.indb 85 13/10/2006 15:05:3813/10/2006 15:05:38

86
Universidade do Sul de Santa Catarina
estudos, método e as disciplinas escolares. Além disso, aprendeu que as mesmas regras são válidas para todos os cursos que eram divididos em Estudos Inferiores (retórica humanidades e gramática) e Faculdades Superiores (fi losofi a e teologia).
Você aprendeu ainda, que o processo de aquisição de conhecimento pelo método jesuítico ocorria da seguinte forma: o primeiro passo consistia na repetição do texto, seguido da memorização, que colocava o aluno em condições de competição e, por último, a realização dos exames levando-o à premiação ou reprovação.
E que, nesse processo, a obediência e disciplina, aliadas às boas maneiras, à moralidade, à civilidade, ao bom comportamento, eram valores a serem incorporados pelos alunos.
Por último, você tomou conhecimento que os jesuítas chegaram ao Brasil logo após o descobrimento e que aqui, além de trabalhar na conquista de novos fi éis para igreja católica através das missões e aldeamentos, criaram escolas de primeiras letras e colégios e que foram expulsos em 1759, pelo Marquês de Pombal, Ministro de D. José, que, na época, era rei de Portugal.
historia_educacao_I.indb 86historia_educacao_I.indb 86 13/10/2006 15:05:3813/10/2006 15:05:38

87
História da Educação I
Unidade 3
Saiba mais
Para aprofundar as questões abordadas nesta unidade, você poderá pesquisar os seguintes livros e sites:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento_(movimento_cultural)
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. São Paulo: Moderna, 1996.
DALLABRIDA, Norberto. Moldar a alma plástica da juventude: a Ratio Studiorum e a manufatura de sujeitos letrados e católicos. Educação Unisinos, vol. 5, n.8, p. 133-150. 2001.
HANSEN, João Adolfo. Ratio Studiorum e Política Católica Ibérica no Século XVII. In: VIDAL, Diana Gonçalves e HILSDORF, Maria Lúcia Spedo (Org.). Brasil 500 anos: Tópicos em história da educação. São Paulo: Ed USP, 2001.
PEDRO, Antônio. História: Compacto, 2º Grau - Ed. Atual., ampl. e renovada. São Paulo: FTD, 1995. Texto on-line disponível em <http://www.saberhistoria.hpg.ig.com.br/nova_pagina_105.htm>
PETITAT, A. Produção da escola/produção da sociedade: análise sócio-histórica de alguns momentos decisivos da evolução escolar no ocidente. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
historia_educacao_I.indb 87historia_educacao_I.indb 87 13/10/2006 15:05:3813/10/2006 15:05:38

historia_educacao_I.indb 88historia_educacao_I.indb 88 13/10/2006 15:05:3813/10/2006 15:05:38

UNIDADE 4
A infância e a pedagogia moderna
Objetivos de aprendizagem
Identifi car alguns modos de tratamento dispensados à infância em diferentes períodos históricos.
Identifi car as principais características da pedagogia moderna.
Conhecer aspectos do processo de redefi nição do espaço da criança na família e na sociedade a partir do Renascimento.
Compreender o processo de pedagogização dos conhecimentos e disciplinarização dos sujeitos na modernidade.
Seções de estudo
Seção 1 A infância na Antiguidade
Seção 2 A infância na Idade Média
Seção 3 A infância a partir do Renascimento
Seção 4 A pedagogização dos conhecimentos e o disciplinamento dos sujeitos
4
historia_educacao_I.indb 89historia_educacao_I.indb 89 13/10/2006 15:05:3813/10/2006 15:05:38

90
Universidade do Sul de Santa Catarina
Para início de estudo
Como as crianças foram vistas e tratadas em outras épocas? O mundo infantil sempre se diferenciou do mundo adulto? Que tipo de escola/pedagogia foi organizada para as crianças e adolescentes na modernidade? Estas são algumas das questões que nortearam a elaboração desta unidade.
O objetivo primordial desta unidade é destacar as principais características que a pedagogia e a escola moderna adquiriram em função das novas concepções sobre a criança desenvolvidas no período. Para entender a concepção de infância do período moderno, você iniciará o estudo desta unidade vendo como a infância foi tratada em diferentes momentos históricos. Verá que a partir do Renascimento institui-se uma nova concepção de infância que resultará num processo de pedagogização dos conhecimentos e disciplinarização dos sujeitos.
SEÇÃO 1 - A infância na Antiguidade
Ainda são poucas as pesquisas históricas voltadas para analisar a infância nas sociedades da Antiguidade. Apresentaremos aqui breves considerações encontradas esparsamente em algumas obras.
Na sociedade romana, por exemplo, as crianças estavam totalmente subjugadas ao poder do pai e era comum abandoná-las, conforme veremos com mais detalhes na próxima seção.
Quanto às crianças abandonadas, em seu livro “História social da criança abandonada”, Maria Luiza Marcílio destaca que a prática de abandonar bebês é bastante comum, desde longa data, nas civilizações ocidentais. A autora inicia destacando a situação de abandono de bebês na tradição judaica, fazendo referência, por exemplo, ao abandono de Moisés e na mitologia grega destaca o
historia_educacao_I.indb 90historia_educacao_I.indb 90 13/10/2006 15:05:3813/10/2006 15:05:38

91
História da Educação I
Unidade 4
caso de Édipo, abandonado pelo pai. Aponta, ainda, como Platão e Aristóteles defendiam o abandono. Na Grécia “a deformidade da criança ou a pobreza da família bastavam para que a justiça doméstica decretasse sua morte ou seu abandono. O aborto era legítimo, e o infanticídio admitido”. (MARCÍLIO, 1998, p. 23).
Em Roma essas práticas também eram comuns.
Ricos e pobres abandonavam fi lhos na Roma Antiga. As causas eram variadas: enjeitavam-se ou afogavam-se as crianças malformadas; os pobres, por não terem condições de criar os fi lhos, expunham-nos, esperando que um benfeitor recolhesse o infeliz bebê; os ricos, ou porque tinham dúvidas sobre a fi delidade de suas esposas ou porque já teriam tomado decisões sobre a distribuição de seus bens entre os herdeiros já existentes. (MARCÍLIO, 1998, p. 25).
Para Costa (2003) “a tradição cristã abriu..., uma nova perspectiva à criança”. Vários mosteiros abriram suas portas para receber crianças abandonadas. Também, segundo Marcílio (1998, p.28), vários concílios e patriarcas da Igreja, inclusive alguns deles que haviam sido abandonados pelos pais, faziam a “apologia da caridade em relação ao enjeitado”.
De modo geral, é possível dizer que as crianças gregas e romanas que sobreviviam tinham seus brinquedos e brincadeiras, e as da elite iam para escola por volta dos sete anos, enquanto a grande maioria era educada no espaço doméstico e coletivo, logo entrando no mundo do trabalho. E quanto mais pobres, mais cedo isto ocorria. A infância era, portanto, bastante curta.
SEÇÃO 2 - A infância na Idade Média
Por muito tempo, acreditou-se na ausência de uma noção de infância no período medieval, ao menos no Ocidente. Isto se deve, principalmente, à ausência de fontes para a pesquisa deste tema, ou melhor, à ausência da criança, nas fontes pesquisadas.
historia_educacao_I.indb 91historia_educacao_I.indb 91 13/10/2006 15:05:3813/10/2006 15:05:38

92
Universidade do Sul de Santa Catarina
Philippe Ariès, historiador francês, em seu estudo “A História Social da criança e da família”, analisa obras iconográfi cas e identifi ca a não presença da criança ou uma representação que mostrava os pequenos como “adultos em miniatura”.
Neste estudo, o autor demonstra que as crianças participam ativamente de todas as atividades sociais, das mesmas festas, dos mesmos jogos e das mesmas brincadeiras. Suas vestimentas também não se diferenciavam muito da dos adultos. Por isto, Ariès relaciona a emergência de um olhar para a infância, a partir da constituição das cidades e da classe burguesa, correspondendo ao segundo momento do período medieval, a Baixa Idade Média (de acordo com a divisão referente aos períodos históricos apresentados na Unidade 2).
No entanto, o professor e pesquisador Ricardo da Costa, em suas pesquisas sobre esse período, encontrou algumas evidências sobre a infância em período anterior ao pesquisado por Ariès (Alta Idade Média), e as publicou em seu artigo “A Educação Infantil na Idade Média”.
Como você já viu na Unidade 2, a Idade Média Ocidental é forjada a partir de duas grandes referências culturais: a Romana e a Germânica.
Em relação às crianças, os romanos legavam ao pai (pater familias) o poder de vida ou de morte. Mesmo sendo fi lho legítimo (de sangue), o pai poderia reconhecê-lo ou rejeitá-lo.
Caso o pai não o reconhecesse publicamente, a rejeição signifi cava, na maioria dos casos, a morte.
Por outro lado, os germanos apresentavam algumas diferenças. Não havia a prática do infanticídio, pois os rejeitados eram assumidos pela linhagem materna, as mulheres amamentavam as crianças, as crianças tinham uma educação comum até certa idade. É importante lembrarmos que, diferentemente dos romanos, em que todo poder e as decisões eram legadas ao pai, entre os germanos as mulheres também possuíam papel de destaque. Assim, podemos identifi car um poder patriarcal
Figura: Mulher nobre com fi lho
Fonte: www.artehistoria.com/historia/contextos/1334.htm
Neste sentido, há uma cena no fi lme “Cleópatra” que ilustra bem esta questão: Júlio César, imperador romano, tem um envolvimento amoroso com Cleópatra, a rainha do Egito (apesar de ter uma esposa em Roma). Cleópatra dá à luz um fi lho do Imperador e este, após o parto, levanta a criança, num gesto que simboliza o reconhecimento como fi lho legítimo.
historia_educacao_I.indb 92historia_educacao_I.indb 92 13/10/2006 15:05:3913/10/2006 15:05:39

93
História da Educação I
Unidade 4
relacionado à política e à organização social e um poder matriarcal em relação à família.
É certo que, naquela época, as taxas de mortalidade infantil eram altíssimas, no entanto, Costa diz que isto não impedia que os pais chorassem a morte de seus fi lhos, como esta citação de Fredegunda, esposa do rei franco Chilperico:
Esta epidemia que começou no mês de agosto atacou em primeiro lugar a todos os jovens e adolescentes e provocou sua morte. Nós perdemos algumas criancinhas encantadoras e que nos eram queridas, a quem nós havíamos aquecido em nosso peito, carregado em nossos braços ou nutrido por nossa própria mão, lhes administrando os alimentos com um cuidado delicado [...]Nós perdemos agora os nossos fi lhos, eis que as lágrimas dos pobres, as lamentações das viúvas e os suspiros dos órfãos os matam e não nos resta esperança de deixar os bens para ninguém. Nós entesouramos sem ter para quem deixar. (Disponível em: http://www.hottopos.com/videtur17/ricardo.htm)
No entanto, segundo os estudos de Costa, é o cristianismo que traz novos elementos às relações familiares. É na educação preconizada nos mosteiros que encontramos práticas pedagógicas para além dos ensinamentos da guerra, assim como crianças de vários grupos sociais, tópico visto na Unidade 2, que lá podiam permanecer até os quinze anos de idade.
De toda forma, havia condutas disciplinares que incluíam castigos. Um dos principais conjuntos de normas era a Regra de São Bento. Por um lado pedia cuidado na aplicação de castigos, por outro prescrevia castigos como jejuns ou pancadas com varas, de acordo com o caso.
O que podemos salientar é que a falta de reconhecimento de algumas especifi cidades da infância não necessariamente eliminava o afeto para com as crianças e, nem mesmo, alguns cuidados.
Alguns autores como Gélis afi rmam que houve certa individualização da criança, a partir de uma relação entre público
historia_educacao_I.indb 93historia_educacao_I.indb 93 13/10/2006 15:05:3913/10/2006 15:05:39

94
Universidade do Sul de Santa Catarina
e privado. Ele afi rma a existência de uma dependência em relação à linhagem e à solidariedade de sangue:
(...) Nesse imaginário, a criança era considerada um rebento do tronco comunitário, uma parte do grande corpo coletivo que, pelo engaste das gerações, transcendia o tempo, pertencendo, assim, à linhagem tanto quanto aos pais: a criança era uma criança pública. (1991, p. 312).
Levando em conta esta associação entre público e privado, o autor exemplifi ca que, se o seu nascimento ocorria num local privado (quarto), este acontecia na presença de um grupo de parentes e vizinhas que transformavam o nascimento em ato público.
Para o mesmo autor, a educação em comum deveria direcionar a criança às funções dentro de uma hierarquia familiar e social, formando indivíduos para o papel que deveriam ocupar na sociedade.
De acordo com Franco Cambi, a família medieval tem como extensão a vida social, participando com todos os seus membros dos eventos sociais e das festas “até a morte”. (1999, p. 176).
Exemplo disso é a ausência de representações de cenas domésticas nas imagens do período, bem como do grupo familiar.
Dessa forma, o autor afi rma, com base também no trabalho de Ariès, que a criança não está no centro da vida familiar. Cambi infere que as crianças eram representadas como “pequenos homens”, como já dissemos anteriormente, participando das mesmas festas, usando os mesmos trajes ou os mesmos brinquedos.
Quanto aos trajes, através da análise de inventários da época, Duby destaca que havia um vestuário variado e abundante para as crianças das famílias abastadas. Já nas famílias humildes, este vestuário era bastante restrito:
historia_educacao_I.indb 94historia_educacao_I.indb 94 13/10/2006 15:05:3913/10/2006 15:05:39

95
História da Educação I
Unidade 4
Um peteleiro, por exemplo, segundo seu inventário, não dispõe para os dois fi lhos, senão de um manto e de quatro túnicas pretas, das quais apenas uma forrada, e a fi lha de um ofi cial público comum só tem em seu guarda-roupa, além de quatro camisas, um vestido de interior, duas túnicas simples e uma pequena saia, tudo de lã muito comum. (DUBY, 1990, p. 225).
Sobre as práticas educativas medievais Cambi diz:
A educação da criança era depois confi ada à ofi cina e ao aprendizado ou à Igreja e às suas práticas de vida religiosa: a primeira ensinava uma técnica e um ofício, a segunda, uma visão do mundo e um código moral. (1999, p. 177).
Ao fi nal do período medieval percebe-se uma crescente valorização da criança em si mesma, uma reorganização do modelo de família e o estabelecimento de outros vínculos afetivos entre os familiares, movidos, principalmente, pela preocupação com a mortalidade infantil.
Quanto ao reconhecimento da infância, este se manifestou a partir do Renascimento, consolidando-se na Modernidade.
Assim, interessam-nos os estudos de Ariès para compreendermos o surgimento de um sentimento da infância, principalmente a partir do século XVII, no qual a criança passa a ser o centro das atenções na família que aos poucos se organiza em seu entorno. Uma nova sensibilidade em relação às crianças vai implicar também, numa nova forma de tratá-las e educá-las.
Também, devemos lembrar do papel do Estado, com a consolidação das monarquias nacionais, que passa a se interessar pela formação das crianças dentro e fora da família, criando instituições que têm como objetivos separá-las do mundo adulto, incluída aí, a escola.
historia_educacao_I.indb 95historia_educacao_I.indb 95 13/10/2006 15:05:3913/10/2006 15:05:39

96
Universidade do Sul de Santa Catarina
SEÇÃO 3 - A infância a partir do Renascimento
Vimos, tanto na seção 1 como na 2, da Unidade 3, que com o Renascimento difunde-se uma literatura humanista e moralista preocupada com a família e a infância, assim como, nos últimos parágrafos da seção anterior, que é neste período que a criança começa a ser valorizada no meio social. Além disso, que a família começa a assumir uma feição mais privada onde a criança torna-se o centro.
Neste sentido, a partir da segunda metade do século XVIII (1750 em diante), começa a ser produzida na Europa uma série de estudos sobre o problema da conservação das crianças.
Donzelot (1986, p. 15), em seu livro sobre “A polícia das famílias”, diz que, inicialmente, essas produções resultavam de observações e registros que médicos vinham realizando sobre o alto índice de mortalidade infantil e suas possíveis causas. Logo em seguida aparecem, também, estudos de administradores e de militares. Estes estudos giram em torno de três questões relacionadas aos cuidados com as crianças naquele momento: a prática dos hospícios de menores abandonados; a criação dos fi lhos por amas-de-leite; e a criação artifi cial das crianças ricas. Para o autor “essas três técnicas engendrariam, tanto o empobrecimento da nação, como o enfraquecimento de sua elite” (Donzelot, 1986, p.16).
Esses estudos mostram que os menores abandonados naquele período eram alojados em locais denominados de hospícios que eram mantidos, pelo menos em parte, com recursos vindos do Estado.
No entanto, em função dos cuidados oferecidos, 90% (noventa por cento) morriam antes do fi nal da adolescência.
Em conseqüência disto, começou-se a questionar os gastos empreendidos com estas instituições e o pouco retorno que o Estado retirava. Alegava-se que a conservação ou salvação destes “bastardos” seria muito útil, pois o Estado poderia designá-los a
historia_educacao_I.indb 96historia_educacao_I.indb 96 13/10/2006 15:05:4013/10/2006 15:05:40

97
História da Educação I
Unidade 4
cumprir tarefas nacionais como colonização, milícia, marinha, “tarefas para as quais eles estariam perfeitamente adaptados, pelo fato de não possuírem vínculos de obrigações familiares” (Donzelot (1986, p.16). Para este autor, o alto índice de mortalidade ocorria pela difi culdade da administração encontrar nutrizes, pela sua má vontade e incompetência.
Na época, era comum as crianças serem criadas por nutrizes. As que moravam em aldeias próximas das cidades eram contratadas pelos ricos para amamentar e cuidar de seus fi lhos, e para as crianças pobres fi cavam as nutrizes de aldeias mais distantes. Para garantir o recebimento e maior remuneração, muitas destas, com a conivência do agenciador, assumiam várias crianças ao mesmo tempo. Nessas condições, já no período de amamentação, “a mortalidade das crianças colocadas em nutriz era enorme: por volta de dois terços no que diz respeito as nutrizes distantes e um quarto quanto às mais próximas” (Donzelot,1986, p.17).
As crianças ricas contavam com uma nutriz exclusiva, o que não assegurava carinho ou bondade para com as crianças. Donzelot observa que, de acordo com esses estudos médicos, é nesta relação que está a explicação das manifestações, desde os primeiros anos de vida, de comportamentos de baixeza e maldade em crianças de pais honestos e virtuosos.
Buch em seu livro sobre medicina doméstica, diz que “não há dúvida de que essas crianças tiram todos os seus vícios de suas nutrizes. Eles teriam sido honestos se suas mães os tivessem amamentado” (Buch, apud Donzelot, 1986, p.17). Outros médicos também chegaram a essa conclusão de que, pela amamentação, a nutriz passaria todos os seus sentimentos para as crianças, e como estava quase sempre arrasada pelo cansaço do trabalho, pela condição de sujeição a que era submetida, nutria geralmente um sentimento de ódio. Além disso, segundo estes estudos, as crianças ricas confi adas às serviçais recebiam uma educação resultante de opressões e de intimidades impróprias para assegurar seu desenvolvimento. Incluíam certas práticas de educação corporal como, modelagem do corpo com ataduras com vistas à estética, desconsiderando os males que estas poderiam causar. Donzelot observa ainda que
Nutrizes eram as mulheres responsáveis pela amamentação e demais cuidados das crianças.
historia_educacao_I.indb 97historia_educacao_I.indb 97 13/10/2006 15:05:4013/10/2006 15:05:40

98
Universidade do Sul de Santa Catarina
(...) para as adolescentes acrescenta-se a isso o confi namento debilitante em que são mantidas até a idade de sua primeira entrada no mundo, reclusão enfraquecedora que, freqüentemente, torna-as inaptas para as tarefas da maternidade reproduzindo, assim, a necessidade de serviçais (Donzelot, 1986, p.18).
Nessas publicações resultantes dos estudos médicos, percebe-se que toda uma discussão em torno da criança começa a se fazer presente no período, mudando, com isto, o sentimento em relação à infância.
No entendimento desse autor sobre a extremidade mais pobre do corpo social, é denunciada a má administração dos hospícios e o pouco benefício do Estado em função da alta mortalidade das crianças. “Trata-se, neste caso, da ausência de uma ‘economia social’”. No lado oposto, ou seja, na extremidade mais rica, a crítica maior recai sobre a educação do corpo a que as crianças são submetidas através das nutrizes e/ou serviçais. “Trata-se, neste caso, da ausência da ‘economia do corpo’”.
De acordo com Donzelot,
(...) conservar as crianças signifi cará por fi m aos malefícios da criadagem, promover novas condições de educação que, por um lado, possam fazer frente à nocividade e seus efeitos sobre as crianças que lhes são confi adas e, por outro lado, fazer com que todos os indivíduos que tem tendência a entregar seus fi lhos à solicitude do Estado ou à indústria mortífera das nutrizes voltem a educá-los (DONZELOT, 1986, p.21).
Nesse sentido, o século XVIII é considerado como um período de revalorização das tarefas educativas, a ponto de se dizer, conforme Donzelot, que “a imagem da infância mudou”. De acordo com este autor, o que ocorre nesta época “é uma reorganização dos comportamentos educativos em torno de dois pólos bem distintos cada qual com estratégias bem diferentes”: o primeiro diz respeito às discussões sobre a medicina doméstica e as possibilidades de retirada das crianças das infl uências negativas das serviçais; e o segundo diz respeito à fi lantropia ou “economia social”, ou seja, organizar a vida dos pobres de modo
historia_educacao_I.indb 98historia_educacao_I.indb 98 13/10/2006 15:05:4013/10/2006 15:05:40

99
História da Educação I
Unidade 4
que diminuísse os custos sociais e produzisse trabalhadores com o mínimo de gastos públicos (DONZELOT, 1986, p.22).
Esse mesmo autor coloca que, entre o fi nal do século XVIII e o fi m do XIX, os médicos elaboraram para as famílias burguesas uma série de livros sobre a criação, a educação e a medicação das crianças. Da mesma forma, uma série de publicações foram impressas, informando de modo especial às mães sobre a arte de cuidar de crianças na primeira infância, assim como guias e dicionários de higiene para uso das famílias.
Segundo Donzelot (1986, p. 23), essa ligação entre o médico e a família mexeu profundamente na vida familiar induzindo sua reorganização em pelo menos três dimensões:
1. o fechamento da família contra as infl uências negativas do antigo meio educativo, contra os métodos e os preconceitos dos serviçais, contra os efeitos das promiscuidades sociais;
2. a constituição de uma aliança privilegiada com a mãe, portadora de uma promoção da mulher por causa deste reconhecimento de sua utilidade educativa;
3. a utilização da família pelo médico contra as antigas estruturas de ensino, a disciplina religiosa, o hábito do internato.
Os médicos, ao mesmo tempo em que estabelecem uma nova relação com a família, no sentido de modifi car a educação e os sujeitos envolvidos na educação das crianças na esfera privada, ou seja, em casa, também chamam atenção para os problemas na esfera pública, ou seja, nos colégios. Assim como nas casas o amontoamento de crianças, a má ventilação dos cômodos, a ausência de exercícios, a promiscuidade nos dormitórios, o risco de depravação das crianças pela criadagem, também nos internatos havia estes problemas, além dos regulamentos conventuais dos liceus, os programas excessivos, considerados
historia_educacao_I.indb 99historia_educacao_I.indb 99 13/10/2006 15:05:4013/10/2006 15:05:40

100
Universidade do Sul de Santa Catarina
como ‘educação homicida’. É sobre estes que os médicos alertam os pais e propõem uma cruzada contra tais modelos.
Com esse movimento, segundo Donzelot, é que surge gradativamente a educação mista (escolar e familiar), “onde os pais preparam a criança a aceitar a disciplina escolar, mas ao mesmo tempo, velam pelas boas condições da educação pública” (1986, p. 26).
Todavia, a educação para as crianças pobres não ocorria desta maneira. Aparentemente, tratava-se igualmente da preocupação de garantir a conservação das crianças e de estender os mesmos preceitos higiênicos, porém, com economia social (1986, p.27), já que as crianças pobres teriam seus gastos custeados pelo Estado.
Donzelot afi rma que nada mais exemplar nessa reviravolta da relação Estado-família do que a história dos hospícios para menores abandonados. E com a preocupação em unir respeito à vida e respeito à honra familiar, a retomada da Roda merece
destaque. A Roda foi criada, inicialmente, por volta do século XII e retomada a partir do século XVII, de forma que, em pouco tempo, estava instalada em toda a Europa, chegando ao Brasil durante esse mesmo século.
Segundo Marcílio (1998, p. 51), em 1203, fora do hospital do Santo Espírito in Saxia (ao lado do Vaticano) “em seu longo muro lateral, foi instalada uma ‘Roda’, com um pequeno colchão, para receber os bebês, mesmo em pleno dia, estando rigorosamente
vedada a busca de informações sobre quem os havia trazido”.
Esta foi, seguramente, a primeira Roda dos Expostos da cristandade, que serviu de modelo para as que surgiram posteriormente”.
O sistema de Rodas ou Casas de expostos difundiu-se praticamente por todo território europeu, principalmente nos países católicos, até o século XIX. Nestas instituições, as crianças aprendiam a ler e recebiam uma formação moral, religiosa e
Figura: Casa da roda dos expostos
Fonte: www.megagaleria.com/pictures/pic
O nome Roda – dado por extensão à casa dos expostos – provém do dispositivo de madeira onde se depositava o bebê. De forma cilíndrica e com uma divisória no meio, esse dispositivo era fi xado no muro ou na janela da instituição. No tabuleiro inferior da parte externa, o expositor colocava a criancinha que enjeitava, girava a Roda e puxava um cordão com uma sineta para avisar à vigilante – ou Rodeira - que um bebê acabara de ser abandonado, retirando-se furtivamente do local, sem ser reconhecido. In: MARCÍLIO, 1998, p. 57.
historia_educacao_I.indb 100historia_educacao_I.indb 100 13/10/2006 15:05:4013/10/2006 15:05:40

101
História da Educação I
Unidade 4
“profi ssional”, e permaneciam até completarem em torno de 12 a 15 anos.
Além do sistema de Rodas, outras instituições de caráter caritativo e fi lantrópico foram criadas, no decorrer da Idade Moderna, para atenderem as crianças abandonadas e pobres. Ou seja, a criança, tanto a rica (nos colégios e escolas) como a pobre (nas instituições de caridade e fi lantrópicas), passa a ser alvo de proteção e controle, “cuidando-se” do seu corpo e da sua educação.
Além destas questões apontadas nesta seção, a iconografi a também revela importantes fatos sobre a vida das crianças naquele período. Neste sentido, se a iconografi a medieval, essencialmente religiosa, se restringe a expor imagens infantis do Menino Jesus, da Virgem Maria e do nascimento e infância de alguns santos, imagens essas assexuadas e de crianças com feições de adultos; a iconografi a renascentista começa a representar mais as crianças junto de suas famílias e não apenas no espaço público, mas também no interior das casas.
Se na Idade Média as crianças participam ativamente de todas as atividades sociais, não se diferenciando muito dos adultos, participando das mesmas festas, dos mesmos jogos e das mesmas brincadeiras, a partir do período renascentista começarão a haver diferenças, principalmente, nas classes favorecidas.
Quanto ao vestuário infantil, por exemplo, se até o século XIV era bastante comum a criança se vestir como o adulto (usando inclusive perucas e sapatos de salto), a partir do século XVII haverá trajes cada vez mais defi nidos e apropriados para cada idade. Segundo Ariès (1981, p. 71), essa diferenciação entre o vestuário adulto e infantil ocorrerá inicialmente com os meninos. As meninas continuarão, por algum tempo ainda, sendo vestidas, desde cedo, como “mulherzinhas”.
Temos assim, a partir do Renascimento, uma nova concepção da infância, gerando gradativamente uma separação maior entre o mundo dos adultos e o das crianças. Esta separação é maior e mais imediata nas classes abastadas, pois entre as classes humildes ela demorará mais a se efetivar.
Figura: Madona e Santos, de Duccio di Buoninsegna National Gallery, Londres, séc XIII
Fonte: http://www.historiedade.com.br/idademedia.htm
historia_educacao_I.indb 101historia_educacao_I.indb 101 13/10/2006 15:05:4113/10/2006 15:05:41

102
Universidade do Sul de Santa Catarina
Para essa nova infância, tanto a rica como a pobre, serão criadas novas formas e espaços de educação. Os colégios, por exemplo, para a primeira, como vimos em outros momentos desta disciplina, e as instituições de caridade e fi lantropia para a segunda. Na próxima seção, você verá outras conseqüências dessa nova forma de ver as crianças e os adolescentes.
SEÇÃO 4 - A pedagogização dos conhecimentos e a disciplinarização dos sujeitos
Como você pôde ver na seção anterior, no fi nal da Idade Média a criança começa a ser valorizada, o sentimento da família em relação à infância muda, e o Estado passa a se ocupar também da educação das crianças com a criação de diferentes instituições, entre elas a escola.
Mas estas mudanças não ocorrem num passe de mágica, há todo um processo de percepções e questionamentos por parte de alguns membros da sociedade na época que provocam gradativas alterações no modo de entender, educar e cuidar a criança.
A partir do Renascimento, as crianças e os adolescentes passam a ser educados em espaços cada vez mais fechados e os saberes são controlados e organizados para se adequarem às capacidades infantis, o que Varella chama de pedagogização dos conhecimentos.
Varella (1994, p. 89) indaga em seu texto sobre “quais foram os efeitos mais visíveis desta pedagogização dos conhecimentos que surgiram e se aperfeiçoaram nos colégios jesuítas e que, através de transformações e reinterpretações, estenderam-se a outras instituições educacionais de sua época e de épocas posteriores”. A seguir, transcrevemos os três efeitos apontados pela autora:
historia_educacao_I.indb 102historia_educacao_I.indb 102 13/10/2006 15:05:4113/10/2006 15:05:41

103
História da Educação I
Unidade 4
Em primeiro lugar, a aquisição desses saberes moralizados não exigia uma cooperação – como acontecia, por exemplo, com a aprendizagem de ofícios – entre mestres e aprendizes, destinada a materializar-se numa obra bem feita. Os mestres passaram a ser os únicos detentores do saber e os estudantes viram-se relegados a uma posição de subordinação, converteram-se em sujeitos destinados a adquirir os ensinamentos dosifi cados, transmitidos por seus professores para convertê-los, como também a eles próprios , em seres virtuosos.
Os saberes que possuíam os professores jesuítas eram saberes verdadeiros, que não remetiam a processos sociais, mas a outros saberes, sempre em consonância com a reta doutrina na Igreja e a tradição católica. Eram saberes desvinculados das urgências materiais, dos problemas sociais, saberes que se pretendiam neutros e imparciais. Deste modo, os saberes ligados ao mundo do trabalho, às lutas sociais, às culturas de determinados grupos ou classes sociais, começaram a fi car marcados pelo estigma do erro e da ignorância. Eles viram-se desterrados do recinto sagrado da cultura culta, uma cultura que, com o passar do tempo, converteu-se na cultura dominante e reclamou para si o monopólio da verdade e da neutralidade.
Por último, este processo de pedagogização dos saberes implicou a instauração, progressivamente aperfeiçoada, de um aparato disciplinar de penalização e de moralização dos colegiais, que ligou a aquisição da verdade e da virtude à ascese e renúncia de si mesmo. Foi deste modo que a disciplina e a manutenção da ordem nas salas de aula passaram a ocupar um papel central no interior do sistema de ensino até chegar praticamente a eclipsar a própria transmissão de conhecimento.
Com referência a este processo de disciplinarização que vai sendo implantado nas instituições, Michel Foucault observa que, no decorrer dos séculos XVII e XVIII, as disciplinas se tornaram fórmulas gerais de dominação, diferentemente das disciplinas de tipo monástico, que tinham por função realizar
1.
2.
3. Ascese, segundo o dicionário Aurélio, é exercício prático que leva à efetiva realização da virtude, à plenitude da vida moral.
historia_educacao_I.indb 103historia_educacao_I.indb 103 13/10/2006 15:05:4113/10/2006 15:05:41

104
Universidade do Sul de Santa Catarina
renúncias e como fi m principal um aumento de domínio de cada um sobre seu próprio corpo,
(...) esse momento histórico é o momento que nasce uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma política de coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos (1989, p.127).
Temos que ter presente, no entanto, que a disciplina inicialmente presente nos colégios, passa também para as escolas primárias, para o espaço hospitalar e, mais tarde, para o militar, enfi m todos passam a ser disciplinados, treinados para transformarem-se em corpos “dóceis” e submissos.
Mas como esta disciplina se manifesta ou é constituída numa classe escolar?
Segundo Foucault, a partir de 1762, o espaço escolar se desdobra; a classe torna-se homogênea, ela agora só se compõe de elementos individuais que são colocados uns ao lado dos outros sob o olhar atento do mestre.
A ordenação por fi leiras, no século XVIII, começa a defi nir a grande forma de repartição dos indivíduos na ordem escolar: fi las de alunos na sala, nos corredores, nos pátios; colocação atribuída a cada um em relação a cada tarefa e cada prova; colocação que ele obtém de semana a semana, de mês a mês, de ano a ano; alinhamento das classes de idade umas depois das outras; sucessão dos assuntos ensinados, das questões tratadas segundo uma ordem de difi culdade crescente (1989, p. 134).
Foucault diz, ainda, que a determinação de lugares individuais, tornou possível o controle de cada criança individualmente e o trabalho simultâneo de todos. Com uma nova organização do tempo e do espaço, a escola passa a funcionar como “uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar,
historia_educacao_I.indb 104historia_educacao_I.indb 104 13/10/2006 15:05:4113/10/2006 15:05:41

105
História da Educação I
Unidade 4
de recompensar” (1989, p.134). Sendo assim, o autor afi rma que “a primeira das grandes operações da disciplina é então a constituição de quadros vivos que transformam as multidões confusas, inúteis e perigosas em multiplicidades organizadas” (1989, p.135). Ou seja, a escola com seus horários, regras, conteúdos, enfi m toda a organização, incute virtudes e valores a serem seguidos na sociedade.
Agora, para praticar os conhecimentos conquistados nesta unidade, realize, a seguir, as atividades propostas.
Atividades de auto-avaliação
Efetue as atividades de auto-avaliação e, a seguir, acompanhe as respostas e comentários a respeito. Para melhor aproveitamento do seu estudo, realize a conferência de suas respostas somente depois de fazer as atividades propostas.
1) Aponte uma razão para que, na Idade Média, os mosteiros abrissem suas portas para as crianças abandonadas.
historia_educacao_I.indb 105historia_educacao_I.indb 105 13/10/2006 15:05:4113/10/2006 15:05:41

106
Universidade do Sul de Santa Catarina
2) A civilização germânica e a civilização romana possuíam modos distintos de tratar a criança. Com base no texto da seção 2, construa um quadro síntese a respeito do entendimento/tratamento de cada uma sobre a criança.
Romanos Germanos
3) Durante o século XVII, surgiram estudos sobre a infância que provocaram uma reorganização nos costumes das famílias sobre o modo de cuidar e de educar as crianças. Aponte uma mudança que ocorreu em relação ao modo de educar as crianças.
historia_educacao_I.indb 106historia_educacao_I.indb 106 13/10/2006 15:05:4113/10/2006 15:05:41

107
História da Educação I
Unidade 4
4) Quais as principais características presentes nas práticas escolares para disciplinar os sujeitos e torná-los dóceis e submissos?
Síntese
Nesta unidade, você teve oportunidade de entrar em contato com informações sobre a infância em diferentes períodos históricos.
Na primeira seção, você pôde perceber que, na Antiguidade, a prática de abandonar crianças pequenas era bastante comum nas civilizações ocidentais. Neste período, também, vários mosteiros abriram suas portas para receber crianças abandonadas e se inicia, com isto, a “apologia da caridade em relação ao enjeitado”. Viu, também, que as crianças que sobreviviam, muito cedo eram iniciadas na vida do trabalho, principalmente as pobres.
Na seção 2, você teve oportunidade de conhecer duas grandes referências culturais, a romana e a germânica, que agiam de forma diferenciada com suas crianças. Os romanos legavam ao pai (pater familias) o poder de vida ou de morte sobre as crianças. Mesmo sendo fi lho legítimo (de
historia_educacao_I.indb 107historia_educacao_I.indb 107 13/10/2006 15:05:4213/10/2006 15:05:42

108
Universidade do Sul de Santa Catarina
sangue), o pai poderia reconhecê-lo ou rejeitá-lo. Caso o pai não o reconhecesse publicamente, a rejeição signifi cava, na maioria dos casos, a morte. Os germanos não praticavam o infanticídio, pois os rejeitados eram assumidos pela linhagem materna, as mulheres amamentavam as crianças e as crianças tinham uma educação comum até certa idade. Nesta época, as taxas de mortalidade infantil eram altíssimas, no entanto, já havia sentimento em relação às crianças tanto que os pais choravam a morte de seus fi lhos.
Na seção 3, você pôde perceber que com o Renascimento difunde-se uma literatura humanista e moralista, preocupada com a família e a infância, provocando, com isto, uma reorganização nos costumes e modos de educar as crianças. A preocupação com o alto índice de mortalidade infantil e com o modo como as crianças eram educadas fez com que Família e Estado passassem a conduzir os processos educativos tanto na vida privada (na casa) como na pública (colégios). A introdução da medicina doméstica é a responsável por grande parte das modifi cações desses costumes, principalmente nas famílias mais ricas.
Na seção 4, você pôde perceber como a disciplina, que passa a fazer parte das práticas dos colégios e das escolas primárias, busca formar um sujeito dócil e submisso. A escola, com sua organização, seu espaço, o controle dos saberes e do tempo, a defi nição de modos de conduta, buscava a formação de um sujeito disciplinado.
historia_educacao_I.indb 108historia_educacao_I.indb 108 13/10/2006 15:05:4213/10/2006 15:05:42

109
História da Educação I
Unidade 4
Saiba mais
Para ampliar seus conhecimentos sobre as questões abordadas nesta unidade, você poderá realizar leituras nos seguintes livros e sites:
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1981.
CAMBI, F. História da Pedagogia. São Paulo: Ed. da UNESP, 2000.
COSTA, Ricardo. A Educação Infantil na Idade Média. Disponível em: http://www.hottopos.com/videtur17/ricardo.htm
DONZELOT, Jacques. A polícia das famílias. Tradução de M. T. da Costa Albuquerque. 2. ed., Rio de Janeiro: Edições Graal Ltda, 1986.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Ligia M. Pondré Vassalo. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1989.
GÉLIS, J. A individualização da criança. 1991. In: CHARTIER, R.; FEIST, H. História da Vida Privada 3: da Renascença ao Século das Luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
HEYWOOD, Colin. Uma história da infância: da Idade Média a época contemporânea. Porto Alegre: Artmed, 2004.
MAGALHÃES, Solange Martins de Oliveira; BARBOSA, Ivone Garcia. Do topo de uma montanha temos um ótimo ângulo de visão das coisas... mas será que podemos ver tudo? Uma refl exão sobre as políticas públicas para a educação da infância. Disponível em: http://www2.uerj.br/~revispsi/v5n1/artigos/a03.htm
historia_educacao_I.indb 109historia_educacao_I.indb 109 13/10/2006 15:05:4213/10/2006 15:05:42

110
Universidade do Sul de Santa Catarina
MARCÍLIO, Maria Luiza. História social da criança abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998.
VARELA, Julia. O estatuto do saber pedagógico. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994.
historia_educacao_I.indb 110historia_educacao_I.indb 110 13/10/2006 15:05:4213/10/2006 15:05:42

Para concluir o estudo
Tendo em vista a impossibilidade de abarcar todos os tradicionais períodos históricos, optamos em focar certos elementos de alguns desses períodos e, a partir destes, evidenciar como cada época (tempo/espaço) construiu suas idéias pedagógicas e, principalmente, suas práticas educativas.
Mesmo dentro dos períodos priorizados para análise, foram escolhidos determinados temas que julgamos serem fundamentais para sua formação como pedagoga(o).
Quanto ao período contemporâneo, compreendendo os séculos XIX, XX e XXI, não o tomamos como foco de análise, pois as demais disciplinas do curso trarão discussões pertinentes e direcionadas a estes contextos educativos.
Sem dúvida, o recorte espacial e temporal remeteu ao contexto europeu, de onde se origina e se constitui, em muitos aspectos, o nosso modelo escolar.
Contudo, na disciplina de História da Educação II, que tratará da educação no Brasil, você poderá ver como vários aspectos aqui pontuados se desenvolveram na realidade brasileira. Por exemplo, como foram tratadas as crianças no nosso contexto e como se constituíram as instituições educativas e as idéias pedagógicas em nosso país.
Retomando Bertold Brecht, são muitas as histórias e muitas as questões a serem formuladas. Procuramos aqui levantar algumas delas, mas poderiam ter sido outras. Esperamos que você tenha sido provocado a desvelar outras histórias, outros sujeitos, outras fontes, outras questões.
historia_educacao_I.indb 111historia_educacao_I.indb 111 13/10/2006 15:05:4213/10/2006 15:05:42

Embora você tenha estudado o quanto as instituições até hoje disciplinaram os saberes e os sujeitos, gostaríamos de deixar claro que é possível constituir instituições com outras confi gurações, que colaborem na formação de pessoas.
Sucesso na continuidade dos estudos!
Professoras Karen, Leonete e Rosmeri
historia_educacao_I.indb 112historia_educacao_I.indb 112 13/10/2006 15:05:4213/10/2006 15:05:42

Referências
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. São Paulo: Moderna, 1996.
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1981.
BURKE, Peter. A Revolução Francesa da historiografi a: a Escola dos Annales, 1929-1989. São Paulo: UNESP, 1991.
BURKE, Peter (Org.) A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992.
BURKE, Peter. História e teoria social. São Paulo: UNESP, 2002.
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999.
CARVALHO, Marta Maria Chagas de. História da Educação: notas em torno de uma questão de fronteiras. Espaço em Revista, Belo Horizonte, n.26, dez/1997.
COMTE, A. Discurso sobre o Espírito Positivo (e outros). Tradução por José Arthur Gianotti. 2ª ed., São Paulo, Abril Cultural, 1983. (Coleção Os Pensadores).
COSTA, Ricardo. A Educação Infantil na Idade Média. Disponível em: http://www.hottopos.com/videtur17/ricardo.htm
DONZELOT, Jacques. A polícia das famílias. Tradução de M. T. da Costa Albuquerque. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal Ltda., 1986.
DUBY, Georges (Org.). História da privada, 2: da Europa feudal à Renascença. Tradução Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
FARIA FILHO, Luciano Mendes de (org.). Educação modernidade e civilização: fontes e perspectivas de análise para a história da educação oitocentista. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.
FERREIRA Jr, Amarildo e BITTAR, Marisa. Educação jesuítica e crianças negras no Brasil colonial. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 80, no. 196, p.472-482, set/dez, 1999.
FONSECA, Thais Nívia de L.; VEIGA, Cynthia G. História e Historiografi a da Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
historia_educacao_I.indb 113historia_educacao_I.indb 113 13/10/2006 15:05:4213/10/2006 15:05:42

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Ligia M. Pondré Vassalo. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1989.
FREITAS, Marcos Cezar de (Org.). História social da infância no Brasil. 3ª. ed., São Paulo: Cortez, 1997.
FREITAS, Marcos Cezar de e KUHLMANN Jr., Moysés (Orgs.). Os intelectuais na história da infância. São Paulo: Cortez, 2002.
GÉLIS, J. A individualização da criança. 1991. In: CHARTIER, R.; FEIST, H. História da Vida Privada 3: da Renascença ao Século das Luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
GHIRARDELLI Jr., Paulo. História da Educação. 2ª. ed., São Paulo: Cortez, 1994.
GHIRALDELLI Jr., Paulo. Filosofi a e história da educação brasileira. Barueri, SP: Manole, 2003.
HEYWOOD, Colin. Uma história da infância: da Idade Média a época contemporânea. Porto Alegre: Artmed, 2004.
HUBERMAN, Leo. A história da riqueza do homem. 20. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1985.
KUHLMANN, Jr., Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre: Mediação, 1998.
LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre (Orgs.) História: novos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.
LOPES, Eliane Marta Teixeira. História da Educação. 2ª. ed., Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
LUZURIAGA, Lorenzo. História da educação e da pedagogia. 16ª. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1985.
MAGALHÃES, Solange Martins de Oliveira; BARBOSA, Ivone Garcia. Do topo de uma montanha temos um ótimo ângulo de visão das coisas... mas será que podemos ver tudo? Uma refl exão sobre as políticas públicas para a educação da infância. Disponível em: http://www2.uerj.br/~revispsi/v5n1/artigos/a03.htm
MARCÍLIO, Maria Luiza. História social da criança abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998.
OPTIZ, Claudia. O quotidiano da mulher no fi nal da Idade Média (1250-1500) In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle. (Org.). História das Mulheres. Volume 2. Porto: Afrontamento, 1998.
PERNOUD, Régine. O ensino na Idade Média. Disponível em: http://www.permanencia.org.br/revista/historia/luz2.htm
historia_educacao_I.indb 114historia_educacao_I.indb 114 13/10/2006 15:05:4213/10/2006 15:05:42

PETITAT, André. Produção da escola / produção da sociedade: análise sócio-histórica de alguns momentos decisivos da evolução escolar no ocidente. Trad.: Eunice Gruman. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
PRIORE, Mary Del (org.). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999.
SAVIANI, Dermeval. Breves considerações sobre Fontes para a História da Educação. In: LOMBARDI, José Claudinei e NASCIMENTO, Maria Isabel Moura (org). Fontes, História e historiografi a da educação. Campinas-SP: Autores Associados, 2004.
VARELA, Julia. O estatuto do saber pedagógico. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994.
XAVIER, Maria Elisabete S. P. História da Educação: a escola no Brasil. São Paulo: FTD, 1994.
WARDE, Mirian Jorge. Contribuições da história para a educação. Em Aberto, Brasília, INEP, Ano 9, n. 47, 1990.
WERLE, Flávia Obino Corrêa. História das instituições escolares: de que se fala?. In: LOMBARDI, José Claudinei e NASCIMENTO, Maria Isabel Moura (org). Fontes, História e historiografi a da educação. Campinas-SP: Autores Associados, 2004.
historia_educacao_I.indb 115historia_educacao_I.indb 115 13/10/2006 15:05:4313/10/2006 15:05:43

historia_educacao_I.indb 116historia_educacao_I.indb 116 13/10/2006 15:05:4313/10/2006 15:05:43

Sobre as professoras conteudistas
Karen Christine Rechia
Graduada e Mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foi professora da rede pública e privada de ensino, nos níveis fundamental e médio, e na Educação de Jovens e Adultos. Atuou como professora de nível superior na UNIVILLE, UDESC e UFSC. É professora do curso de Pedagogia e Letras da Unisul desde 2001, lecionando as disciplinas de História da Educação, História para as Séries Iniciais, Geografi a para as Séries Iniciais e Fundamentos Sociológicos. É autora de artigos nos livros: História de Santa Catarina: estudos contemporâneos, História das Mulheres de Santa Catarina e na revista Perspectiva (CED-UFSC).
Leonete Luzia Schmidt
Formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e mestre em Educação também pela UFSC, onde defendeu dissertação intitulada “A constituição da rede pública de ensino elementar em Santa Catarina – 1830/1859”. É doutoranda do programa de Pós-Graduação em Educação: História, Política e Sociedade, da PUC/SP. Atuou como professora de séries iniciais nas redes municipal de Florianópolis e estadual de Santa Catarina e em instituições particulares e no ensino superior da UDESC e UFSC. Há dez anos é professora do curso de Pedagogia da Unisul, lecionando as disciplinas de História da Educação, Estágio Supervisionado e Pesquisa e Prática Pedagógica.
Rosmeri Schardong
Formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e mestre em Educação também
historia_educacao_I.indb 117historia_educacao_I.indb 117 13/10/2006 15:05:4313/10/2006 15:05:43

118
Universidade do Sul de Santa Catarina
pela UFSC, onde defendeu dissertação intitulada “A instrução pública secundária em Desterro – o Atheneu Provincial (1874-1883)”. Atuou como professora das séries iniciais na rede estadual catarinense durante dez anos. É professora do curso de Pedagogia da Unisul desde 1998, lecionando as disciplinas de História da Educação e Estágio Supervisionado.
historia_educacao_I.indb 118historia_educacao_I.indb 118 13/10/2006 15:05:4313/10/2006 15:05:43

Respostas e comentários das atividades de auto-avaliação
Unidade 1
1) Itens A e B são verdadeiros.
Item C é falso.
2) Orientações para elaboração do quadro: na coluna Tendências você deve indicar o nome das três tendências e /ou teorias abordadas na seção 2; na coluna Principais Representantes você deve escrever o nome dos autores que escreveram/escrevem sobre cada tendência; na coluna Idéias Centrais você deverá pontuar as principais idéias de como cada tendência entende a história, como esta pode ser escrita e que temas e fontes prioriza.
3) Resposta subjetiva. Caso tenha dúvidas como realizar as atividades você poderá obter maiores informações com o tutor da disciplina.
Unidade 2
1) Sobre os fi lmes: Os aspectos relacionados a Unidade dependem do fi lme. De maneira geral é importante observar as práticas educativas, o papel das mulheres, a relação entre as classes sociais, o papel da Igreja e da religiosidade, as formas de trabalho, o ambiente social etc
2) Nesta questão os dois tópicos já indicam o que se quer atingir.
historia_educacao_I.indb 119historia_educacao_I.indb 119 13/10/2006 15:05:4313/10/2006 15:05:43

120
Universidade do Sul de Santa Catarina
Unidade 3
1) Em linhas gerais, pode-se dizer que os colégios atenderam aos interesses de uma burguesia nascente/renascentista, que possuía poder aquisitivo, mas carecia dos conhecimentos clássicos que a nobreza até então detinha. Os colégios forneceriam a seus alunos, além dessa cultura geral clássica, um padrão de civilidade e polidez que os distinguiria dos trabalhadores.
2) Garantir a uniformização que facilitaria o controle sobre as práticas e conteúdos desenvolvidos e evitaria desvios dos princípios defendidos pela Ordem Jesuítica.
3) Resposta subjetiva.
4) Itens A, B e E são Verdadeiros.
Itens D e F são Falsos.
Unidade 4
1) Muitos membros da Igreja haviam sido abandonados pelos pais e por isso buscavam abrigar os que passavam pela mesma situação, além disso a Igreja passa a pregar a caridade para com os abandonados, também fi lhos de Deus.
2) Resposta livre.
3) A educação passa a ser mista, Família e Estado assumem a educação das crianças. Ou a mãe passa a participar mais da educação dos fi lhos.
4) A classe torna-se homogênea, as crianças colocadas umas ao lado das outras sob o olhar atento do mestre. Ordenação por fi leiras: fi las de alunos na sala, nos corredores, no pátios. Colocação atribuída a cada um em relação a cada tarefa e cada prova. Alinhamento das classes de idade umas depois das outras. Sucessão dos assuntos ensinados, das questões tratadas segundo uma ordem de difi culdade crescente.
historia_educacao_I.indb 120historia_educacao_I.indb 120 13/10/2006 15:05:4313/10/2006 15:05:43