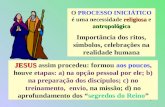História, Tecidos, Imagens e Cultura Material - Uma Aproximação Antropológica
-
Upload
katianne-almeida -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
Transcript of História, Tecidos, Imagens e Cultura Material - Uma Aproximação Antropológica
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIS
FACULDADE DE ARTES VISUAIS
NCLEO LVRE
ESTUDANDO TECIDOS: HISTRIA E IDENTIFICAO VISUAL
HISTRIA, TECIDOS, IMAGENS E CULTURA MATERIAL:
UMA APROXIMAO ANTROPOLGICA
Katianne de Sousa Almeida
GOINIA
2012
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIS
FACULDADE DE ARTES VISUAIS
NCLEO LVRE
ESTUDANDO TECIDOS: HISTRIA E IDENTIFICAO VISUAL
HISTRIA, TECIDOS, IMAGENS E CULTURA MATERIAL:
UMA APROXIMAO ANTROPOLGICA
Katianne de Sousa Almeida
Artigo apresentado na Faculdade de Ar-
tes Visuais da Universidade Federal de
Gois com requisito avaliativo da disci-
plina Estudando Tecidos: Histria e I-
dentificao Visual ministrado pela Pro-
fessora Doutora Rita Andrade.
GOINIA
2012
-
RESUMO
Diante da afirmao tecido e roupa no so a mesma coisa muitas portas se abrem e
com elas muitos questionamentos. O objetivo deste artigo apresentar brevemente al-
gumas relaes que os tecidos tem com a histria e sua capacidade de relacionar-se
com a prpria teoria de cultura, pois um objeto estritamente humano, produzido por
uma associao consciente do entrelaamento regular de fios verticais e horizontais.
Alm disso, outro elemento propiciador de instigaes foi o uso de imagens para se
pensar as formas, usos e sentidos que os tecidos tm.
Palavras- chave: tecidos, cultura material, imagens.
-
SUMRIO
INTRODUO 5
1. O ESTUDO DOS TECIDOS E A CULTURA MATERIAL 7
2. O QUE AS IMAGENS PODEM FALAR 11
CONSIDERAES FINAIS 13
REFERNCIAS 13
-
5
Introduo
Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer.
A moa tecel (Marina Colasanti).
Uma das primeiras novidades ao deparar-me com a exposio do conte-
do da disciplina: Estudando tecidos: histria e identificao visual foi a no corres-
pondncia, talvez para muitos bvia, entre tecidos e roupas. Talvez, se simulsse-
mos uma ideia de conjunto matemtico, em que consideramos o contido e o no
contido, podemos falar que o conjunto roupas est contido no conjunto tecidos, e
no necessariamente, o contrrio. Como se expe no quadro abaixo:
Quadro 1 - O que est contido em qu.
Ora, para facilitar afirmo que ao falar de tecidos no necessariamente fa-
lamos de roupas, seus usos so diversos como decorao, uso medicinal (como fai-
xas e curativos), limpeza, cobertura de mveis, paredes, protees de objetos, entre
outros. O tecido um objeto em si, a roupa outro objeto.
Conforme o glossrio organizado por Andrade (2008) tecido constitue-se
como:
Um produto artesanal ou industrial que resulta da tecelagem (entrelaamen-to regular de fios verticais e horizontais) de fios de l, seda, algodo, ou ou-tra fibra natural, artificial ou sinttica, e que usado na confeco de peas de vesturio, de certos artigos domsticos ou decorativos, de embalagens, etc. Tambm pode ser encontrado com outros nomes como pano, fazenda, tela (p. 165).
Tecidos
Roupas
-
6
Os tecidos, suas formas e usos ao longo da histria tiveram e ainda tm
infinitas maneiras de se apresentarem e, consequentemente, h maneiras diversas
de convivermos com eles.
As variedades de tecidos so extremamente numerosas. Seus nomes cor-respondem, em princpio, natureza da fibra txtil utilizada (l, seda, visco-se, polister...) e ao tipo de tecelagem, isto , de ligamento (sistema de en-trelaamento, dos fios do urdume e da trama. O ligamento difere de acordo com o nmero de fios do urdume separados pela passagem do fio da trama. Esquematicamente podem ser distinguidos trs tipos de ligamento: tafet, sarja e cetim; quanto ao aspecto, existem quatro variedades de tecido: liso, maquinetado, jacquard e estampado (PEZZOLO, 2007:. 22).
Antes de adentrar nas especificidades fsicas e qumicas do tecido, ou se-
ja, sobre suas formas e formatos importante salientar, no incio da abordagem des-
te artigo, que os tecidos so fontes histricas, ou documentos histricos. Como ve-
mos na histria a seguir:
No fim de setembro de 1991, dois alpinistas alemes, Helmut e Erika Simon, de Nuremberg, passavam por uma geleira no alto dos Alpes, na parte sul do Tirol, em um lugar chamado Passe de Tisenjoch, na fronteira entre a ustria e a Itlia, quando depararam com um corpo humano que se projetava do gelo na borda da geleira. Eles relataram sua descoberta num abrigo de a-poio aos excursionistas em Similaun. Quando a polcia chegou, logo viu que o assunto no cabia a ela, mas sim a arquelogos e especialistas em pr-histria. Junto ao corpo foram encontrados objetos de uso pessoal um machado de cobre, uma faca de pedra, flechas e aljava que remontavam a um passado muito mais remoto e primitivo. A posterior datao por radio-carbono mostrou que o homem havia morrido mais de 5 mil anos antes. Foi logo apelidado de tzi, nome do grande vale mais prximo. tzi levava consigo um monte de coisas sapatos, roupas, duas caixas de casca de btula, uma bainha para faca, um machado, uma aljava, arco e flechas, di-versas pequenas ferramentas, algumas frutinhas, um pedao de carne de bex e dois pedaos redondos de fungo de btula, cada um do tamanho de uma noz grande, cuidadosamente presos com um tendo animal. Mas a re-velao mais interessante foram as roupas. Antes de tzi, no tnhamos i-deia ou melhor, tnhamos apenas ideias de como as pessoas da Idade da Pedra se vestiam. Os poucos materiais que sobreviveram eram apenas fragmentos. Agora, nas mos dos pesquisadores, havia um traje completo e cheio de surpresas (BILL, 2011: 399-402).
Pode-se, portanto, indicar, por meio dos dados citados anteriormente, que
os tecidos esto contidos em um conjunto maior: a cultura material. Denomina-se
como cultura material os aspectos da cultura que determinam a produo e o uso
dos artefatos, estes sendo um produto deliberado da mo-de-obra humana, em con-
traste com os objetos produzidos acidentalmente pelas foras naturais (Almeida,
2006).
-
7
Para Castilho, na apresentao do livro de Gilda Chataignier (2006), os fi-
os tramam contextos, alinhavam histrias, arrematam elos de nossa cultura. im-
portante considerar, ento, que o uso de tecidos (que faz parte da nossa cultura ma-
terial) envolve um sistema de signos, que subjacente a campos e domnios sociais,
religiosos, econmicos e cognitivos de modo geral. Os seus usos so um tipo de
linguagem e um veculo de comunicao, pois transmitem um significado.
Sobre esses significados, o interesse deste artigo traar breves conside-
raes sobre alguns dos estudos de tecidos na histria, alm de indicar a relevncia
da cultura material como referncia importante para tratar dos aspectos da vida so-
cial e seus simbolismos. E, por fim, salientar como abordagem metodolgica o uso
de imagens para tal estudo.
1. O ESTUDO DOS TECIDOS E A CULTURA MATERIAL
Pelo o que j se sabe de dados arqueolgicos chegando at a histria
contempornea, os tecidos permearam e ainda permeiam todo o cotidiano da huma-
nidade. Presentes em quase todos os ambientes, eles nos acompanham do nasci-
mento at a morte. De aplicao diversa, mas usados principalmente na confeco
de vestimentas, roupas de cama, mesa e banho, a inveno dos tecidos foi um ato
fundamental dos primeiros humanos (OLIVEIRA, 2011: 441).
O uso de tecidos, como disse anteriormente, no est restrito a uma a-
bordagem apenas funcionalista, ou seja, usado, porque aplicvel para tal fim.
Compartilhando com suas funes h fortes cargas simblicas. Por exemplo, alguns
tipos txteis passaram a expressar poder, como o linho usado para embalsamar fa-
ras, sumos sacerdotes e altas autoridades no Egito antigo (CHATAIGNIER,
2006:32). Outros tecidos como a seda, passaram a simbolizar status. Como exem-
plo, pode-se citar a Lei sobre os vestidos de seda, e feitio deles e das pessoas que
os podem trazer, feita por Dom Sebastio, em 1560 que restringia o uso da seda a
algumas partes do vesturio e proibia rigorosamente as classes mais baixas de us-
la (OLIVEIRA, 2001).
Diante disso, percebe-se que os tecidos itens corriqueiros carregam nas suas tramas uma histria que dialoga com a cultura do povo que os criou ou que os usa. Verdadeiros cones de pocas e lugares, os tecidos costumam
-
8
trazer nos prprios nomes a geografia do lugar onde foram fabricados ou di-fundidos e o percurso at determinada regio (ibidem, p. 442).
Partindo destas perspectivas de relaes entre o material e o imaterial (os
smbolos, os usos diferentes em consequencia das classes sociais, o imaginrio),
voltamos a ideia de cultura material. Para Lopes (2003) a cultura material pode ser
definida como a totalidade dos bens materiais que um povo possui para adornar e
vestir-se, alimentar e abrigar-se, para poder lutar contra os inimigos e para traficar,
para fazer msica e ter divertimentos, em resumo, todos os dados concretos de uma
cultura.
Como veculo transmissor de indicadores e smbolos, os tecidos, por e-
xemplo, ao serem utilizados para a fabricao de roupas, desempenham um papel
na vida de uma sociedade, ou seja, uma referncia da comunidade com seu ambi-
ente, alm de expressar a forma da sua interao com as matrias-primas (exemplo:
o algodo, a seda, o linho, etc), sua histria atual e tambm ancestral.
Conforme os dados de Ferraz (2003) sobre a relao do homem com ma-
trias-primas que se tornaram tecidos txteis, temos que o algodo e o linho reina-
ram soberanos at meados do sculo XIX, quando surgiram as primeiras fibras sin-
tticas acetato e viscose. O primeiro fio sinttico de acetato de celulose foi criado
na Alemanha em 1869. A segunda gerao de sintticos teve incio em 1938 com o
lanamento do nylon. Alguns anos depois apareceu a fibra sinttica acrlica, usada
para substituir a l. Lanada em 1947, s foi produzida em escala comercial na d-
cada de 50, quando surgiu no mercado a fibra de polister (apud SEBRAE, 2008:
11).
No Brasil, um dos tecidos advindos de fibras e filamentos de polister - o
nycron - foi capaz de revolucionar a histria txtil do pas, pois seu sucesso advinha
da possibilidade de no amarrotar to facilmente quanto o linho (at a Segunda
Guerra Mundial o nico tecido para fabricao de ternos) e era mais barato que o
tergal, tecido que vestia a parte mais abastada da sociedade. A responsvel pela
produo deste tecido, a Sudamtex, fez um comercial que lanou moda com o slo-
gan senta e levanta.
O principal filme dessa campanha, que ficou marcado na memria da pro-paganda, trazia como protagonista o ator Cludio Marzo, na poca um dos maiores smbolos sexuais do Brasil. No comercial, o astro aparecia comen-tando com sua av surda, em funo da idade as qualidades do tecido
-
9
FICHA TCNICA Anunciante/produto: Sudamtex/Nycron Agncia: Alcntara Machado (atual AlmapBBDO) Criao: Srgio Toni e Srgio de Andrade Direo de criao: Alex Periscinoto Produtora: Lynxfilm
Nycron, que chegava ao mercado. A senhora no compreendia o que neto queria dizer sobre seu novo terno, mas ao v-lo vestido de maneira impec-vel conclua que devia se tratar de uma roupa que no amarrotava nem perdia o vinco (VIZEU, 2012).
Ao se relacionar tecidos e roupas podemos identificar um vnculo que ge-
ra um sentimento de identidade e continuidade. Considerando todos os fatores j
citados, temos, por exemplo, que a moda (em seus espaos de produo e consu-
mo) mais um meio de compreender alguns elementos da dinmica geral da expe-
rincia humana.
Tendo todas essas referncias em mente, fcil indicar que a moda e
tambm o vesturio fazem parte de uma abordagem maior que integra a cultura ma-
terial. O sentido da moda est nas vivncias, emitindo juzos de valor. assim que
deve se dar a compreenso de seu sentido: como algo que sinaliza, que aponta co-
tidianamente direes, significados e instrumentos de julgamentos para as roupas.
Roupas, acessrios, peas, indumentrias, enfim, h tantas nomenclatu-
ras para elementos que so do nosso cotidiano e que, na maioria das vezes, os tor-
namos banais. Contudo, so estes objetos materiais que nos tornam diferentes dos
animais, eles nos tornam humanos, pois os fabricamos, no nascem conosco, no
fazem parte de nossa biologia, so, portanto, elementos culturais.
Figura 1 Nycron entra na moda com senta, levanta nos anos 60.
-
10
A cultura material tanto banalizada pela sua presena em nosso dia-a-
dia quanto a uma suposta fisicidade, ou seja, h um imaginrio em que considera
essa materialidade como algo utilitrio, explicando melhor, como algo puro e sim-
plesmente matria no tendo nada a ver com as vrias outras dimenses culturais,
como as relaes sociais, as organizaes simblicas, entre outros. Ao salientar tal
banalidade, logicamente, as roupas e, consequentemente, a moda de uma maneira
geral tida como um tema menor de anlise por muitos pesquisadores, ficando res-
trita a nichos, como o designer.
Muito se comenta que as roupas, acessrios, sapatos, ou seja, os artigos
relacionados ao vestir no so objetos de interesse cientfico ou acadmico, porque
so elementos utilitrios, isto , desempenham uma funo. Os materiais citados
acima fazem parte do que se chama cultura material, mas esta nomenclatura parece
dividir espaos indicando que h outra cultura, a cultura imaterial. Entretanto, esta
viso dicotmica, seguimentria e compartimentada tenta, ao meu ver, separar o
que funcional com o que imaginado e isso um grande equvoco.
A cultura, na verdade, um sistema de componentes intercambiveis, cu-
jas articulaes e dinmicas no esto divididas em materialidades e imaterialida-
des. Conforme Marcelo Rede (1996):
No se poderia falar dos aspectos materiais da cultura (ou da cultura mate-rial) sem falar simultaneamente da imaterialidade que lhes confere existn-cia (sistemas classificatrios, organizao simblica; relaes sociais; confli-tos de interesses, etc.) (p. 273).
Colaborando com esta perspectiva, Lopes (2003) afirma que:
Os bens materiais de um grupo social podem ser observados no como um fim em si mesmo, mas como um meio para entender costumes, tradies, vises de mundo e meio ambiente da sociedade que os produziu, tornando a fabricao de objetos parte integrante do sistema cultural (p.22).
O que se denomina moda tambm se confunde com o que se denomina
cultura, para muitos ela ou elas so utilizadas para designar gostos, maneiras, cos-
tumes, linguagens e modos pelos quais se faz alguma coisa. Podemos dizer que a
moda no tem um contedo especfico, nem est ligada a um objeto particular, sen-
do um dispositivo social definido pela temporalidade breve e pelas mudanas cons-
tantes (Lipovetzky, 2006). J para Baldini (2006), por exemplo, nos dias de hoje a
moda tornou-se um fenmeno social de difcil definio dada a sua amplitude e a
diversidade de opinies de que tem sido objeto (p. 10). A moda est presente em
-
11
diversos campos, mas no vesturio que ela se manifesta de maneira contundente,
como explica Lipovetzky (2006):
Porque exibe os traos mais significativos do problema, o vesturio por excelncia a esfera apropriada para desfazer o mais exatamente possvel a meada do sistema da moda. A esfera do parecer aquela em que a moda se exerceu com mais rumor e radicalidade, aquela que, durante sculos re-presentou a manifestao mais pura da organizao do efmero (p. 24).
Todavia, para falar de moda e vesturio, sendo temas bastante abrangen-
tes e genricos, precisaria de outro espao discursivo, no momento, impossvel de
ser tratado neste breve artigo que tem como limite apenas fazer um pequeno pano-
rama quanto a temtica dos tecidos, cultura material e novas abordagens metodol-
gicas, por meio de imagens.
No prximo item deste artigo, abordarei como a cultura material, especifi-
camente o objeto aqui analisado, os tecidos, pode ser trabalhado atravs da anlise
iconogrfica trazendo novas perguntas e novas formas de perceber documentos his-
tricos.
2. O QUE AS IMAGENS PODEM FALAR
Em muitos momentos da disciplina Estudando tecidos: histria e identifi-
cao visual tive os meus primeiros contatos com nomes, formas, texturas e tramas
dos tecidos. A abordagem metodolgica de apresentar tecidos, datados do sculo
XVII, XVIII, XIX e at do sculo XX, por meio de imagens trouxe novas questes pa-
ra eu perceber os usos e sentidos que eles traziam.
Segundo Paiva (2004), a imagem uma fonte que contribui, tambm, pa-
ra o melhor entendimento das formas por meio das quais, no passado, as pessoas
representaram sua histria e sua historicidade e se apropriaram da memria cultiva-
da individual e coletivamente. Assim como as fontes escritas, as fontes visuais pos-
sibilitam por meio de valores, interesses, problemas, tcnicas e olhares compreender
tambm outros aspectos das construes histricas. As representaes iconogrfi-
cas, ou seja, as imagens construdas historicamente, ao associarem-se a outros re-
gistros, informaes, usos e interpretaes, se transformam, em um determinado
momento, em verdadeiras certides visuais do acontecido, do passado.
-
12
As imagens so geralmente e no necessariamente de maneira explcita, plenas de representao do vivenciado e do visto e, tambm do sentido, do imaginado, do sonhado, do projetado. So, portanto, representaes que se produzem nas e sobre as variadas dimenses da vida no tempo e no espa-o (p.14).
E para Bittencourt (2001), a utilizao de imagens na pesquisa social as-
sume vrias funes: registro documental, valorizao da memria social, de infor-
maes culturais implcitas e inventrio social. Esta utilizao pode ser entendida
como a possibilidade de alargamento da percepo visual; elas nos ajudam a ver
com maior preciso. Essa ferramenta metodolgica difere de um mero trabalho ilus-
trativo, alm de estender nosso processo visual, as imagens impressas auxiliam na
melhor compreenso quanto multiplicidade cultural.
A pesquisa social pode se beneficiar, embora compreenda questes te-
ricas e abstratas, da informao visual como fonte de dados primrios que no so
nem em forma de textos e nem de nmeros. A imagem apresenta vrias faces, como
explicita Novaes (1998). A primeira seria a realidade exterior (a mais evidente, a i-
magem petrificada no espelho, imvel do documento) e as demais estariam repre-
sentadas na realidade interior (aquilo que est implcito, que no podemos ver, mas
que podemos intuir).
Assim sendo, as imagens esto imersas num contexto cultural o que sig-
nifica dizer que elas dialogam com os modos de vida da sociedade que a produz;
pode expressar as diversidades polticas e culturais de grupos sociais e formas de
pensamento de determinadas pocas, alm de captar mudanas histricas pelas
quais passaram as sociedades e os grupos sociais.
De acordo com Andrade (2008):
Utilizando fontes inusitadas para a historiografia tradicional, como objetos e uma variedade de material iconogrfico, Schwarcz encontra no uso das re-presentaes de roupas (suas cores, suas formas) modos singulares para compreendermos nossa histria. Exemplo disso sua anlise sobre a mu-dana de trajes de Pedro II em um dado momento da sua vida, abandonan-do o manto imperial e adotando os trajes de um cidado composto por cal-a, palet, colete e camisa, aparncia que ilustra a capa de seu livro (p. 158).
A partir da abordagem de diversos autores, trouxe para este artigo a
perspectiva no to inovadora, pois j vem sendo realizada a algum tempo por pes-
quisadores, mas ainda tem um espao pequeno, ou melhor, ainda h poucas ade-
rncias dentro do espao acadmico, no talvez para as artes, mas para as outras
-
13
cincias. Em alguns espaos h ainda a ideia que o uso da imagem como fonte ou
documento histrico inferior aos documentos escritos.
importante frisar a importncia da relao entre imagens e textos, pois
as imagens atravessam o texto mudando-o, este atravessado por elas tambm as
transforma, ou seja, as imagens mudam os textos, e os textos, por sua vez, mudam
as imagens.
CONSIDERAES FINAIS
Diante a um primeiro divisor de guas tecido e roupa no so a mes-
ma coisa que veio por meio das explanaes, textos e pesquisas individuais pa-
ra a realizao da disciplina Estudando tecidos: histria e identificao visual;
surgiram novas questes para um campo de estudo que ainda estou engatinhan-
do: o designer de moda. Atualmente, divago sobre as outras possibilidades que
no seja o foco estritamente relacionado a roupas. Ora se o tecido vai alm disso,
porque um designer de moda se reduz ao objeto: roupa? Se no reduzido a ele,
porque h uma predileo? Mesmo que o uso das roupas est para alm dos
tempos imemoriais, porque subjugamos o tecido a essa utilidade em primazia das
outras? Como as imagens, poderiam talvez, nos ajudar a responder tais devanei-
os? Mas, seriam, enfim, apenas devaneios?
REFERNCIAS
ALMEIDA, Katianne de Sousa. Dando vida aos museus: o papel da contextualizao das colees etnogrficas. 2006. f. 140. Monografia defendida no Departamento de Antropologia da Universidade de Braslia, Braslia, 2006. ANDRADE, Rita. Bou Soeurs RG 7091: a biografia cultural de um vestido. So Paulo, PUC/SP, 2008. (tese)
BALDINI, Massimo. A inveno da moda: as teorias, os estilistas, a histria. Lisboa: Edies 70, 2006.
-
14
BITTENCOURT, Luciana. Algumas consideraes sobre o uso da imagem fotogrfi-cana pesquisa antropolgica. In FELDMAN-BIANCO e MOREIRA LEITE (orgs.). De-safios da imagem: fotografia, iconografia e vdeo nas cincias sociais. Campinas: Papirus, 2001. CHATAIGNER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. So Paulo: Estao das Letras Editora, 2006. FERRAZ, Paula. Histria dos tecidos. In: Universidade Anhembi Morumbi. Jornalis-mo Anhembi Morumbi. Parada Obrigatria. So Paulo, 2003. Disponvel em http://www2.anhembi.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=38822&sid=2083 . Acesso em 16 de junho de 2012. LIPOVETSKY, Gilles. O imprio do efmero: a moda e seu destino nas socieda-des modernas. Traduo de Maria Lcia Machado. So Paulo: Companhia das Le-tras, 2003. LOPES. Rita de Cssia Domingues. Artefatos Xikrn: documentos e testemunhos de um grupo indgena. Comunicao apresentada na VIII Reunio Regional de Antro-plogos do Norte e Nordeste ABANNE, realizada em So Lus MA, de 01 a 04 de julho de 2003. NOVAES, Sylvia Caiuby. O uso da imagem na antropologia In SEMAIN, Etienne (org.). O fotogrfico. So Paulo: Hucitec, 1998. OLIVEIRA, Gracina I. A trama e a urdidura: o vocabulrio txtil e a histria da ln-gua portuguesa. Filol. Lingust.por., n. 13 (2), p. 441-457, 2011. PAIVA, Eduardo Frana. Histria & Imagens. Belo Horizonte: Autntica, 2004. PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: histria, tramas, tipos e usos. So Paulo: Senac, 2007. RECH, Sandra Regina. Cadeia Produtiva da Moda: um modelo conceitual de a-nlise da competitividade no elo confeco. 2006. f. 282. Tese defendida no Pro-grama de Ps-Graduao em Engenharia de Produo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2006. Disponvel em: < http://tede.ufsc.br/teses/ PEPS5077.pdf>. Acesso em 15 de junho de 2012. REDE, M. Histria a partir das coisas: tendncias recentes nos estudos de cultura material. Anais do Museu Paulista. N. srie, So Paulo, v. 4, p. 165-82, jan./dez. 1996. SEBRAE. Bordados e rendas para cama, mesa e banho. Estudos de Mercado. Rela-trio Completo. SEBRAE/ESPM, 2008. VIZEU, Carlos Alberto. Nycron entra na moda com senta, levanta nos anos 60. Disponvel em A-cessado em 19 de junho de 2012.




![CARDOSO, Ruth. a Aventura Antropológica [Livro Completo]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5695d1831a28ab9b0296d66a/cardoso-ruth-a-aventura-antropologica-livro-completo-56daabac69d7d.jpg)