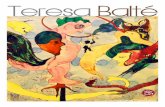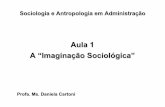Imaginação e Processos Imaginação e processos de criação na perspectiva histórico-culturalde...
Click here to load reader
-
Upload
fabio-pedroza -
Category
Documents
-
view
218 -
download
2
description
Transcript of Imaginação e Processos Imaginação e processos de criação na perspectiva histórico-culturalde...
-
49
IMA
GIN
A
O
NA
PERSPECTIVA
HIST
RICO
CU
LTURA
L
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
1 Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Cincias Humanas, Departamento de Psicologia. Campus Universitrio,Trindade, 88040-900, Florianpolis, SC, Brasil. E-mail: .
2 Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educao, Programa de Ps-Graduao em Educao. Campinas, SP, Brasil.3 Faculdade Metropolitana de Blumenau, Curso de Psicologia. Blumenau, SC, Brasil.4 Psicloga. Florianpolis, SC, Brasil.5 Universidade Federal de Santa Catarina, Curso de Psicologia. Florianpolis, SC, Brasil.
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (Projetos de Pesquisa/Edital MCT/CNPq 03/2008).
http://dx.doi.org/10.1590/0103-166X2015000100005
Imaginao e processos de criao na perspectivahistrico-cultural: anlise de uma experincia
Imagination and creation processes within a historical
cultural perspective: Analysis of an experience
Ktia MAHEIRIE1
Ana Luiza Bustamante SMOLKA2
Andr Luiz STRAPPAZZON3
Carolina Souza de CARVALHO4
Felipe Karpinski MASSARO5
Resumo
Este artigo aborda a imaginao como processo psicolgico fundamental do ser humano, tomando como base ostrabalhos de Vigotski e seus interlocutores, e tendo como eixo reflexivo uma pesquisa-interveno desenvolvida emuma Organizao No-Governamental de arte-educao. A investigao se caracterizou pela oferta de oficinas depercusso, produo de espetculo musical e produo de vdeo sobre esse espetculo, tendo como sujeitos crianase jovens de 9 a 14 anos que frequentavam a entidade. Uma anlise da experincia vivida por esses sujeitos na relaocom os pesquisadores toma como base a imaginao e seus desdobramentos no processo de criao. Nesse processode criao, a experincia (re)significada pelos sujeitos vai compondo ncleos de memria, de forma que a atividadeimaginativa se apresenta como um processo psicolgico (re)combinador, objetivada em um novo produto.
Palavras-chave: Imaginao; Espetculo musical; Processos de criao; Psicologia histrico-cultural.
Abstract
This paper deals with imagination as a fundamental psychological process of human beings, based on the work ofVygotsky and his interlocutors. The intervention research was developed at a Non-Governmental Organization in ArtEducation. The investigation was characterized by offering percussion workshops, musical show production and videoproduction about the show, to a group of 9 to 14-year-old children who attended the Non-Governmental Organization.The analysis of the experience of these subjects with the researchers was based on imagination and its developmentsin the creation process. In this process of creation, the (re)signified experience of the subjects forms memory cores ina way that the imaginative activity emerges as a (re)combining psychological process objectified in a new product.
Keywords: Imagination; Musical show; Creation process; Cultural-historical psychology.
-
50
K. M
AH
EIRIE et al.
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
Este artigo aborda a imaginao como pro-cesso psicolgico fundamental do ser humano,tomando como base os trabalhos de Vigotski e seusinterlocutores, e tendo como eixo reflexivo uma pes-quisa-interveno desenvolvida em uma Organi-zao No-Governamental (ONG) de arte-educa-o, situada em uma localidade de baixa renda, nacidade de Florianpolis (SC). A ONG, localizada naperiferia da cidade, oferecia a crianas e jovens, nocontraturno escolar, oficinas de arte e/ou aulas dereforo, dentre as quais as crianas e jovens es-colhiam o que fazer.
A investigao ocorreu em diferentes etapas,entre 2006 e 2009, contemplando em sua tota-lidade a oferta de oficinas de percusso, a produode um espetculo musical e a produo de um vdeosobre esse espetculo. Os sujeitos foram consti-tudos por crianas e jovens de 9 a 14 anos, quefrequentavam a referida ONG no perodo ves-pertino.
O trabalho, desde o incio, tinha como pro-psito oferecer uma oficina e, ao mesmo tempo,realizar uma investigao. A pesquisa partiu dopressuposto de que a msica atua como mediadorade coletivos (Maheirie, 2001) e aumenta a potnciade ao dos sujeitos. A equipe de trabalho era com-posta pela pesquisadora coordenadora, por alunosde graduao ou mestrado em Psicologia e por umprofessor de msica, caracterizando-se como umapesquisa-interveno. Adotou-se a modalidade mu-sical percusso por ser essa a rea de compe-tncia do professor que se props a realizar o tra-balho.
Assim que as inscries foram abertas paraa oficina de percusso, aproximadamente vinte su-jeitos se inscreveram. Era-lhes oferecido optar entrea oficina de percusso ou aulas de reforo em mate-mtica, sem que os pesquisadores soubessem disso poca.
No primeiro semestre das oficinas, o nmerode participantes foi diminuindo para dez, em funoda discrepncia entre o que eles procuravam e oque o ensino da msica exigia deles. A percusso,para eles, era a possibilidade de um espao parabrincadeiras, assim como para extravasar sua ener-gia, que no encontrava outro espao para se dis-
sipar. O professor tentava focar aspectos quepudessem lev-los apropriao de saberes e tcni-cas, enquanto eles queriam batucar sem regras egritar, experimentando o espao esttico no hori-zonte do brincar. Em meio a tantas contradies,dificuldades e incongruncias, com muito esforopara estabilizar algumas combinaes, as dez crian-as que permaneceram nas oficinas puderam seapropriar do conhecimento disponibilizado a elas,durante dois semestres.
No segundo semestre, os participantes semostraram desmotivados para a percusso, o quefez a equipe repensar sua continuidade nos moldesem que vinha acontecendo. Assim, recriaram-se es-tratgias interventivas nas oficinas, inserindo outrasformas de linguagem artstica, como teatro, figu-rino, pintura e confeco de mscaras. Os oito par-ticipantes que permaneceram, com idade entre 9 e14 anos, criaram uma histria, montaram o espe-tculo, inserindo a percusso quase no final doprocesso.
O espetculo, que se intitulou O MgicoContra o Som, tratava da histria de uma princesae uma bruxa. A princesa tem seu sono despertadopor uma feia bruxa, que vem assust-la noite; ame da princesa, a rainha, acode para acalm-la,enquanto a bruxa foge para a floresta. Pela manh,a princesa vai passear pela floresta, quando encontrauma linda flor que a faz ajoelhar para sentir seudelicioso perfume. Ao levantar-se, ela tropea nasrazes de uma grande rvore. Porm, tanto a florquanto a rvore esto enfeitiadas: todas as pessoasque cheiram a flor tropeam nas razes e caem.Caindo ao cho, a princesa se depara com a rvoree a admira, quando surge um mgico que conversacom ela e faz uma magia para que fique boa. A
princesa agradece e continua seu passeio. A bruxa,avisada pelo mgico, vai at a princesa e a prendenum calabouo. Bruxa e mgico so seres maus,
porque no gostam de msica e passam a histriaimpedindo que se toque qualquer instrumento nafloresta. Surgem duas fadas que libertam a princesa,desfazem os feitios do mgico e tambm trans-formam a ele e bruxa em seres do bem. A tramafinaliza com todos os participantes tocando per-cusso em roda. Dos oito participantes, as sete
-
51
IMA
GIN
A
O
NA
PERSPECTIVA
HIST
RICO
CU
LTURA
L
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
meninas atuaram como personagens, enquanto onico menino foi responsvel pela sonorizao.
A criao da histria envolveu todos osparticipantes, sendo que os pesquisadores buscaraminicialmente no interferir. A histria foi construdaa partir dos ncleos de memria que as crianasforam trazendo para a experincia das oficinas, mes-clando e (re)criando aspectos de histrias que faziamparte de suas vidas, como experincias anterioresno teatro e aquelas disponibilizadas em programasinfantis na televiso. Acordos iam sendo estabele-cidos entre eles conforme houvesse alguma discor-dncia na construo do enredo. Papis para os dife-rentes personagens iam sendo construdos em meioa conflitos e resolues, sendo necessria, algumasvezes, a mediao da equipe de pesquisadores,agora mais participativa no enredo.
Depois de finalizada a histria, os sujeitosconstruram os figurinos e cenrio, inseriram a msi-ca, agora j reconfigurada, e se apresentaram publi-camente em duas situaes. No ano seguinte, aconstruo de um vdeo sobre a experincia vividapor eles foi objeto da ltima oficina oferecida pelaequipe de pesquisadores.
Todas as oficinas foram filmadas e seu con-tedo foi digitalizado, sendo posteriormente decu-pado, ou seja, segmentado em temas com seutempo correspondente. A histria, dramatizada esonorizada no espetculo, foi apresentada publi-camente na ONG que frequentavam e, posterior-mente, em um festival de teatro promovido pelaUniversidade do Estado de Santa Catarina (UDESC),ocorrido no Teatro da Universidade Federal de SantaCatarina (UFSC). Aps essa apresentao pblica,os sujeitos foram entrevistados, utilizando-se umroteiro que buscava investigar o impacto e os senti-dos daquela apresentao para eles.
Mtodo
Participantes
No ano seguinte oficina de criao e montagem do espetculo, na terceira etapa dotrabalho - objeto do presente estudo -, a equipe de
pesquisa ofereceu oficinas de vdeo, em que as setemeninas aprenderam tcnicas videogrficas e decriao de roteiro (o menino havia sado da ONG eno pde ser localizado). Por meio da memria,elas puderam (re)significar toda experincia doespetculo criado, que teve a msica como lingua-gem e tema de todo o processo.
Portanto, dos oito participantes da etapaanterior, especificamente nessa etapa, a investi-gao contemplou o trabalho com as sete meninasque se conseguiu contatar para este estudo.
Instrumentos
O material para a construo do vdeo foiaquele produzido nas oficinas anteriores, que estavadigitalizado no computador da sala da equipe depesquisa. Foram realizados encontros semanais como grupo das sete meninas, os quais foram videogra-vados e registrados em dirio de campo pelos mem-bros da equipe de pesquisa. Ao final, foram reali-zadas entrevistas abertas com as participantes, squais era solicitado que falassem sobre a experinciavivenciada nas oficinas at aquele momento. Almdisso, as garotas elaboraram uma redao temticaacerca de toda a experincia.
Em sntese, utilizaram-se como instrumentode pesquisa: dirios de campo, entrevistas abertase coletivas, produo individual de redao, pro-duo de imagens paradas (fotografias produzidaspor meio do congelamento das filmagens coletadasanteriormente) e imagens em movimento que com-punham as decupagens.
Procedimentos
Primeiramente, todo o material foi decu-pado, visando disponibilizar aproximadamente duashoras e meia de filmagem para a montagem dovdeo. As imagens foram organizadas por temtica,de acordo com as cenas que faziam parte do espe-tculo e de acordo com as etapas do processo decriao: ensaio, criao do roteiro do espetculo,criao dos personagens, ensaio, figurino, cenrio,percusso, momentos de descontrao e apresen-tao no Teatro da UFSC.
-
52
K. M
AH
EIRIE et al.
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
Todos os encontros que compuseram essaoficina ocorreram na sala de pesquisa da equipe,tendo sido filmados e armazenados digitalmente.
Para a construo da anlise, foram pesqui-sadas as situaes, falas e depoimentos orais eescritos que as meninas produziram ao longo daexperincia, tendo como alicerce terico as contri-buies de Vigotski e interlocutores. Para a constru-o deste artigo, elegeu-se a imaginao como focoprincipal do processo de criao.
Ao conceber a msica como uma forma delinguagem, entende-se, assim como Vigotski (1934/1992), que a linguagem constitutiva/constituido-ra do sujeito, de modo que o pensamento e a lingua-gem refletem a realidade de uma forma diferentee se constituem no ponto central para se compreen-der a conscincia humana (Maheirie et al., 2008,p.190).
Ao discorrer sobre a linguagem e o pensa-mento, Vigotski (1934/1992) afirma que ambossurgem e se configuram durante o processo de de-senvolvimento histrico da conscincia humana.Ambos so produtos do processo de formao doser humano, de modo que a relao entre eles sur-ge, transforma e cresce em conformidade com odesenvolvimento do indivduo. Essa relao umprocesso, desenvolvimento: o pensamento culmi-na na palavra, possuindo movimento, fluidez e de-sempenhando uma funo. Em suma, o pensa-mento resolve uma tarefa determinada (p.296).Nessa direo, o autor alerta que a estrutura dalinguagem no simples reflexo da estrutura dopensamento. Ela no expressa o pensamento puro,pois este se modifica ao transformar-se em lingua-gem, a qual se faz uma realizao daquele e nosua expresso. Assim, os aspectos semntico e ver-bal da linguagem se colocam em direes opostas,mesmo sendo um nico processo.
Para Vigotski (1934/1992), o significado dapalavra a unidade do pensamento e da linguagem:o significado a prpria palavra como um fen-meno de linguagem e como um fenmeno depensamento; verbal e intelectual, evoluindo domais simples ao mais complexo. O significado repre-senta uma generalizao, um modo de refletir arealidade e, quando se constitui em sua forma mais
complexa, encontra sua expresso nos conceitosabstratos.
Tomando como base os trabalhos de Pauhlan,Vigotski (1934/1992), continua suas ideias acercada linguagem em suas diferentes formas, diferen-ciando significado e sentido. Enquanto este secaracteriza por uma formao dinmica, varivele complexa que tem vrias zonas de estabilidadediferente (p.333), o significado s uma dessaszonas de sentido, a mais estvel, coerente e precisa(p.333). Sendo assim, o sentido infinito e deveser buscado num contexto mais amplo, caracteri-zando-se como uma singularizao na relao coma pluralidade.
A palavra est inserida no contexto, do qualtoma seu contedo intelectual e afetivo, carregandoesse significado e ampliando seu repertrio, demodo a adquirir novos contedos. O sentido nuncaest acabado, pois depende da interpretao domundo e da singularidade do sujeito.
No que se refere ao pensamento, Vigotski(1934/1992) afirma que este nunca coincide comas palavras. Ele movimento, sempre tende a uniralgo com algo e sempre est mediado por signos esignificados, at que faa seu caminho em direos palavras. Para o autor, o pensamento sempreest por trs das palavras, como um subtexto(p.340), apresentando-se de forma mais extensa evolumosa do que elas.
O pensamento nasce da esfera motiva-cional de nossa conscincia, que abarca nossasinclinaes e nossas necessidades, nossos interessese impulsos, nossos afetos e emoes. Detrs de cadapensamento h sempre uma tendncia afetivo--volitiva (Vigotski,1934/1992, p.342). Assim, paracompreender a linguagem, no suficiente com-
preender as palavras: preciso compreender opensamento e o desejo do interlocutor, e aquiloque os embasa, isto , sua motivao e a base afe-
tivo-volitiva que o sustenta.
Vigotski (1934/1992) finaliza o textoPensamiento y palavra, apontando que pensa-mento e linguagem constituem a chave para a com-
preenso da conscincia humana, uma vez que ela a conscincia que existe na prtica para os outros
-
53
IMA
GIN
A
O
NA
PERSPECTIVA
HIST
RICO
CU
LTURA
L
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
e, por consequncia, para o indivduo. Mesmofocando fundamentalmente na linguagem ver-bal/escrita, as reflexes do autor indicam que, comoconstituintes e constitudas pelos sujeitos, as dife-rentes formas de linguagem se definem por ser umaobjetivao transformada do pensamento, o qualse fez possvel por meio da apropriao da lingua-gem.
Para Vigotski, assim como para Bakhtin, alinguagem mais que um simples signo: ela tra-balho e processo, na medida em que constitui aosobre o pensamento e a cultura (Morato, 2000),regulando a relao cognio - mundo social. Nessaperspectiva, seria prudente afirmar que toda baseafetivo-volitiva estruturada nas condies obje-tivas, materiais e concretas do sujeito, de forma que
se faz tambm sob a raiz das normas pragmticasutilizadas na linguagem. Sua funo reguladora seconstitui entre a fala e a ao (Morato, 2000) e,
uma vez que se aprende a usar a funo plane-jadora da linguagem (Vigotski, 1934/1992), o futu-ro faz parte constante de seu campo psicolgico.
Assim, o pensamento, sua base afetivo-volitiva, estapontado para o futuro, para o devir, para aquiloque ainda no se .
Nessa direo, a presente investigao apon-
tou para a esfera da temporalidade dialtica, ondese entrelaam o passado, o presente e o futuro nainteligibilidade do movimento do sujeito em con-
textos sociais especficos, alertando para uma con-dio ontolgica de superao do institudo, pormeio do processo de criao. Para Vigotski (1925/
1998), os processos de criao que envolvem obje-tivaes artsticas tm a especificidade de promoverrelaes estticas, bem como de provocar transfor-
maes nos sujeitos que com elas se implicam, sin-gular e coletivamente.
Por isso, faz-se importante trazer uma afir-mao de Morato (2000), quando a autora defende
que o que Vigotski traz com uma fora intem-pestiva para a pesquisa atual a ideia de con-tinuidade (no apenas funcional ou estrutural, massgnica) entre cognio e linguagem, entre lingua-gem e cultura, entre cultura e arte, entre arte e
poltica (p.155).
Na anlise das artes proposta por Vigotski(1925/1998), o interesse se volta para os processosimplicados na criao artstica por seres humanosque produzem e consomem arte num determinadocontexto scio-histrico. A arte entendida, ento,como um sistema simblico elaborado pelo artistacom o intuito de provocar no seu pblico um tipoespecfico de reao, a reao esttica. O autor afir-ma que a reao esttica possibilita que emoesangustiantes e desagradveis sejam submetidas auma descarga, sua destruio, capaz de trans-form-las em sentimentos opostos. Assim, a reaoesttica como tal se reduz, no fundo, a essa catarse,ou seja, complexa transformao dos sentimen-tos (p.270).
De acordo com Pino (2006), o sentido est-tico, assim como tudo que especificamente hu-mano, construdo histrica e culturalmente, sendoportanto objeto de formao e educao.
Os processos educativos voltados para aampliao do sentido esttico possibilitam maiorriqueza da experincia perceptiva, a qual se faz fun-damental para a produo de imagens. Nas palavrasde Pino (2006):
Se pelo corpo que entramos em contato
com as coisas que formam a realidade do
mundo, ento a sensorialidade funda-
mental e os rgos sensoriais, ou sentidos,
so essenciais para a percepo sensvel; a
tal ponto que, se no funcionam, ou fun-
cionam de forma deficiente por falhas fi-
siolgicas, anatmicas ou outras, uma de
duas: ou perdemos a percepo das coisas
ou temos uma percepo distorcida delas.
O fato de constituir a forma elementar, ou
biolgica, da percepo no quer dizer que
a sensorialidade no entre no quadro do que
entendemos por sentido esttico, pois
sem ela no temos o que dizer a respeito.
Acontece que a tese da dupla srie de fun-
es de que fala Vigotski supe que os r-
gos receptores funcionem bem, o que no
caso humano, embora necessrio, no sufi-
ciente, pois o que resulta da percepo sen-
sorial no so apenas imagens, mas imagens
humanas passveis de interpretao e de
mltiplas reelaboraes semiticas (p.67).
-
54
K. M
AH
EIRIE et al.
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
Ou seja, continuando a tese de Pino (2006),a qual est em consonncia com a tese da duplasrie de funes, uma percepo refinada dasmaterialidades sensoriais fundamental para aconstituio nelas das funes culturais (simblicas)fundamento do sentido esttico (p.67). Aumentara potncia de ao dos sentidos produz novasemoes e novas imagens que com aquela se uni-ficam e que foram possveis por meio da percepoanterior das materialidades sensoriais. Ao poten-cializar os sentidos estticos, o sujeito pode chegara processos de criao, objetivando novos produtosnos entornos que ocupa.
Na perspectiva da psicologia histrico-cul-tural, o homem um ser de relaes, ou seja, nada, seno na relao com os outros, com a natureza,com o tempo, com as coisas e com seu prpriocorpo. Como consequncia, o sujeito produto docontexto que vivencia e , ao mesmo tempo, pro-dutor desse contexto. O processo criativo, ento, produzido nas relaes e se faz tambm como pro-duto e produtor do contexto no qual o sujeito estinserido.
Para Vigotski, a criao uma capacidadehumana, uma condio ontolgica conquistada noprocesso evolutivo, que permite tomar o rumo daprpria evoluo (Pino, 2006), caracterizando o pro-cesso de humanizao. Porm, a condio onto-lgica est submetida s condies materiais con-cretas e s possibilidades efetivas que se encontrampara a criao.
Resultados
Apontamentos da experincia baseque gerou o vdeo
No contexto investigado, as condies en-ontradas constituram dificuldades que posterior-mente foram sendo ultrapassadas. No incio, valelembrar, a atividades oferecidas pela ONG, incluindoa oficina de percusso, eram praticamente obriga-trias, de forma que a percusso surgiu para ascrianas como uma forma de brincar com o barulhooriundo dos instrumentos musicais. O professor da
oficina logo mostrou que, para tocar percusso, eranecessrio muito esforo, ateno, coordenao edisciplina.
Aps as oficinas de percusso, nas quais ascrianas reclamaram da postura e da disciplina exi-gida pelo professor, elas acabaram se apropriandode tcnicas e fazeres musicais, culminando na cons-truo coletiva do espetculo musical em diferenteslinguagens artsticas. Diferentes conhecimentossobre outras linguagens foram oferecidos s crian-as e jovens, para que vivenciassem experinciasmediadas por saberes tcnicos, as quais tambmvaleram para que o conhecimento musical encon-trasse novos caminhos de objetivao (Maheirie et al.,2008). A mediao dos instrutores se mostrou fun-damental para a apropriao do conhecimento edas tcnicas necessrias criao do espetculo mu-sical e, posteriormente, produo do vdeo sobretal experincia. O processo de criao no mgiconem surge do nada, uma vez que implica, neces-sariamente, no que Vigotski (1930/2009) chamoude torturas da criao. Ou seja, esta se constituia partir dos esforos empreendidos pelo indivduo,no sem sofrimento, para que se aproprie de umsaber que posteriormente servir de base para seuultrapassamento.
Os sujeitos produziram o enredo durante osencontros, por meio de debates, conversas, brigase brincadeiras, dialetizando de forma reflexiva eafetiva no momento em que foram apresentadasas possibilidades de figurino. Os ensaios comearama ser realizados nas primeiras reunies, baseadosno breve enredo desenvolvido. No entanto, as falase posicionamentos, assim como a insero da per-cusso, aconteceram durante os ensaios subse-quentes, nas improvisaes do grupo.
Vigotski (1930/2009) aponta que a imagi-nao se faz possvel por um processo anterior deapropriao do conhecimento, o qual recom-binado de uma nova maneira pela imaginao eposteriormente objetivado no contexto. Sendo as-sim, os processos de criao musical tm seu inciona percepo que se tem do mundo concreto e seusobjetos, sempre mediada semioticamente, o quepossibilita sua reorganizao por meio da fantasia,para que, em seguida, se objetive o novo. Portanto,
-
55
IMA
GIN
A
O
NA
PERSPECTIVA
HIST
RICO
CU
LTURA
L
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
a atividade criadora se realiza pela sntese da fan-tasia com os objetos que constituem o mundo,fazendo surgir o novo, que aponta sempre comouma possibilidade, ou seja, como projeto e devir.
A construo do espetculo sintetizou fan-tasia e realidade, culminando na objetivao de umnovo produto. A partir de materiais como papelo,tinta, tesoura, papel, pincel, cola e lpis, os partici-pantes criaram o castelo, o calabouo e sua chave,a vara e o chapu da bruxa, bem como a varinhada fada. Os vestidos que compunham o figurino dapea foram emprestados pela instituio, e cadaator escolheu o que melhor se ejustava a seu per-sonagem. Finalizando o momento da construodo espetculo, foram feitos os ensaios finais e reali-zadas as duas apresentaes j referidas.
Para Vigotski (1930/2009), a atividade criadoraocorre partindo dos elementos que as pessoaspercebem e significam na/da realidade e que soregistrados por meio da memria. A partir dessesncleos de memria, os quais constituem as hist-rias de vida dos sujeitos, a atividade imaginativa seapresenta como um processo psicolgico (re)combi-nador. Entretanto, a atividade criadora pressupenecessariamente a objetivao, ocorrendo somentequando completa seu ciclo, ou seja, quando seuproduto volta realidade, produzindo algo no mun-do. Quando isso acontece, o sujeito transforma arealidade e a si prprio, dando novo sentido a suasexperincias.
O autor (Vigotski, 1930/2009), ao falar sobrebrincadeira de crianas, observa que elas refletemna brincadeira aquilo que percebem no contexto.No entanto, esse reflexo nunca meramente umacpia, mas sim um trabalho criativo de recombi-nao das impresses que a criana tem do con-texto. Ela combina e usa tais impresses para cons-truir uma nova realidade que corresponda s suasprprias necessidades e desejos. Portanto, ao brincare imaginar, a criana recria o seu contexto num pla-no imaginrio, organizando assim suas ideias sobreo seu lugar social. Visto isso, possvel entender aimportncia de espaos que permitam e estimulema criao infantil, pois estes acabam por ser exce-lentes ferramentas de mudana social, ao permitirs crianas testar o novo no faz-de-conta, no planoda imaginao, lugar onde tudo se torna possvel.
Para Vigotski (1930/2009), os sentimentosmovem a imaginao, a atividade imaginativa crianovos sentimentos, em um movimento em queemoo e pensamento se vinculam. Ou seja, naatividade criadora sentimentos e emoes se res-significam. Essa transformao de sentimentos, pormeio da imaginao e da criao esttica, pde serobservada diversas vezes durante esta investigao,em suas mltiplas fases.
Com o espetculo em processo de finali-zao, a percusso foi reaparecendo entrelaadana linguagem teatral. Conhecimentos musicais apro-priados anteriormente se fizeram a base para areapropriao da percusso no espetculo; uma vezdesconstrudos, foram recombinados em um novoproduto (Maheirie et al., 2008). Os participantesforam atribuindo caractersticas musicais aospersonagens e prpria histria, trazendo grandeparte das batidas da percusso aprendidas ante-riormente. Assim, a criatividade dos sujeitos apare-ceu por meio da (re)composio musical, possibi-litada pela construo de conhecimentos que osinstrumentalizaram para que pudessem objetivar asua subjetividade na formao do espetculo (p.193).
Discusso
Atividade criadora na experincia dasmeninas
A histria criada para o espetculo, revividapela memria na produo do vdeo, compreen-
dida como unificao das experincias vividas nahistria dessas meninas. possvel perceber nodiscurso de algumas participantes a preocupaocom a dicotomizao, bom vs mal, certo vs errado,coisa de menino vs coisa de menina. Nessa pers-pectiva, a prpria histria-enredo criada pode ser
resumida como a luta do mal contra o bem, emque o bem tenta regenerar as pessoas ms. impor-tante ressaltar que algumas das participantes j
haviam tido contato com o fazer teatral, e a histriacriada naquele contexto em muito se assemelhavacom a criada na oficina de criao deste espetculo.Vigotsky (1930/2009) aponta que as criaes no
-
56
K. M
AH
EIRIE et al.
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
so produzidas a partir do nada, mas que tais pro-dues so sempre fruto da combinao de ele-mentos retirados de outras experincias, e que essacapacidade de criao o que permite ao homemtransformar-se a partir de novas situaes. Difi-cilmente os elementos mudam, mas as relaescambiam de acordo com a imaginao de quem ofaz.
Quanto mais rica for a experincia vivida poralgum, maior ser a magnitude e complexidadedas coisas por ele criadas (Vigotski, 1930/2009).Assim, possvel entender que essa concepodualista de bem e mal presente na histria das crian-as no somente uma significao individual, masalgo que j foi experimentado, provavelmente naleitura de histrias de contos de fadas, ou conver-sas ouvidas de pessoas a seu redor. Isso permite en-tender claramente que toda criao um produtohistrico e social, que representa conceitos e ideiasde uma poca e um lugar. J que no h muitosnovos elementos nas criaes, quase tudo que nelas usado j foi antes observado ou experimentado,de alguma forma, no universo em que o criadorest inserido.
A criao a combinao de elementos jvividos com novos. A habilidade de combinar ovelho com o novo constitui a base da criao. Quan-to mais rica for a experincia da criana, mais impor-tante e produtiva a atividade de sua imaginao(Vigotski, 1930/2009). Na entrevista com uma dascrianas, pode-se ver que elementos de outra expe-rincia de criao teatral entraram na criao danova pea:
Entrevistador: Voc j tinha feito teatro
antes?
Luana: J, j tinha feito, na escola.
Entrevistador: E como era o teatro l?
Luana: A gente fazia, era o ataque das for-
migas. Tinha a formiga rainha, formiguinha,
tinha a formiga do mal.
Entrevistador: Era mais ou menos parecida
com a pea que vocs mostraram na Casa
da Criana, que tinha rainha, tambm tinha
as formiguinhas, tambm tinha os persona-
gens do mal, n? O mgico, a bruxa.
Luana: , parecida.
A experincia das meninas com a msica -ou seja, a msica que escutam em suas casas, ouque seus familiares e amigos lhes apresentam -, giraem torno de gneros como o pagode, o rap e, maisespecialmente, o funk. A finalizao do espetculose deu com a percusso no ritmo do funk, por es-colha e criao dessas meninas. As sonoridades pre-sentes em todo o espetculo unificam-se com suasvivncias musicais, apresentando melodias conhe-cidas desde a infncia.
No espetculo produzido a partir de oficinasde percusso e criao de roteiro e cenrio, paraalm da criao de todos os pormenores da obra,pode-se tambm refletir tambm sobre o prprioato de atuar, de experenciar o que fora antes ima-ginado.
A imaginao, como subjetivao de mate-rialidades em imagem mediadas semioticamente, o exerccio do imaginrio que, para Pino (2006),
comparvel a uma fbrica de produo. Tal ideiaindica a relao inexorvel entre o real e o imagi-nrio, em que o primeiro precede o segundo, en-quanto este o modifica, material e simbolicamente.
Maria, outra menina participante do projeto,ao assistir o vdeo de uma etapa da criao do espe-tculo, lembrou que, inicialmente, havia um circono qual Eliane era o palhao:
Eliane, conta-nos Maria, gesticulava cha-
mando as pessoas para assistir a um show,
venham, venham!, gritava com um mao
de papel na mo. Luana logo lembra
amiga que o mao de papel era um exemplar
do Dirio Catarinense [jornal de circulao
diria]. Que memria!, exclama o pesqui-
sador, mas e a, como foi que voc virou
flor, Eliane? A menina responde: foi o m-
gico quem me transformou. Luana, o m-
gico, complementa mais uma vez com sua
voz tmida: ela no me deixava entrar den-
tro do circo, a transformei ela em uma flor.
Enquanto houvesse um palhao a segurar
um jornal nas mos, o mgico no poderia
entrar no circo. Mas, como todo bom m-
gico, habitante do plano irreal, Luana ima-
ginou o arlequim no mais com seu nariz
-
57
IMA
GIN
A
O
NA
PERSPECTIVA
HIST
RICO
CU
LTURA
L
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
vermelho, mas com ptalas e flores, e enfim
executou o seu plim transformador: estava
livre, pela mgica, para entrar no circo (Ano-
taes de campo).
Tomando como eixo principal a imaginaopara entender os processos de criao e com base
no princpio da interconexo entre os processos psi-colgicos complexos (Pino, 2000), pode-se con-ceber a percepo e a cognio como Processos
Psicolgicos Complexos (PPC) que alimentam e pro-duzem a imaginao. Se algum fizer como Luana,pode imaginar uma flor. Assim como quem percebe
uma flor, quem a imagina vai enxerg-la em per-fis - mas de maneira imediata. Pode gir-la e olharpor dentro de suas ptalas; pode olh-la por cima,
pelo lado, por baixo, enfim, por todos os perfis aomesmo tempo, o que no seria possvel na per-cepo. Porm, nenhum perfil ou elemento ima-
ginado poderia s-lo antes de ser percebido ouconhecido, j que a imaginao a transformaode um conhecimento antes apropriado.
Diferentemente da flor que se percebe, na
qual cada novo olhar revela um detalhe no visto,na flor que se imagina os detalhes antes apropriadosso recriados. As crianas, ao brincarem com umaimagem de flor, foram afetadas pela imagem--lembrana de um teatro do qual haviam anterior-mente participado, ou de outra experincia vividacom uma flor. De qualquer forma, o saber acercadesse objeto se d no prprio ato em que ele surgecomo imagem, mesmo que no se reconhea oconhecimento nesse ato.
Sartre, partindo de bases epistemolgicasdistintas das de Vigotski, pode contribuir com estasreflexes, ao ponderar que o saber fundamentalao imaginrio. Para ele, a inteno est no centrodo [ato de imaginar]: ela que visa o objeto, isto ,que constitui pelo que ele . O saber, que est indis-soluvelmente ligado inteno, especifica que oobjeto este ou aquele, acrescenta sinteticamentedeterminaes. [Nosso] saber um saber do obje-to, um saber tocando o objeto (Sartre, 1936/1996,p.24, grifo do autor).
Para o autor, imaginar dirigir-se a um obje-to irreal ou ausente, como impulso a alguma coisa.
Sua definio indica a imaginao como relao eque o imaginrio (como substantivo) no se con-
funde com um depsito onde se armazenam ima-gens. Ao contrrio, tal postura aponta o cartertransfenomnico da imaginao, a qual, assim como
a percepo e a reflexo, tambm precisa de umobjeto para se fazer. Ao colocar a imaginao comoato que envolve a subjetividade em direo a um
objeto, Sartre contribui com as reflexes desen-volvidas neste artigo, que concebe o imaginrio co-mo um processo psicolgico complexo, na medi-
da em que envolve a relao entre o subjetivo e oobjetivo.
A flor que Luana imaginou, esse objeto-em--imagem, no estava dentro dela; portanto s exis-
tiu com uma inteno e um saber que posicionassetal objeto. Seu ato de imaginar visou o objeto en-quanto objeto concreto e situado, assim como o
ato perceptivo e o ato reflexivo visam o seu obje-to - mesmo que o faam, cada qual, sua maneira.
Criar uma forma de transcender o j vividoem funo do ainda no existente. recombinar os
elementos da realidade que foram apreendidos, pormeio da percepo significativa, do sentido estticoe da reflexo, para desconstru-los e reconstru-losde outra forma, impulsionados pela imaginao.Assim, possvel compreender o motivo pelo quala imaginao a base para toda e qualquer formade criatividade, seja ela artstica, cientfica ou tcni-ca, j que nela o sujeito vai alm de seu passado ede suas experincias vividas, projetando-se emfuno de um porvir. Portanto, o processo de criaoimplica na subjetividade realizando uma articulaotemporal, visando a uma transformao da objetivi-dade (Maheirie, 2003).
Funo psicolgica complexa do campo dasubjetividade, a imaginao uma atividade criado-ra ou, como afirma Pino (2006), uma atividade pro-dutiva, na qual o indivduo forma os objetos a partirde uma sntese de elementos afetivos e elementosde seu saber. Por isso, as produes imaginrias sefazem imprescindveis para toda produo humana,seja material ou simblica. Imaginar, nessa pers-pectiva, da ordem do humano, da autodeter-minao, da liberdade e da conscincia (p.49).
-
58
K. M
AH
EIRIE et al.
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
O personagem no o ator. Eliane no aprincesa. Mas isso no significa que ela no tenhase mobilizado para produzi-la, enquanto atuava no
palco e enquanto criava o roteiro com as amigas.Ela utilizou seus sentimentos e gestos, como an-logos ao sentimento da princesa, e se colocou in-
teiramente na histria criada, realizando-se em seupersonagem.
A atitude imaginante tem um sentido e umautilidade para a dinmica psicolgica. Sabe-se que
ela que permite ao indivduo lanar-se alm dopresente, sobre o passado, visando um futuro, per-mitindo-lhe projetar algo novo, para uma situao
alm da condio material que lhe dada.
Modos de apropriao da experinciade criao
Em todas as redaes produzidas pelas me-ninas ao final da experincia de criao, apareceramagradecimentos. Elas tambm escreveram palavras
como legal, divertido, muito bom, engra-ado, apontando o ldico e prazeroso como partedo processo experenciado. Alm disso, trouxeram
tambm relatos da dificuldade em se aprender atcnica musical da percusso, apontando que nocomeo eu levava tudo na brincadeira, mas depoiseu vi que o bagulho tava ficando mais srio e dalipra frente eu resolvi mudar nas atitudes do teatro eeu comecei a levar o que eu queria pra mim maisa srio, relata Maria, que gostou muito de seraplaudida na apresentao final no Teatro da UFSC.
Eliane relata que vai levar para o resto davida tudo o que aprendi com vocs, e Biancaexplica que no fala que valeu a pena da boca prafora nem para agradar vocs, porque eu gosteimesmo de corao!. Nesses relatos, percebe-senitidamente o envolvimento afetivo entre as parti-cipantes e os mediadores das oficinas, aliado aotom de quero mais e de que foi uma oportu-nidade maravilhosa.
comum tambm o relato da dificuldadeem aprender a tocar msica. Tal dificuldade foirelacionada figura do professor de percusso, na
medida em que as falas sobre ele esto semprevoltadas s dificuldades no aprendizado da tcnica.Por exemplo, Luana afirma: No gostei quandoeu tava l brincando com o coisinha e o professorpegou no meu p, no sei o qu, porque eu tavabrincando. Porque eu tava assim, ah! Eu no seitocar essa coisa a, mas a teve uma hora que eutive que aprender, n. Aprender uma nova tcnicanunca fcil, necessrio disciplina, esforo, persis-
tncia at que a tcnica fique suficientemente incor-porada para que seja possvel a criao do novo apartir dos elementos j conhecidos da tcnica.
Estas garotas relatam terem tido importantes
recompensas pelo seu esforo, como se apresentarpara um pblico novo e para suas famlias, conheceroutros espaos e fazer amigos, o que as estimulou
a aprender, cada vez mais. Tendo conseguido seapropriar da percusso e realizar o espetculo,muitas demonstraram um grande aumento da auto-
estima. Por exemplo, nas palavras de Maria, Ai,eu sempre fui... tipo eu sempre me destaquei emcoisas assim, de tocar. A eu fui primeira aluna aaprender direito o que ele tava ensinando. A eleme entregou o bumbo e eu comecei a tocar. Luanaconta que passou a ter uma viso diferente acerca
de si mesma: Mudou! Porque antes eu era bemburra, no sabia, Da o professor ficava pegandono meu p e ficava, a eu ficava: ai mas eu no seifazer isso! Eu no vou fazer... Da agora eu sei!Agora mudou porque agora eu sei!.
A criao implica uma postura afetiva, o que fundamental para a criao (Maheirie, 2003), quenecessita da crtica para se alimentar. Como pro-cesso de construo social, ela no se confunde coma noo de talento inato ou vocao. Processos psi-colgicos complexos so fundamentais para a pro-duo criativa, possibilitando no s a composiodo novo, mas tambm seu resultado. Ou seja, apartir da criao, o sujeito modifica suas possibi-lidades afetivo-cognitivas, o que, por sua vez, trans-
forma a vida e a prpria leitura de seu contexto. Aobjetivao criadora, por seu turno, transforma tam-bm a prpria realidade, uma vez que possibilitauma reao esttica (Vigotski, 1925/1998) nos su-jeitos que com ela vierem a se relacionar. Assim,
-
59
IMA
GIN
A
O
NA
PERSPECTIVA
HIST
RICO
CU
LTURA
L
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
consequncia das relaes semioticamente me-diadas, os processos psicolgicos complexos soconstrudos e reconstrudos ao longo da histria dos
sujeitos, graas subjetivao de ferramentas sim-blicas (Rivire, 1985).
Para Vigotski (1931/1983), as funes psico-lgicas superiores so constitudas por processos
que se do a partir do desenvolvimento cultural,como o idioma, a escrita etc., e so conhecidas atual-mente por ateno, imaginao, memria lgica,
formao de conceitos etc. Processos psicolgicoscomplexos, segundo a psicologia de Vigotski, sonecessariamente mediados por signos, e possibi-
litam ao ser humano a relao com a realidade,com os outros e consigo mesmo, mediatizada pelacultura (Zanella, 2001).
Partindo de uma concepo de sujeito que
se define histrica e socialmente, os processoscriativos se constituem, como os demais processospsicolgicos complexos, como relaes sociais inter-
nalizadas (Pino, 2000) ao longo do desenvolvimento
histrico do sujeito. Assim, sua origem e desenvol-
vimento se do no movimento de uma subjeti-
vidade que se objetiva singularmente, ao mesmo
tempo semelhante e diferente do outro, o qual se
faz mediao na sua constituio. A condio dos
processos de criao, assim como de outros pro-
cessos psicolgicos complexos , justamente, a de
no surgir do nada, uma vez que vai se ancorando
inicialmente numa realidade social para, depois, se
individualizar ao longo da histria do sujeito. A ima-
ginao, processo psicolgico que possibilita qual-
quer atividade criadora de um sujeito singular, est
sempre atrelada realidade, a qual sempre lida,
interpretada e significada atravs da mediao dos
signos e das palavras, indicando que a atividade
criadora de sujeitos singulares depende diretamente
de suas experincias (Vigotski, 1930/2009).
Luana, fascinada com a universidade, ao ser
informada de que um dia poderia nela trabalhar,
questionou prontamente o pesquisador: como
trabalhar? assim, limpar? Quando se imaginou tra-
balhando, imaginou a partir de suas condies
concretas de vida, trazendo um saber anterior das
tarefas j aprendidas. Depois de informada de quepoderia ali trabalhar como estudante e pesquisadorano futuro, Luana experimentou esse outro futuro
tambm como possvel, abrindo uma nova pers-pectiva a se imaginar e objetivar, caso as condiesconcretas e materiais o viabilizem.
Consideraes Finais
No que diz respeito implicao das ativi-dades oferecidas pela investigao para os sujeitos
participantes (oficinas de msica, teatro e vdeo),pde-se perceber, no relato de alguns deles, umaampliao das perspectivas futuras. O futuro s
possvel em funo da imaginao, processo psico-lgico complexo, imprescindvel a uma existnciaefetivamente humana. Assim, fez-se importante
descrever a imagem para poder compreender agrande funo da imaginao, destacando sua apa-rio no decorrer do processo de criao do espet-
culo O mgico contra o som.
O fato de ser uma pesquisa-interveno pos-sibilitou que isso acontecesse, uma vez que as ofi-cinas promovidas pelo projeto tambm possibi-
litaram para as crianas o aprendizado de tcnicasde percusso, teatro e edio de vdeo, via mediaoda equipe de pesquisa, apesar de todas as dificul-
dades encontradas no percurso.
Ao apostar em novos modos de subjetivaoe objetivao que sero possveis em seus devires,entende-se que eles esto se expandindo, ou seja,
expandindo a vida como potncia, que pode seraumentada nos encontros com os outros.
Os processos de criao implicam, neces-sariamente, recurso, utilizao e desenvolvimentode processos psicolgicos considerados complexos.A imaginao , talvez, uma das caractersticas maisimportantes do processo. Sendo assim, no h um
antagonismo entre realidade e imaginao, uma vez
que se extraem da realidade os elementos para a
composio da fantasia (contedo do processo
imaginativo). Isso implica que a histria de vida de
um sujeito, suas objetivaes e subjetivaes, reve-
lam a fonte do processo de imaginao. Alm disso,
-
60
K. M
AH
EIRIE et al.
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
h a combinao dos elementos extrados darealidade e os que o sujeito produz em fantasia,indicando a imaginao como um exerccio de
estruturao dessas fantasias. Por fim, h um enlaceemocional que engloba a imaginao, carregandode afeto a relao do sujeito com o contexto ima-
ginrio que produz. O produto dessa fantasia seobjetiva em algo novo, a criao propriamente dita,que modifica o sujeito e o contexto no qual o pro-
duto se insere.
A objetivao do processo de criao podeproporcionar ao sujeito um ultrapassamento de suasituao, um movimento de superao na sua his-
tria, uma transformao em seus sentimentos eemoes, em direo a uma postura mais eman-cipatria. Da a importncia de se realizar esta an-lise, a fim de avaliar criticamente o trabalho em-preendido, o qual envolve a msica e outras lingua-gens artsticas com populaes de baixa renda, emum contexto sociocultural especfico. Entende-seque a experincia vivida por essas meninas na oficinade percusso foi redimensionada a partir da oficinade construo do espetculo, e novamente (re)signi-ficada na construo do vdeo sobre toda a expe-rincia. Ou seja, a experincia vivida por elas torna--se material de elaborao para novas experincias.
Sob esta tica, cabe perguntar se, de fato,as objetivaes criativas no campo supracitado, eseus sentidos para as meninas que as produzem,fazem-se traduzir em uma orientao mais humano--genrica, reconhecendo seu produto no contextoda humanizao.
Acredita-se que esta pesquisa-intervenono alcana objetivos to complexos. No obstante,o produto que dela deriva sempre coletivo e, sobesta tica, cumpre necessariamente uma funosocial.
A experincia afetou intensamente grandeparte da equipe de pesquisa. Os pesquisadores, aomesmo tempo que mediaram da apropriao denovos saberes, viram-se na experincia modificandoseus propsitos e horizontes. Foram constitudos pormltiplas vozes, que se entrelaaram s vozes das
meninas nessa grande experincia, transformando--os como sujeitos e apontando para novos devires.
Esta experincia de pesquisa coloca, peranteo investigador, um produto dialgico e ideolgicoao mesmo tempo. Os resultados da investigao eo entrelaamento terico que a envolve se faz porum embate de vozes sociais que se compem e seobjetivam em uma pea que ora se apresenta aqui,na forma deste artigo. Ao mesmo tempo, nessejogo de foras toda palavra proferida apresenta suacondio ideolgica, pois est para um outro comoum signo, sempre e necessariamente posicionadoem relao a um leitor pressuposto e ao prpriofoco do discurso (Groff, Maheirie, & Zanella, 2010,p.99).
Recriando e transformando sujeitos e con-textos, esta investigao acerca dos processos decriao traz sentidos em torno da experincia decriar que no se localizam no discurso das meninasnem na fala dos pesquisadores, mas no enlace daproduo discursiva que se fez em ato no contextoda investigao. Assim, este trabalho aponta algunspossveis sentidos dos fragmentos da experinciafocada e alguns possveis desdobramentos, os quaistalvez ocupem espaos que hoje esto fora do que
a imaginao pode alcanar.
Referncias
Groff, A. R., Maheirie, K., & Zanella, A. V. (2010). Consti-tuio do(a) pesquisador(a) em cincias humanas.Arquivos Brasileiros de Psicologia, 62(1), 97-103.
Maheirie, K. (2001) Msica popular, estilo esttico e iden-tidade coletiva. Revista Psicologia Poltica, 2(3), 39-54.
Maheirie, K. (2003) Processo de criao no fazer musical:uma objetivao da subjetividade, a partir dos tra-balhos de Sartre e Vygotsky. Psicologia em Estudo,8(2), 147-153.
Maheirie, K., Strappazzon, A., Barreto, F. R., Lazarotto,G., Zonta, G. A., Soares, L. S., , Schoeffel, S. A.(2008). (Re)composio musical e processos de subje-tivao entre jovens de periferia. Arquivos Brasileirosde Psicologia, 60, 187-197.
Morato, E. M. (2000). Vigotski e a perspectiva enunciativada relao entre linguagem, cognio e mundo social.Educao & Sociedade, 21(71), 149-165.
Pino, A. (2000). O Social e o cultural no obra de Lev S.Vigotski. Educao & Sociedade, 21(71), 45-78.
Pino, A. (2006). A produo imaginria e a formao dosentido esttico: reflexes teis para uma educaohumana. Pr-Posies, 17(2-50), 47-69.
-
61
IMA
GIN
A
O
NA
PERSPECTIVA
HIST
RICO
CU
LTURA
L
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
Rivire, A. (1985). La Psicologia de Vygotsky. Madri: VisorDistribuiciones.
Sartre, J. P. (1996). O imaginrio. So Paulo: tica. (Pu-blicado originalmente em 1936).
Vigotski, L. S. (1983). Historia del desarrollo delasfunciones psquicas superiores. In: Obras escogidas III.Madrid: Visor Distribuiciones. (Publicado originalmenteem 1931).
Vigotski, L. S. (2009). Imaginao e criao na infncia:ensaio psicolgico: apresentao e comentrios deA. L. Smolka. So Paulo: tica. (Publicado original-mente en 1930).
Vigotski, L. S. (1992). Pensamiento y palabra. In Obrasescogidas II. Madri: Visor Distribuiciones. (Publicadooriginalmente en 1934).
Vigotski, L. S. (1998). Psicologia da arte. So Paulo: Mar-tins Fontes. (Publicado originalmente em 1925).
Zanella, A. V. (2001) .Vigotski: contexto, contribuies psicologia e o conceito de zona de desenvolvimentoproximal. Itaja: Univali.
Recebido: setembro 28, 2012Verso final: abril 1, 2014Aprovado: abril 23, 2014
-
62
K. M
AH
EIRIE et al.
Estudos de Psicologia I Campinas I 32(1) I 49-61 I janeiro - maro 2015
/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck true /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (Qualquer texto) /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False
/Description >>> setdistillerparams> setpagedevice