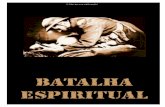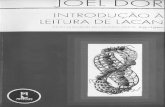Introdução à Leitura Espiritual
-
Upload
frei-hermogenes-harada -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Introdução à Leitura Espiritual
Leitura espiritual
PAGE 9
Introduo Leitura espiritual, hojeAlgo sobre leitura e espiritual
1. Leitura espiritual uma das atividades recomendadas para o fomento da vida espiritual. Trata-se na leitura espiritual primeiramente de leitura, que tem o carter de ser espiritual.
2. Leitura uma das atividades exercidas e exercitadas pelo ser humano como manifestao do seu esprito. Usualmente o que lemos recebe o nome de livro.
3. Na era da computao, fala-se muito de que o livro tem vida j contada, pois vai ser substitudo pelo computador. Independente de se isso vai acontecer ou no, de inter-esse observar que o modo de ser do livro e da sua leitura, tem propriedade especfica dele, de tal sorte que, quem consegue ver essa especificidade sempre apreciar a leitura do livro e, embora seja inteiramente afeioado tcnica da computao, no ir substituir simplesmente, como se fossem coisas iguais, a experincia da leitura de um livro pela leitura de um texto do computador.
4. Existem livros escritos sobre uma poro de coisas. Os livros que foram escritos sobre uma coisa, mesmo que essa coisa se chame esprito no so espirituais. Pois, escrever ou falar sobre uma coisa, e correspondentemente ler ou ouvir sobre, tem um modo de ser todo prprio, que diferente do modo de ser do escrever, falar, ler ou ouvir espiritualmente. 5. No caso do escrever ou falar, ler ou ouvir sobre no se tem propriamente o modo de ser do encontro, mas sim um modo de colocar a coisa sob o ponto de vista do projeto do meu interesse. Por isso a primeira coisa que me toca ali o horizonte, a perspectiva a partir e dentro da qual olhamos para uma coisa, sobre uma coisa, ordenando-a, ajeitando-a, submetendo-a ao meu ponto de vista. Esse modo de ordenar, de encaixar a realidade perspectiva do ponto de vista, se chama modo de ser objectivo.6. Muitas vezes usamos os termos objetividade e objetivo para indicar realidade e real. Essa identificao da objetividade com a realidade e do objetivo com o real no possui a preciso crtica. Assim, o real no igual ao objetivo; a realidade no igual objetividade. Objetividade, objetivo, objeto; realidade, real, res (latim = coisa) so categorias usadas a partir de duas situaes de todo prprias do sentido do ser que decide a epocalidade das pocas denominadas na histria da humanidade de Modernidade e Antigidade.7. Se mantivermos com preciso a distino acima feita entre objetividade e realidade, no mais estranhamos quando dizemos que a objetividade, o objetivo, o objeto o que aparece na perspectiva do enfoque da subjetividade.8. Subjetividade indica, no este ou aquele sujeito, este ou aquele grupo de sujeitos, mas sim o modo como um determinado sentido do ser vem fala, compreendendo o ser humano como ser sujeito e agente de suas aes e estas como interpelaes produtivas, e a realidade como o conjunto de produtos (pro-jectos) das atuaes do agenciamento do perfazer-se desse ser sujeito nessas interpelaes produtivas.9. Realidade indica, no esta ou aquela coisa (res em latim), este ou aquele grupo de coisas, mas sim o modo como um determinado sentido do ser vem fala, compreendendo o ser humano como uma das intensidades de ser substncia, cujo ser entendido como um em si, por e para si. Aqui, a realidade e suas coisas no so produtos da interpelao projetiva do inter-esse do sujeito e agente homem, mas sim vigncia do ser que se realiza em diferentes nveis e densidades da sua presena como ordens e esferas das entidades ou coisidades. 10. Aqui observamos que o como do falar, escrever e ler da subjetividade sobre objeto. O como do falar escrever e ler da realidade o em participando da vigncia do ser em diferentes nveis da sua densidade como substncia.11. Nessa diferena do modo de ser epocal, tanto da Antigidade como da Modernidade, surge sempre a questo, entre essas duas totalidades h ligao, continuidade, ruptura ou complementao? H entre elas algo de comum, geral? Se no houver, como podemos ns, hodiernos, ler um livro da Antigidade? 12. Na realidade, essa uma questo dificlima de ser respondida adequadamente, a partir das impostaes que fazemos com nossas problemticas. Mas, em todo o caso, percebemos que no fundo do modo de ser do todo chamado subjetividade (falar, escrever e ler sobre) e realidade (falar, escrever e ler conascendo) h um fundo anterior, algo no dito, oculto qual abismo do no saber insondvel e sem fundo. Com outras palavras, ambas as colocaes epocais, no fundo partem do retraimento de onde, a partir de que e de que coisa?13. Estar aberto a essa questo, a essa busca, no por curiosidade de que tipo for, mas sob o toque de uma profunda afeio e necessidade de uma vida Severina de encontro o que a grande tradio do Ocidente denominou de Esprito ou espiritual.14. Seja quem for, analfabeto ou letrado, criana ou adulto, so ou enfermo, santo ou pecador, cada qual como ele facticamente, se quer fazer uma leitura espiritual necessrio que ele o faa a partir e dentro dessa aberta, dentro e a partir dessa nuvem do no saber.
15. Essa leitura a partir da nuvem do no saber como se a prpria coisa escrevesse, falasse, lesse ou ouvisse acerca de si mesma a partir de si. E isso com suas prprias palavras, sem querer se encaixar em nenhum ponto de vista que no seja a prpria coisa ela mesma. Aqui toda a ateno e todo o cuidado devem estar concentrados em deixar ser, dar espao livre para que a coisa ela mesma aparea a partir dela, nela mesma, vontade. Aqui o eu que escreve, fala, l ou ouve no sujeito e agente de uma ao interpretativa, projetiva, impositiva de condio para a coisa aparecer (cf. o primeiro modo de escrever, falar, ler e ouvir sobre) mas pura e lmpida abertura de recepo cordial e afinada ao surgir, crescer e se consumar da coisa ela mesma, ser como que caixa de ressonncia da coisa ela mesma.
16. Esse modo de ser do espao aberto ressonncia da coisa ela mesma o que se denomina muitas vezes de ver simples e imediato na disposio de abertura ao encontro. Mas, como na nossa maneira usual de entender, fixamos o ver como julgar ou lanar perspectivas, em vez de ver, auscultar, ouvir atentamente, talvez fosse melhor dizer esperar o inesperado. Esse ver simples e imediato, esse auscultar, esse ouvir no passividade. Pelo contrrio, trata-se da mxima ateno plena de acolhimento, o grau mais alto e denso do conhecimento, entendido como conascimento (em francs conhecer con-natre, conascer). Esse modo de ser de acolhimento se diz em grego antigo lgein, donde vem a palavra Logos, que se traduz geral e usualmente por conversa, discurso, pensamento, esprito, razo, mas cuja traduo mais originria seria talvez acolhida, colheita. Por isso os gregos antigos definiam o ser humano como sendo o vivente, o nimo, como coragem de ser atinente e pertencente ao Lgos (T zon lgon chon). E essa definio foi ento traduzida para a lngua latina e ficou animal rationale que em portugus : homem animal racional. Mas essa definio entendida de modo inteiramente inadequado, quando se interpreta a palavra animal como bicho, bruto e racional como racionalista, cerebral. Animal, na definio clssica do homem, significa coragem criativa de ser, o nimo vivo; racional, referido ao Logos, plena ateno de colheita do ser, de acolhida da coisa ela mesma.
17. Quando usamos a expresso leitura espiritual, podemos entender o adjetivo espiritual de diversos modos. Podemos entender o espiritual como indicando o objeto da leitura. Por exemplo, posso classificar um objeto como pertencente classe dos objetos do esprito, por exemplo, votos religiosos, virtudes, Deus, anjos, alma, encontro, amor; classe dos objetos fsico-naturais (da natureza), por exemplo, pedra, animais, plantas; dos objetos da cultura, por exemplo, obras de arte, monumentos etc. 18. Quando a leitura classificada conforme o seu objeto, ento, temos o modo de ler, descrito l em cima como leitura sobre. E assim podemos denominar esse tipo de leitura sobre de leitura historiogrfica, leitura psicolgica, leitura sociolgica, leitura prtica, tcnica, leitura literria, esttica, religiosa, moralizante, fundamentalista, espiritual, espiritualista etc. 19. Mas na expresso leitura espiritual o adjetivo espiritual pode no estar se referindo ao objeto, mas leitura. Nesse caso leitura espiritual significa ler espiritualmente. E se a gente pergunta: qual exatamente esse modo todo prprio de ler espiritualmente, a gente agora pode responder: exatamente aquele modo de ler, de colher, de receber, vivo e cordial, grande e profundo, infinitesimalmente diferenciado que est exposto acima nos ns. 13, 14, 15 e 16. Aqui a abertura ao encontro no deve ser confundida com o olhar sem mais nem menos imediatista, conforme o uso padronizado dos nossos ajuizados, pr-conceitos ou opinies. O ver simples e imediato na disposio de abertura ao encontro a evidncia que se d no fundo de nossa alma, e na maioria dos casos est entulhada por outros tipos de saber que no possui esse carter de limpidez e imediatez do nimo e da prontido pura. Por isso, deve-se trabalhar duramente para que esse entulho seja afastado e que aparea com todo o esplendor e pureza a clarividncia de fundo da alma.
20. Essa nossa reunio se chama encontro e no tanto curso. Pois no curso se acumulam informaes e saberes sobre objetos do tema das nossas reflexes. Chama-se encontro pois em tudo que fazemos na reunio no fazemos outra coisa do que exercitar-nos em verde modo simples e imediato, na disposio de abertura ao encontro. Em nos exercitando longa, tenaz e cordialmente nessa disposio, aos poucos nos vamos abrindo para a recepo agraciada do que a grande tradio do cristianismo chamou de Esprito do Evangelho. E o Esprito do Evangelho o sopro vital da espiritualidade crist, a Vida Espiritual.
21. O nosso modo de compreender usualmente a ns mesmos e os nossos atos est bastante defasado. Por isso, quando nos reunimos e nos concentramos para um perodo de leitura de fontes, comeamos a ter dificuldades, antes nunca sentidas. que o nosso modo de estudar, aprender de se informar sobre as coisas e entend-las conforme parmetro e tabela de programao que temos na nossa mente. Ler e pensar e descobrir o que est sendo dito ali ns quase nunca fazemos. Porque rarssimas vezes exercitamos o pensar, sem perceber, vivemos desde h muito tempo numa inrcia e preguia mental muito grande. A nossa no compreenso vem dessa inrcia, e no tanto porque somos analfabetos, no estudados. Quando comeamos a leitura espiritual e nos exercitarmos com maior volume e intensidade, vamos sofrer muita frustrao e tdio e a inrcia da nossa mente. Vamos sub-portar, sustentar com boa disposio esse tipo de dificuldade e sofrimento. Sem passar por esse tirocnio, no podemos ser espirituais. Quando eu descubro uma defasagem dentro de mim, no devo me satisfazer em corrigir somente essa defasagem.
22. Para que a leitura espiritual possa ser feita adequadamente, hoje, e no permanea apenas uma leitura espiritualista, da qual pode vir muito consolo e vivncias emocionais, sem transformao da nossa existncia, necessrio redescobrir e retomar a dimenso onde direta e imediatamente se d o espiritual e o esprito, e ento exercitar-se longa e tenazmente nessa rea. Para essa retomada e redescoberta, til e necessrio entender at certo ponto bem, com preciso, a nossa implicao com o saber cientfico e o saber usual. Por isso, vamos rapidamente refletir sobre esse tema.Algo sobre o saber cientfico e o saber usual
23. Muitas de nossas questes, perguntas e respostas podem ser ambguas. Ambguo diferente de equvoco. Este ltimo se d quando a pergunta no atinge a questo, dela est inteiramente por fora, est de todo enganada. Resposta questo equvoca no complicada, pois basta mostrar que a pergunta est por fora da questo. Pergunta ambgua quando nela esto implcitas, digamos, empacotadas vrias perguntas, de diferentes pressuposies, com diferentes nveis de compreenso. E, em geral, esse empacotamento no percebido, tanto por quem pergunta como por quem quer responder. H ambigidade no sentido lato e estrito. No sentido lato quando a simultaneidade significativa vem do empacotamento de significaes diversas, num nico termo, por exemplo, o termo entre pode significar: pode entrar e tambm o permeio existente entre duas coisas. O nosso professor de ingls nos contou que havia uma pessoa que queria mostrar que sabia ingls. Assim, quando algum bateu porta, gritou: between! Ambigidade, em sentido estrito, temos quando o sentido de um termo ou de uma frase nos evoca uma realidade, cujo modo de ser contm em si profundidade e densidade de ser que no se deixa explicitar num ou mais termos.
24. H usualmente confuso de compreenso mtua, quando se discute, mormente, entre pessoas estudadas e especializadas. Isto porque cada qual fala e escuta a partir de pressuposies de sua prpria disciplina, na qual especialista.
25. Nessa questo a maioria de ns pensa mais ou menos o seguinte:a) Certamente, existem colocaes e perspectivas que vm da especializao. A especializao tem a sua terminologia, a sua linguagem prpria. Assim, a fala especializada das disciplinas de especializao tem a sua lngua prpria. Por isso, a economia tem o seu economs. A filosofia tem o seu filosofs. E assim adiante: matemats, sociologus, psicologus, pedagogus, teologus etc. b) Mas para alm ou por cima de todos esses especializs h a fala geral, comum, compreensvel a todos que falam a mesma lngua. Por exemplo, termos como nmero, globo terrestre, pensamento, idias, Deus, homem, cachorro, cachorro-quente, quente de mais, tomo, molcula, clula, celular, trnsito, lei de trnsito, multa, guarda de trnsito caolho, papa, Igreja Catlica, a espiritualidade franciscana, o Colgio Bom Jesus etc. etc., todo mundo entende. Para compreender todos esses termos a gente no precisa ser especialista, nem fazer um curso especializado. Basta o uso cotidiano. Mas a que nos enganamos redondamente.
26. Em nossas reflexes, distinguimos duas grandes reas da compreenso da realidade que denominamos compreenso cientfica da realidade e compreenso pr-predicativa ou pr-cientfica da realidade. Aqui, podemos relacionar o que acima falamos h pouco no n. 25 b) a respeito da compreenso pr-cientfica da realidade. Essa compreenso o que est na linguagem comum, usual do cotidiano, e entendida por todos, pensamos ns. E h pouco dissemos: Para entender todos esses termos a gente no precisa ser especialista, nem fazer um curso especializado. Basta o uso cotidiano.
27. Aqui reside uma grande ambigidade, a qual, se no for esclarecida, nos leva equivocao. o seguinte: O que de imediato experimentamos como realidade pr-cientfica e sua compreenso e identificamos com a vida usual, comum, cotidiana de toda a gente, de todo mundo na realidade um abismo insondvel e inesgotvel da possibilidade de ser que na perplexidade diante de sua imensido, profundidade e abissalidade denominamos de Vida, Ser. Ns nos movemos, vivemos e somos a partir da Vida e nela, a partir do Ser e nele. Vida e/ou Ser nos antecede, nos abrange, nos impregna, nos compreende; mas a partir de ns no o compreendemos, pois nele, com ele, a partir dele que tudo compreendemos, tudo somos, a tudo pertencemos. O que sabemos, o que compreendemos, o que fazemos, desejamos e podemos, em resumo, o que somos, in-stante da entoao desse abismo da possibilidade de ser. A nossa percepo desse nosso situar-se a partir e na Vida, capta a Vida e/ou o Ser como Nada (Abismo), Escurido, Simples Fato de ocorrer, Algo que sempre de novo nos escapa e se nos retrai. O que o ser humano no fundo dele mesmo ser percepo desse abismo da possibilidade de ser, chamado Vida e/ou Ser, ser percutido pelo toque desse abismo e repercutir como ecloso cada vez nova de um mundo. Essa disposio de ser passagem da possibilidade para a realizao, cada vez como surgir, crescer e consumar-se de um mundo, os gregos a denominavam de psych; e a possibilidade ou a dinmica de receber o toque do abismo insondvel da possibilidade insondvel de ser e se adentrar nesse abismo, i., nele se abismar, de nus: e a concreatividade de conascer e se constituir como mundo e ser-no-mundo, de lgos. Mais tarde psych foi posicionada como alma; nus como esprito e lgos como razo.
28. Tudo quanto vem fala e vem a si e se constitui como entonao do abismo, uma vez surgido do abismo, se constitui como mundo, se estabelece como uma realizao da realidade e se firma como posio ou pr-suposio.
29. Pr-suposio assim se firma e se coisi-fica como fundamento, como base de todo um sistema de explicitao do que ali jaz contido como fundo do fundamento. As cincias positivas erguem o seu edifcio a partir e sobre tais pr-suposies ou fundamentos coisificados. O nosso saber pr-cientfico, parte de tais posies das cincias, as aprofunda, as des-constri, afundando-as para dentro do abismo insondvel e inesgotvel da possibilidade de ser.30. H vrias modalidades de adentrar-se na pais-agem dessa dimenso-matriz pr-cientfico, que algum como Antoine de Saint-Exupry chama de Terra dos Homens. S que, a partir do saber cientfico, essa dimenso-matriz pr-cientfica somente aparece raiz de suas pressuposies fundamentais como terra inculta, ainda no suficientemente evoluda, dimenso irracional, popular, mtico, metafsico, como nuvens do no-saber.
31. somente quando a existncia humana adentra o toque desse no-saber que comea a habitar a Terra dos homens. A coragem de ser luz das nuvens do no-saber, da assim denominada douta ignorncia, i. , de ser psych, nus e logos, era chamada pelos gregos de virtude dia-notica.
A virtude dianotica e o no saber
32. Dizendo-o assim de modo banal, virtude dia-notica a virtude intelectual. Usamos o termo grego, porque a autocompreenso do termo intelectual, hoje, est bastante defasada. Mas para compreender com preciso o que dianotico, comecemos com essa compreenso banal usual para ir aos poucos adequando a nossa compreenso dinmica dianotica.33. Virtude dia-notica o que usualmente denominamos de vigor, fora da inteligncia.
34. Vigor, fora da inteligncia algo de grande importncia para uma instituio, cuja misso ensino, aprendizagem, pesquisa e investigao. Por isso, a nossa pr-compreenso ou pr-conceito do que seja vigor ou fora e inteligncia no nos pode ser indiferente, neutro e bvio-geral. Todo o ingrediente de dogmatismo, por menor que seja, aqui nesse ponto, pode se tornar fatal para o ser do progresso e desenvolvimento humano, conforme o que observa Sto. Toms de Aquino no seu famoso opsculo De ente e essncia, a saber, que um pequeno erro no incio se torna um grande no fim (cf. citao direta).
35. O pequeno erro, que no fim se torna grande, no nosso caso, consiste em que, para ns, a compreenso do que seja a excelncia do vigor da inteligncia est se tornando uniforme, bitolada e unidimensional. E esclarece-se isso, tomando as cincias positivas como modelo do saber verdadeiro (certo, seguro), e, mormente, a modo de cincias naturais. Verdadeiro, a saber, assegurado, certo, objetivo, portanto real. 36. Essa unilateralidade fez com que considerssemos um tipo de racionalidade como critrio de cientificidade e racionalidade como tal; reduzindo todo outro modo de saber e conhecer ao reino do saber subjetivo, vivencial, instintivo-espontneo irracional. Com isso, a compreenso do que seja vigor da inteligncia se tornou defasada, e assim, comeou a proliferar e a se exacerbar a cultura toda prpria, astnica, do racionalismo e espiritualismo e sentimentalismo esteticista.
37. Com isso, o que a grande Tradio do Ocidente denominou e experimentou como psych alma, nus esprito, lgos razo foi reduzido energia bio-neuro-fsica; e as trs grandes fontes e vigncias da criatividade humana, a saber, crer (religio), poetar (arte) e pensar (filosofia), se defasaram como espiritualismo, esteticismo e cientificismo.38. Vivemos, nos movemos e somos numa grande entropia do esprito (psych, nus, logos). Essa entropia epocal chamada muitas vezes de esquecimento; ou tambm de ocultamento, ou mesmo de retraimento.39. Esquecimento, ocultamento, retraimento do esprito epocal, marca a nossa poca, aponta para a nossa poca, como sinal dos tempos.
40. Na histria da humanidade, o que marca de modo decisivo e fundamental a inovao e a transformao do seu destinar-se, chama-se epocal. A palavra epocal vem do grego epoch que significa parada, suspenso a modo da conteno de um movimento ou impulso. O verbo do qual vem a epoch epchein, que por sua vez significa ter, manter, colocar sobre; segurar, estendendo em direo a; alcana, estacionar, ter uma estncia, demorar; parar, impedir, manter-se contido, conter-se, hesitar; estender-se sobre, expandir, avanar sobre; ater-se a, assumir, tomar conta de. Todas essas significaes, alis, afins entre si, se referem de alguma forma a momentos, aspectos da suspenso contida na tenso do ponto de salto, no instante da ecloso do novo mundo. nesse instante que se d a deciso criativa do todo que se deslancha como real possibilidade do que permanece de prprio do novo mundo. dessa suspenso dinmica de concentrao que surge, cresce e se consuma a nova possibilidade radicalmente outra, mas longamente preparada silenciosamente no subterrneo da poca anterior. Esse concentrar-se no ponto de salto e o incio do novo mundo, no entanto, se d na atualidade presente, no, porm, na superfcie do tempo atual, onde o pblico e a sociedade esto tomados de anseios, inquietaes, confuses acerca dos temas fundamentais da vida, ameaados por infindas crises, convulses, guerras, e-verses de costumes, de moral, por consumismo e perda de identidade humana; mas bem retrado da publicidade, bem no fundo do subterrneo do tempo presente na tenaz e silenciosa labuta do pensar.41. Esse modo de ser do Historiar-se da Humanidade chamada epoch, poca, epocal se caracteriza como tempo de ambigidade, que interpretada como confuso, equivocao. Uma dessas ambigidades epocais que acontecem na instituio do saber, aprendizagem, pesquisa, portanto, na escola, na formao humana em referncia relao entre as disciplinas do ensino. A seguir, vamos dar um exemplo dessa equivocao que no fundo ambigidade epocal.42. O exemplo trata da relao entre cincia chamada cincias positivas e cincia chamada filosofia. Assim, muitas vezes circula certo equvoco na compreenso da contribuio da filosofia s cincias positivas. E isto, no meio de ns todos, tanto na compreenso usual da nossa vida cotidiana, nos seus afazeres, como tambm, na compreenso acadmica, especializada, principalmente quando o especialista mais funcionrio e usurio do status quo do saber padronizado, oficializado, do que algum doado busca da verdade em si e como tal. E isso vale, mormente, para a prpria filosofia. O equvoco consiste em se representar a contribuio da filosofia como fundamentao positiva do saber das cincias positivas. que filosofia, no seu ser, no um saber positivo, nem positivamente sua fundamentao. Num sentido todo prprio, para ser determinado mais adiante, a filosofia mais afunda do que fundamenta, mais nadifica do que positiva. Talvez nesse sentido que Nietzsche diz do filsofo no aforismo ..: Um burro, pode ele ser trgico( Carregar um peso que no pode suportar, nem lan-lo para fora de si (Nietzsche, Gtzen-Dmmerung).43. Tentemos precisar bem em que consiste esse mais afundar do que fundamentar; mais nadificar do que positivar.
Fundamentar significa dar um fundamento, uma base, algo como uma laje firme e fixa. Afundar significa afundar, ir a pique. Aqui no ir a pique, afundar, devemos evitar de representar esse movimento de afundar como assentar-se na base fixa, no fundamento, mas sim perder-se no abismo insondvel e inesgotvel, sem fundo. Quando dizemos aqui sem fundo, necessrio cuidar para no fixar a representao do espao vazio. Pois, com abismo insondvel e inesgotvel, sem fundo no se est apenas dizendo a negao da base e fundamento a modo de fixao, mas est-se acenando para a plenitude toda prpria, inteiramente simples, total nica e una, a qual na perplexidade diante da impossibilidade de diz-lo, dizemos Ser, Nada, Vida. Mas, em assim o dizendo, na perplexidade e impossibilidade de dizer, poder, querer, fazer e ser essa plenitude, ela se nos desvela, e nesse desvelar-se se retrai como ab-ismo (ab-imo) prximo de ns, mais prximo de ns do que ns a ns mesmos, nos impregna em todas as fibras das articulaes de tudo que somos e de tudo que no somos ns mesmos.
Essa plenitude toda prpria, dita Ser, Nada Vida, novamente, no deve ser representada como algo mstico, uma divindade, um vazio csmico, um ente supremo transcendente, metafsico, ou um emprico fsico matemtico, mas como o no-saber, pr-sente, ora como trans-parncia do bvio e-vidente, sereno e imperceptvel, ora como escurido opaca e impenetrvel, qual paredo da ignorncia, ora como enigmtica profundidade insondvel, em suma, como a amplido, fundura e dureza da factualidade presente em toda parte como o a-priori realidade.
Certamente, talvez fosse til, aqui, recordar novamente a necessidade de precauo em no confundir esse a-priori realidade com o catico e irracional. Isso porque esse pr-vio do a-priori realidade anterior ao modo como aparece, pois ele no algo que aparece saindo por de trs ou do fundo de outro algo que ali est ou aparece, mas a pr-sena retrada que tudo impregna como em-toao de tudo quanto e no . Assim o qu assim tudo impregna e tudo envolve, na preciso da sua diferena que constitui a sua identidade, no um outro ente do que o ente a que impregna e envolve, mas o ente ele mesmo, sua vigncia, seu ser, sua essncia, enquanto ente, quer dizer, em sendo. Aqui, o saber isso, ou disso, o conhecer no outra coisa do que contato imediato e simples, corpo a corpo, de corpo e alma, pele a pele em sendo.O verbo ser, o , no ativo nem passivo, no tem contedo, e segundo Kant, pura posio. S que quando ns dizemos hoje, pura posio, passamos por cima da palavra pura e pensamos: aqui se trata da ao pura, macia, densa e volumosa de pr, colocar, posicionar algo. Com isso pura adquire a conotao de densidade, de volume, atribuda ao contedo, ao algo, a o qu do objeto posto. O pr compreendido a partir de o que posto. Assim, a posio no captada como pura posio, apenas posio, posio nua e crua, mas como euponhoobjeto (sujeito emprico). pureza da posio somente se faz jus se posio significa condio da possibilidade de posicionamento de algo como objeto pelo eu-sujeito. A pura posio est em todos os elementos que constituem o todo do sujeito emprico no como um dos elementos, a modo emprico, mas transcendendo a todos eles, no, porm, constituindo um algo superior, fora da srie, mas como que constituindo pregnncia, plenitude de ser onipresente em toda parte, l onde acontece o ente, ou o em sendo. Essa presena que no aparece, por no ser algo, mas tudo faz aparecer, qual espao livre de ressonncia, qual tonalidade das tonncias de todos os sons o a-priori realidade, acima insinuado, o abismo insondvel e inesgotvel, fundo sem fundo da possibilidade de ser. o no-saber, a escurido que se abre raiz de toda e qualquer posies e pressuposies, seja em que nvel e em que dimenso do ente se achar.
A assim chamada contribuio da filosofia s cincias positivas no consiste, portanto, em embasar as posies das cincias positivas numa posio mais vasta e profunda, visto ser considerada um saber mais profundo e mais fundamentando, mas em reconduzir primeiramente a si mesma, em todas as suas posies, e com isso tambm as pressuposies das cincias positivas, ao toque da percusso do abismo da possibilidade de ser que se recolhe raiz de toda e qualquer posio e pressuposio, como abertura ao no-saber, afinado ao abismo da plenitude insondvel e inesgotvel do nada ou da possibilidade de ser.
Por que um pequeno erro no princpio grande no fim, segundo o Filsofo no primeiro livro do Cu e do Mundo... (TOMS DE AQUINO, De ente et essentia, edio latim-alem, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1980, p.15).