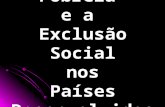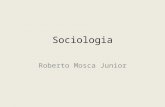Introdução Mochila Social: um olhar sobre desenvolvimento social e pobreza no leste da África
-
Upload
alex-fisberg -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of Introdução Mochila Social: um olhar sobre desenvolvimento social e pobreza no leste da África
Mochila Social
Um olhar sobre desenvolvimento social e pobreza no leste da África
Por Alex Fisberg
Este capítulo integra o livro Mochila Social – Para mais informações acesse: www.mochilasocial.com ou colabore em www.catarse.me/mochilasocial
Por Alex Fisberg (2012) O projeto gráfico é da Casa Rex www.casarex.com.br
20 21
dei a notícia. E foi somente no momento em que as palavras saíram
da minha boca que me dei conta da seriedade da proposta:
— Mãe... Pai... Então, ao invés de voltar para o Brasil em julho,
decidi que vou passar uns meses na África. Ainda não sei exata-
mente por quanto tempo ou qual o roteiro, mas se estou o tempo
inteiro tentando discutir desenvolvimento social e pobreza, nada
mais correto do que ir pra lá. Eu tenho bons contatos e uma boa
ideia do que quero fazer... Vou avisando vocês.
— Filho, você inventa cada uma...
E foi a partir daí que, em maio de 2011, comecei a prepa-
rar minha viagem pela África Subsaariana, uma região com o
estigma da Pobreza estampado na cara. A verdade é que nunca
tive curiosidade de conhecer, em particular, algum país africano.
Também nunca pensei que um dia chegaria à África, e jamais ima-
ginei uma experiência como essa que vou relatar neste livro.
Em setembro de 2010 eu estava no aeroporto. Naquele mo-
mento, as lágrimas de meus pais caíam em função da minha viagem
para Israel com o objetivo de fazer um treinamento de três sema-
nas e, de lá, seguiria para um trabalho de médio prazo na Índia.
As minhas escorreram somente depois de passar pela segurança e
entender o que estava deixando para trás por conta dessa teimosia.
Mas, mesmo inseguro, no fundo eu sabia que não era teimosia.
Nos últimos anos estive envolvido até o pescoço com a área social,
mas como nunca consegui ter clareza do que isso de fato significava,
resolvi explorar outras realidades e tentar extrair novas experiên-
cias que pudessem contribuir com meu trabalho no Brasil.
Em outubro de 2010 cheguei à Índia. Talvez com o mesmo
pensamento, talvez por acreditar em certas semelhanças com o
Brasil e o momento em que estamos passando no desenvolvimen-
to social em ambos os países. Passei mais de cinco meses traba-
lhando em três projetos diferentes para compreender que, mais do
que as semelhanças corriqueiramente ressaltadas, estamos vivendo
momentos bastante distintos. Principalmente, vivemos sob lógi-
cas diferentes, baseadas em tradições bem específicas em cada
país. Não acho correto colocar no mesmo patamar duas nações de
culturas tão diversas, sob a análise de apenas uma delas.
Morei a maior parte do tempo em Hyderabad, quarta maior
cidade e um dos polos tecnológicos da região sudeste da Índia.
Com herança do reinado da monarquia dos Nizams, a cidade é
uma exceção no país e possui 40% de sua população de religião is-
lâmica. Lá, pude explorar, no dia a dia, certa diversidade indiana,
mas também acabei me envolvendo com o cotidiano tradicional e
o estilo de vida da sociedade.
Minha atividade principal na Índia era acompanhar o ci-
clo migratório de trabalhadores semi-escravos que vinham de
FOI NUMA CONVERSA TRIVIAL PELO SKYPE QUE
22 23
estados do nordeste para o sudeste, junto à organização interna-
cional Aide Et Action – South Asia. Atraídos por falsas propostas
de trabalho ou muitas vezes sequestrados e traficados, esses ho-
mens eram obrigados a migrar com suas famílias e trabalhar para
pagar dívidas das quais nem sabiam que tinham. Suas famílias
eram então incorporadas ao trabalho e a uma rotina exploratória,
restando à organização da qual eu fazia parte apenas contribuir
com a educação das crianças presas ao ambiente de trabalho e
advogar por melhores condições de vida junto aos patrões.
Enquanto pesquisava, escrevia e produzia material so-
bre este ciclo migratório pouco retratado no país, acabei me
envolvendo com o setor de negócios sociais da Índia. Por meio
de um projeto britânico, chamado Ayllu Initiative, passei a
contribuir no mapeamento de iniciativas consideradas sociais
que são desenvolvidas em toda a Índia. Com isso, surgiram
diversas oportunidades de aprender soluções simples, com viés
comercial, para erradicação da pobreza e melhoria da qualidade
de vida das pessoas. Uma das iniciativas que mais me impressionou
foi um filtro de água em forma de canudo, de U$ 5,00, daqueles que
garantem 99.99% de pureza para qualquer tipo de água (contanto
que não contaminada por produtos químicos).
Também conheci organizações cujo papel resumia-se a ofe-
recer microcrédito em regiões sem acesso aos mercados conven-
cionais, uma empresa de design de Rickshaws voltada ao público
de baixíssima renda e um sistema de gerenciamento de ambulân-
cias e serviços médicos computadorizados à distância. Todas estas
vivências serviram para que eu pudesse mergulhar de cabeça no
tema do desenvolvimento social e da pobreza, sob um novo olhar.
Meu último mês na Índia foi uma imersão na pobreza de Mumbai,
cidade tão intensa e complexa que é, ao mesmo tempo, similar e
completamente distinta da minha cidade natal São Paulo.
Intrigavam-me as linhas do trem e as conexões entre o luxo
extravagante e a miséria das favelas de Mumbai. Em menos de 15
minutos, é possível percorrer a distância entre a estação de trem
próxima à casa do magnata das telecomunicações Mukesh Ambani,
avaliada em mais de 1 bilhão de dólares, e chegar tranquilamente
em Dharavi, considerada a maior favela da Ásia, com estimativa
de mais de um milhão de moradores. Antilla, como é conhecida a
“humilde” moradia do empresário Ambani, dono da Relliance, é
um bom exemplo das distorções sociais que existem na Índia.
Como continuação de um programa de fellowship, mu-
dei-me para Israel. Agora eu trabalharia para uma agência de
desenvolvimento social do governo israelense cujo principal
propósito era o intercâmbio de conhecimento e tecnologia en-
tre esse país e o mundo em desenvolvimento. Exatamente o
que eu estava procurando extrair de Israel. No Weitz Center
for Development Studies tive a oportunidade de conhecer me-
lhor a cultura israelense, um país relativamente jovem, porém
imerso em história milenar.
Se Israel e a região do Oriente Médio são conhecidos por
seus conflitos étnico-religiosos, isto é uma questão de escolha
e direcionamento de alguns. Há tanto assunto na área do de-
senvolvimento social como há no conflito entre israelenses e
palestinos. E na minha escolha, priorizei os avanços no desen-
volvimento e nas possibilidades de mudança social que a troca
de experiências oferece em benefício da população e deixei em
segundo plano os aspectos negativos da guerra. Claro, não pude
evitar o envolvimento com diferentes organizações de direitos
humanos que tentam resolver o conflito a seu modo, mas me en-
volvi principalmente com o cenário de desenvolvimento público
orientado pelo Estado de Israel.
Participei também de uma viagem de 5 dias pela Jordânia, rea-
lizando encontros e conversas com várias organizações não governa-
mentais e agências do governo atuantes no setor social. De pequenas
iniciativas locais até organizações de escopo global, pude conhecer
um pouco mais sobre um país tão próximo e tão diferente do Brasil.
24 25
Porém, foi trabalhando com pesquisa em Israel que come-
cei a plantar as sementes que me levariam, ainda que ao acaso,
para o leste africano. Uma das especialidades do meu chefe,
Yossi Offer, era o desenvolvimento local. Como elaborar estra-
tégias complexas para incentivar o crescimento de uma região
nos aspectos sociais, culturais e econômicos. É impressionante o
quanto é possível aprender com a simples proposta de mudança de
olhar: de uma observação atenta às necessidades para um planeja-
mento voltado aos recursos já existentes em cada região.
A fórmula é simples: ao invés de abordar uma região ba-
seada principalmente nos problemas e necessidades existentes,
propõem-se analisar quais são os recursos e ativos já existentes no
local e que podem ser catalisados e desenvolvidos para a melhoria
das condições de vida de quem já esta por ali. Organizamos um
curso de desenvolvimento e melhoria de favelas e bairros po-
bres em parceria com a UN-Habitat, voltado exclusivamente
para gestores públicos e atores sociais da África, Ásia e leste
europeu. Com isso, não preciso nem dizer que a minha rede de
contatos no continente africano aumentou consideravelmente.
Com a data de retorno previsto ao Brasil se aproximando,
resolvi que era a hora certa de tomar a decisão e planejar o que
pudesse ser planejado. Sabia o que queria fazer, porém, tinha
uma ideia limitada de quanto tempo e dinheiro ainda teria dis-
ponível, mas precisava de uma justificativa: para mim, para meus
pais e para a expansão da viagem não planejada. Comecei então
a escrever. Naquele momento, ainda compartilhava de maneira
ingênua a visão em bloco de um continente-país. Minha motiva-
ção era bastante simples: se eu estava interessado, estudando e
tentando me aproximar de experiências nas mais variadas formas
de desenvolvimento social e pobreza, o continente estigmatizado
pelo tema teria que fazer parte do meu itinerário. E assim foi.
Depois de algumas rápidas pesquisas, decidi ir ao chamado
Chifre da África. Por quê? Porque já havia ouvido falar através de
algumas notícias que, de tempos em tempos, são divulgadas nos
meios de comunicação. Esse era, até então, o meu imaginário daqui-
lo que seria a África como um todo. Não achei que fosse correto ir
apenas para um país e basear toda a minha experiência no continen-
te levando em conta somente uma visão. Assim, no mapa, fiz um
trajeto com canetinha1 passando por alguns países dessa região,
um pouco baseado na pesquisa prévia, um pouco pensando nos
contatos que eu já possuía e muito pela beleza estética do roteiro
quase circular que eu desenhava.
Sabia da existência de algumas dificuldades técnicas para
viajar por aquela região. Afinal, a África subsaariana é cercada
por histórias sombrias de países cujos acontecimentos internos
são um mistério, como Somália, Sudão e Congo. Mas no mapa, o
contorno em volta do Lago Victoria começando da Etiópia e ter-
minando na Tanzânia soava como uma opção muito óbvia. E o es-
tigma de pobreza da região me atraía, não por puro vouyerismo,
mas pela oportunidade de desconstrução de uma imagem ainda
nem bem formada na minha cabeça. Afinal, do que estamos falan-
do quando descrevemos com tanta propriedade um lugar do qual
nem ao menos conhecemos?
Resolvi ir. Chequei minha conta bancária e percebi que o
dinheiro que havia juntado para as duas viagens anteriores sobre-
vivia solitário, ainda que ele estivesse na UTI. Pensei em captar
recursos, mas o processo com empresas e parceiros se mostrou
ineficiente à distância. Cogitei uma arrecadação entre amigos e
conhecidos, mas acabei decidindo manter a minha relação com o
projeto distante da lógica de contribuições financeiras. Meu objetivo
era aprender. E aprendendo, compartilhar e mobilizar outras pes-
soas a criarem suas próprias formas de contribuir com a mudança
da realidade, como indivíduos, para a construção de uma sociedade
mais justa onde quer que estejam.
Mas da minha parte, não adiantaria apenas ficar na frente
do computador ou sentado em uma biblioteca estudando o que se
1 Brincadeira.
Fiz isso tudo no
Google Maps
usando ferramentas
sofisticadas de
demarcação de
rotas, mas esta
é apenas minha
versão moderna da
história da canetinha
26 27
fala da pobreza. Ainda não encontrei – e nem pretendo encontrar
– uma definição definitiva. Não acredito que existam pobres por
aí. Afinal, Pobreza é uma condição mutável, uma soma de fatores
organizados ou desorganizados de forma a desequilibrar o funcio-
namento justo de uma vida humana. Minha contribuição não é por
meio da palavra, nem por meio do texto. Eu acredito na construção
de experiências relevantes que possam moldar quem somos e, a
partir daí, o que quer que façamos será “social”, benéfico e positivo.
Mas então, por que este livro? Por um motivo bem especí-
fico, ou seja, o acúmulo de experiências e vivências nesta área de
desenvolvimento social e erradicação da pobreza é, de certa forma,
ingrato. No entanto, se por um lado o aprendizado é, na maioria
das vezes, sobre o que não deu certo, sobre uma observação da si-
tuação caótica em seu estado mais complexo – ou mesmo a simples
constatação da dificuldade em se resolver todos os problemas de
uma vez – ; por outro lado, é somente quando todos nós estivermos
um pouco mais conscientes do impacto que causamos no entorno
é que começaremos a engatinhar para soluções mais justas e efi-
cientes. Assim, que este relato e algumas provocações sirvam para
que levantemos as perguntas adequadas e comecemos então a cor-
rer atrás de respostas mais qualificadas.
Os poucos dias que me restavam entre o término do meu
trabalho em Israel junto ao Weitz Center e a minha partida para
outro continente serviram para colocar algumas ideias e planos no
lugar. Abandonei mais da metade dos meus pertences na sala de
um casal de amigos; coloquei algumas peças de roupa em um
mochilão de 70 litros nas costas e meu computador, caderninho
e máquina fotográfica na mochila vermelha posicionada junto a
minha barriga. Com a casa nas costas e o escritório na barriga,
parti em direção à África para realizar o projeto que eu mesmo
havia criado dias antes: o Mochila Social.