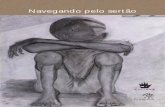JOÃO CAPISTRANO DE ABREU E A HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA EM QUESTÃO
Transcript of JOÃO CAPISTRANO DE ABREU E A HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA EM QUESTÃO

JOÃO CAPISTRANO DE ABREU E A HISTORIOGRAFIA
BRASILEIRA EM QUESTÃO1
Amilton Benedito Peletti2
Então, registrar o passado não é falar de si; é falar dos que participaram de
uma certa ordem de interesses e de visão do mundo, no momento particular
do tempo que se deseja evocar. (HOLANDA, 1995)
Resumo:
Este artigo procura discutir as inovações da historiografia brasileira ocorrida no início do
século XX, com a introdução de novos temas, novos objetos e novos sujeitos na escrita da
história do Brasil. O ponto de partida é a obra Capítulos de História Colonial, de João
Capistrano de Abreu, que tenta “redescobrir” o Brasil, valorizando e inserindo nos registros
históricos o povo brasileiro, fazendo uma história mais econômico-social, contrariando a
visão até então predominante que valorizava apenas os “grandes” homens e grandes feitos, ou
seja, uma história político-administrativa.
Palavras chave: história, historiografia brasileira, Capistrano de Abreu.
Abstract:
This article discusses the Brazilian historiography innovations that took place in the beginning
of the 20th
century, when new themes, new objects and new subjects were introduced into the
Brazilion written History. It is possible to see this different way to write the History in the
book Chapters of Colonial History, by João Capistrano de Abreu, who tries to “re-discover”
Brazil. This author valves the Brazilian people and inserts them into the historical registers.
He writes the History emphasizing the economic and social aspects in detriment of the politic
and administrative ones, which value the “great” man and the “great” facts.
Key words: History, Brazilian historiography, João Capistrano de Abreu.
1 Artigo apresentado como avaliação final do curso de Pós-graduação em História do Brasil (Sociedade e Cultura
Brasileira – SCB) da Universidade Paranaense – UNIPAR. 2 Graduado em História pela Universidade Paranaense – UNIPAR – e Pós-graduando em História do Brasil pela
Universidade Paranaense – UNIPAR.

2
O principal objetivo deste artigo consiste em apresentar e discutir as inovações
ocorridas na historiografia brasileira no início do século XX, quando foram introduzidos
novos temas e assuntos até então pouco explorados e/ou desconhecidos e houve a tentativa de
fazer uma história do Brasil não apenas narrativa, mas interpretativa. Essa nova forma de
escrever a história foi introduzida pela obra Capítulos de História Colonial, do cearense João
Capistrano de Abreu, editada pela primeira vez 1907. O livro analisado neste trabalho refere-
se à sétima edição dessa obra, publicada em 1988. Porpõe-se um análise constrativa desta
obra com outras obras dos séculos XIX e XX, a fim de entender como se deu a historiografia
da época, em especial as inovações ocorridas no início do século XX.
João Capistrano de Abreu tem papel fundamental na inovação da historiografia
brasileira. Na obra cita acima, esse autor rompe com a idéia bastante difundida até então de
que a História do Brasil teria começado com a chegada dos portugueses, mostrando que os
povos que aqui viviam não eram seres sem história. Abreu (1988) também questiona a
abordagem factual da história, que privilegia o herói, o ator individual, em detrimento do
social, do coletivo. Isso demonstra uma preocupação em considerar o povo brasileiro como
sujeito de sua própria História, significa enterrar conceitos como inferioridade racial ou
cultural, sem preconceitos e sem eurocentrismos, valorizando a presença indígena.
Mas o que era o “velho”?
O que Abreu (1988) busca é romper com o “modelo” de história escrita por
Varnhagen (1981), que defendia um Brasil português, com imperador, pois sua adesão à
Coroa era total, haja vista que o imperador foi uma espécie de protetor de Varnhagen,
oferecendo-lhe recursos para a sua obra. Segundo Reis (2003),
O imperador precisava dos historiadores para legitimar-se no poder (...) A
nação recém-independente precisava de um passado do qual pudesse se
orgulhar e que lhe permitisse avançar com confiança para o futuro. Era
preciso encontrar no passado referências luso-brasileiras: os grandes vultos,
os varões preclaros, os efemérides do país, os filhos distintos do saber e
brilhantes qualidades, enfim, os luso-brasileiros exemplares, cujas ações
pudessem tornar-se modelos para as futuras gerações. O IHGB produziu uma
história biográfica, constituindo uma galeria de vidas exemplares que
iluminavam a ação futura (STEIN& STEIN apud REIS 2003).
Assim, a história do Brasil era centralizada basicamente no imperador. Apesar da
variedade de usos e costumes, da grande extensão territorial, das várias atividades

3
econômicas, o historiador buscava enfatizar com essa “centralização” a unidade do país,
tratando as diferenças como algo comum e, portanto, sem importância, sendo que o que
deveria ser valorizado era o patriotismo e o amor pelo Brasil.
Varnhagen (1981) toma para si a tarefa de ser, nas palavras de Reis (2003), um
inventor do Brasil, visto que a obra História Geral do Brasil, escrita por Varnhagen, é
considerada a grande síntese da história do Brasil do século XIX. Mas trata-se de uma história
que as elites brasileiras precisavam para levar adiante a nova nação, uma história que
realizasse elogios aos heróis portugueses e que não falasse em tensões, separações,
contradições, exclusões, conflitos ou insatisfações que pudessem levar à fragmentação.
Portanto, Varnhagen (1981) pode ser considerado o mestre dessa história do
Brasil que via a colonização portuguesa como bem-sucedida porque trouxera a civilização a
uma região desconhecida, integrando-a à “grande história”.
Aristocrata, elitista, sua história prioriza as ações dos heróis portugueses e
brasileiros brancos. Para ele, a plebe – índios, negros, caboclos, mamelucos,
mulatos, pobres em geral – seria desequilibradora do Brasil grande, atrasava-
o, desordenava-o, entravava o seu progresso. O Brasil quer ser outro
Portugal: uma grande nação imperial, uma potência mundial. A História
Geral do Brasil abrirá este futuro às elites brasileiras no poder, nos anos
1850. E, no passado, todos os eventos e personagens que comprometeram
este futuro receberiam uma severa avaliação. Seus preconceitos elitistas são
evidentes (...) os movimentos sociais anteriores à independência, ele
agradecia à providência a sua repressão. A própria independência, ele só
tolerava porque produzida por um príncipe português e porque mantivera
internamente a monarquia. Ele sempre defendia a Casa de Bragança, era um
cortesão lisonjeador de d. João VI, d. Pedro I e de d. Pedro II. Foi um
historiador oficial, um adulador dos poderosos e juiz severo das revoltas
populares. A história, para ele, é feita pelos grandes homens, por reis,
guerreiros e governadores, bispos e não pelos homens incultos. Foi a Casa de
Bragança que construiu o Brasil íntegro, uno e independente (REIS, 2003, p.
32).
O olhar que Varnhagen (1981) lança sobre a história do Brasil é o olhar do
colonizador português, justificando a dominação colonial, a submissão do povo, os direitos
das elites, defendendo a sociedade escravista submissa à lógica do descobridor e
conquistador, sendo que este tem todos os direitos, inclusive de impor sua “superioridade”
étnica, cultural e religiosa.
Quanto aos indígenas, Varnhagen (1981), acredita que são seres exóticos,
alienígenas (aborígenes), gente nômade, violentos, bárbaros, sem sentimento patriótico de
amor à pátria, gentes vagabundas, sem sentimentos morais e que deveriam ser civilizados para
deixarem de ser hostis e antropofágicos. Afirma, ainda, que não dirá mais sobre os horrores

4
que praticavam os selvagens para não arrepiar os leitores, insistindo, em escrever apenas essas
misérias da humanidade bestial, conforme seu próprio depoimento. Essa abordagem tinha
como objetivo, de acordo com Reis (2003), mostrar que o futuro do Brasil não poderia ter
neste passado a sua raiz, devendo se assentar em um outro passado, ou seja, naquele que veio
do exterior com a chegada do cristianismo, do rei, da lei, da razão, da paz, da cultura, da
civilização que poderia pôr fim à barbárie e à selvageria.
Questionado se o Brasil teria sido melhor sem a escravidão de negros, Varnhagen
(1981) afirma que sim, pois, na sua opinião, era o índio quem deveria ser escravizado,
atacando os jesuítas e defendendo os bandeirantes.
Foi a pseudofilantropia dos jesuítas que impediu a escravidão do gentio.
Estes, quanto mais mimados e protegidos, mais insolentes. Os bandeirantes
paulistas que caçavam índios pelo sertão fizeram menos mal ao Brasil do
que os traficantes negreiros e do que os jesuítas. A filantropia jesuítica em
relação ao indígena era mais palavra do que exemplo – eles próprios usavam
o índio como escravo. Sua proteção ao indígena deixou a colônia à míngua
de braços, o que forçou a importação de africanos (REIS, 2003, p. 43).
Percebe-se que Varnhagen (1981) “ajusta” a sua história ao sistema colonial e vê
o Brasil da mesma forma que os seus administradores e outros representantes da mentalidade
oficial. Esse autor restringiu-se aos documentos oficiais, que, segundo ele, eram portadores da
verdade histórica, desde, é claro, que devidamente apurados.
Varnhagen (1981) é um progressista, gradualista que defende a continuidade do
passado no futuro. Seu livro História Geral do Brasil é, segundo Reis (2003), uma obra
sobretudo político-administrativa, repleta de fatos, nomes e datas, é individualista, não
abrangendo todos os aspectos da vida nacional.
Assemelha-se a um nostálgico álbum de fotografias das ações dos heróis
portugueses. Cada descrição é minuciosa como se fosse um quadro ou uma
foto. Acima de cada uma, o título-legenda-comentário e a data: “O enérgico
governador-geral Tomé de Sousa em salvador (1549)”, “O benemérito
governador-geral Mem de Sá expulsa os franceses do rio de Janeiro (1560)”,
“O cristão d. Nuno Manuel batizando a costa brasileira com o calendário
religioso na mão (1501)”, “O ilustre paulista pe. Bartolomeu Lourenço
revela os planos do aeróstato Passarola (1715)”, “O bom, religioso e justo d.
João VI desembarca na Bahia (1808)”. Sua narrativa é uma construção que
tenta coincidir com o vivido: uma reconstituição do que de fato se passou. O
tempo pensado é assimilado ao tempo vivido. A sua marcação do tempo é a
de um contemporâneo: “na noite de oito para nove desse mês de
setembro...”, “dois dias depois, no dia 19”, “mas logo, no dia 25...”, “no dia
seguinte, que era dia 19, Domingo de Pascoela, às 7 da manhã...” (REIS,
2003, p 49).

5
Nota-se que ele se preocupa somente com a reconstrução do passado como se este
fosse um conhecimento contemporâneo, sua forma de retratar a história é pouco crítica, pois
se preocupa apenas em descrever os fatos. Outra crítica que Capistrano (1988) faz da obra
História Geral do Brasil é a falta de uma periodização para a história do Brasil, o que a torna
um pouco confusa.
Para que não se cometa aqui certos anacronismos, concordamos com Reis (2003)
quando este diz que
(...) não há autores superados, desde que lidos em sua época. Dentro dela,
são insuperáveis. Se o conhecimento histórico é também e ao mesmo tempo
história da história, o conhecimento da história do Brasil pressupõe a leitura
e a confrontação dos intérpretes do Brasil produzida ao longo do tempo (...)
(REIS, 2003, p. 14).
Todavia, apesar das críticas feitas a Varnhagen (1981), é preciso que se leve em
consideração o momento histórico do Brasil quando a História Geral do Brasil foi escrita,
pois cada obra não é nada mais do que testemunhos de sua época e da história que se podia
fazer. Assim, a história de Varnhagen (1981), como todas as outras, é marcada pelo lugar e
pelo tempo de sua produção, além dos interesses dominantes da época.
Capistrano e a “Nova” História do Brasil
Segundo Capistrano (1988), ao contrário de Varnhagen (1981), “alienígenas”
(estrangeiro) e “exóticos” (que não é indígena, estrangeiro) são os europeus e africanos, e não
o indígena e a terra do Brasil. Para vê-los assim, esse autor procura considerar o ponto de
vista do indígena e da terra do Brasil, que vêem chegar novos e desconhecidos elementos. É
como se ele olhasse da praia para o oceano cheio de caravelas, enquanto Varnhagen (1981)
“olhava” da caravela de Cabral para a praia, e via uma terra exótica povoada por alienígenas.
Em sua obra, Capistrano (1988), tenta algumas vezes se pôr no lugar do português para tentar
sentir suas expectativas e medos para melhor compreender sua atitude.
Capistrano (1988) se volta para dentro do Brasil sem vínculos externos, faz uma
história mais econômico-social, possibilitando uma grande inovação na interpretação do
Brasil quando a Monarquia estava abalada e havia um esforço em encarar de forma nova o
passado brasileiro. Capistrano fez parte, naquela época, de uma nova geração de historiadores.

6
Embora ainda possamos encontrar muitos traços de história narrativa em sua obra, ele procura
interpretar os fatos.
A sua obra é um ponto de referência da recepção da concepção moderna de
história, com um ideal objetivista de verdade, apoiada em documentos inéditos, testemunhas
oculares. Para esse autor, o historiador deve manter um certo distanciamento das fontes
quando as manipula. No entanto, quando as interpreta, num segundo momento, deve orientar-
se pela pesquisa.
Capistrano (1988) quer narrar o que de fato aconteceu, influenciado
principalmente pelo realismo histórico alemão, observando as relações do homem com o meio
geográfico, aproximando a história da geografia (interdisciplinariedade). Esse historiador
nunca propôs uma interpretação (explicação) unilateral da história, percebendo sempre a
interdependência das diversas instâncias sociais, mantendo uma grande preocupação pelo
documento histórico, pela busca da autenticidade, da verdade das fontes e o esforço pela
análise objetiva.
Podemos dizer que Capistrano (1988) provocou uma reviravolta na historiografia
brasileira por sua posição teórica atualizada, por seu conhecimento incomum dos fatos e por
seu novo ideal de história do Brasil. Esse autor não só investiga os fatos, mas interpreta-os,
“fugindo” assim dos ideais positivistas, - considerados por ele como uma camisa-de-força -,
passando a dar ênfase aos documentos e à sua crítica, interpretação e compreensão.
Historicista, realiza estudos sobre a história íntima, festejos, família, demonstrando interesse
em captar a interioridade dos testemunhos, afirmando que a história não é só fato, mas
também emoção, sentimento e pensamento dos que vivem.
A história não é só uma questão de fato; ela exige imaginação que penetre o
motivo da ação, que sinta a emoção já sentida, que viva o orgulho ou a
humilhação já provados. Ser desapaixonado é perder alguma verdade vital
do fato; é impedir-se de viver a emoção e o pensamento dos que lutaram,
trabalharam e pensaram. Não era a conquista da colônia do Sacramento só
que interessava: não era só a coisa, era o espírito da coisa (ABREU, 1988, p.
15).
Os sentimentos, as especulações, os pensamentos do povo, suas aspirações
são uma coisa que nunca se repetirá, que viveu e que interessa ao historiador
tanto quanto os fatos materiais (ABREU, 1988, p. 32).
Capistrano (1988) pode ser considerado o “redescobridor” do Brasil, valorizando
o seu povo, as suas lutas, os seus costumes, a miscigenação, o clima tropical. Esse historiador
atribui a este povo a condição da sua própria história, que não deveria vir mais nem de cima e
nem de fora, mas dele próprio. Recupera o passado deste povo em suas lutas e vitórias, sendo

7
pioneiro na procura das identidades do povo brasileiro, contra o português, o Estado imperial
e as elites luso-brasileiras. A sua obra Capítulos de História Colonial aponta novos caminhos,
não faz uma história exclusivamente político-administrativa ou biográfica, busca apreender a
vida humana em sua multilateralidade. Sua visão de história não atribui predominância a um
fator sobre outros, pois a entende como um conjunto complexo de fenômenos. Para ele,
historicista, o historiador deve recriar a vida integralmente, realizando uma compreensão total
e criadora do curso histórico.
Enquanto a história de Varnhagen (1981) era uma conversa entre eruditos,
Capistrano (1988) divulga uma história com uma linguagem simples, uma história mais
econômico-social do que política, liberta de datas, nomes e eventos oficiais. Dá voz ao povo
que por muito tempo esteve calado, trata do homem comum, inserindo o brasileiro na história
universal, mas sempre valorizando o sertanejo, o nacional e as diferenças regionais, fazendo
uma história viva. Recupera a história social e econômica do povo, sua vida, alimentação: “A
vida do povo comum dizia mal com estes esplendores: a canjica, alimento da maioria da
população, dispensava sal, porque este ingrediente não chegava para todos” (p. 150).
Resgata, ainda, tipos étnicos, condições geográficas, caminhos, povoamentos, crenças,
diferenças sociais, comércio, vida urbana e rural.
Pode-se apanhar muitos fatos daqueles sertanejos dizendo que atravessaram
a época do couro. De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao
chão duro, e mais tarde a cama para os partos; de couro todas as cordas, a
borracha para carregar água, o mocó ou alforje para levar comida, a maca
para guardar roupa, a mochila para milhar o cavalo, a peia para prendê-lo em
viagem, as bainhas de faca, as broacas e surrões, a roupa de entrar no mato,
os banguês para curtume ou para apurar sal; para os açudes, o material de
aterro era levado em couros puxados por juntas de bois que calcavam a terra
com seu peso; em couro pisava-se tabaco para o nariz. (Abreu, 1988, p. 170) Para os escravos fiava-se e tecia-se a roupa; a roupa da família era feita no
meio dela; da alimentação, fornecida por peixe de água doce ou salgada,
mariscos apanhados em mangues ou caça, estavam encarregados os
escravos; a criação miúda de voláteis, ovelhas, cabritos e porcos evitava as
surpresas de hóspedes de última hora: não havia açougues ou mercados (...)
(ABREU, 1988, p. 113).
Varnhagen (1981) faz elogio à vitória dos portugueses, defende os interesses e os
sentimentos lusitanos no Brasil e não vê com bons olhos a diferença que amiúde explodia
entre esses valores e poder europeus e os autóctones. Capistrano (1988) escreve uma “outra
história do Brasil”: anti-portuguesa, anti-reinol, antieuropéia, anti-Estado Imperial, anti-
político-administrativa.

8
Capistrano (1988) não esconde as contradições e confrontos causados pela própria
estrutura do Sistema Colonial, que ocorriam entre os três elementos que formavam a
sociedade brasileira: índios, portugueses e negros. “Aquilo que não foi só conspiração mas
rebeldia e revolução, os emboabas e mascates, as lutas entre colonos e jesuítas...” (Abreu,
1988, p. 39). “Os alicerces assentaram sobre sangue, com sangue se foi amassando e ligando o
edifício e as pedras se desfazem, separam e arruínam” (Abreu, 1988, p. 159). Assim, só havia
a percepção da diferença e não a da unidade, pois esta era garantida à força pelos
portugueses, que ocupavam, povoavam, miscigenavam e expulsavam. Os índios os temiam e
ao mesmo tempo os admiravam por seus equipamentos, vestuário e objetos, mas quando não
fugiam para a floresta o faziam guerra. Os negros chegavam algemados e humilhados,
dominados, oprimidos, escravizados e, estrangeiros, viviam sob a hostilidade dos portugueses,
que, por sua vez, andavam armados de espadas e terços, humilhavam, ofendiam, estupravam,
escravizavam e exterminavam índios, negros e mestiços, além de expulsar brancos de outras
nacionalidades religiões. Portanto, somente o surgimento do brasileiro, ou seja, o surgimento
de um novo povo, é que poderia despertar um sentimento de identidade nacional, não
português.
Com suas análises inovadoras, Capistrano (1988) não só muda o sujeito da
história do Brasil como também altera os temas e os objetos. Valoriza, de forma original, o
surgimento de um novo povo e seus interesses. As elites “saem” da história cedendo lugar ao
povo brasileiro e a conquista do território, relatando não apenas a conquista do litoral mas a
ocupação do interior. Esse autor entende o brasileiro mestiço como sujeito da história do
Brasil e busca constituir uma identidade brasileira não mais pautada em moldes europeus, mas
ancorada nas identidades do Brasil do interior, do sertão e das rebeliões.
Se Varnhagen (1981) responde dizendo que o Brasil teria sido melhor sem a
implantação da escravidão negra, Capistrano (1988) faz questão de ressaltar os elementos
trazidos pelos negros que estão presentes em nossa sociedade:
O negro trouxe uma nota alegre ao lado do português taciturno e do índio
sorumbático. As suas danças lascivas, toleradas a princípio, tornaram-se
instituição nacional; as suas feitiçarias e crenças propagaram-se fora das
senzalas. As mulatas encontraram apreciadores de seus desgarres e foram
verdadeiras rainhas (ABREU, 1988, p. 60).
Em relação ao indígena, Capistrano (1988) não os vê como seres inferiores pois
para ele os jesuítas apenas representavam uma outra concepção da natureza humana:

9
Racional como os outros homens, o indígena aparecia-lhes educável. Na
tábua rasa das inteligências infantis podia-se imprimir todo o bem; aos
adultos e velhos seria difícil acepilhar, poderiam porém, aparar-se arestas,
afastando as bebedeiras, causa de tantas desordens, proibindo-lhes comerem
carne humana, de significação ritual repugnante aos ocidentais (...)
(ABREU, 1988, p.95).
Para provar as virtudes indígena, esse historiador, cita nomes de índios notáveis e
entre as manifestações de suas virtudes intelectuais, aponta os conselhos onde os velhos da
tribo discutiam as questões pendentes, além do conhecimento de enfermidades e técnicas de
caça e pesca. E para aqueles que diziam ser os índios seres inferiores por não terem religião e
praticarem a antropofagia – necessitando, então, do português para lhe mostrar o “caminho da
civilização” -, ele questiona:
Ignoravam a verdadeira religião? Não adoravam como os gentios antigos
moradores da Beira e marinha de Setúbal uma baleia arrojada à praia, nem
lhe ofereciam em sacrifício anualmente uma donzela e um moço. Se os erros
mui repugnantes aos princípios naturais provam barbaridade, é preciso
declarar por bárbaros os ingleses, dinamarqueses, suecos e muitos alemães,
pois em todas estas nações está muito dominante o erro de que não pecamos
por eleição, senão por necessidade, que Deus nos obriga a pecar e nos é
impossível evitar o pecado... entregavam-se a antropofagia? Nem nos deve
admirar a barbaridade destes povos, quando sabemos que dos descendentes
de Tubal e de outras nações políticas com que se povoou Portugal se
reduziram muitos dos seus descendentes a tanta brutalidade que matavam e
comiam aos que dos povos vizinhos apanhavam ou em guerra ou em ciladas
(ABREU, 1988, p. 206).
Esse autor é também um defensor dos jesuítas, atribuindo-lhes muitos elogios e,
consequentemente, colocando-se contra os bandeirantes, mais uma vez contrapondo-se a
Varnhagen (1981):
Esta catequese grandiosa não consistia simplesmente em verter as orações da
cartilha para a língua geral, fazê-las repetir pela multidão ignara,
submetendo-a à observância maquinal do culto externo. “Reduções, escreve
um dos jesuítas contemporâneos que mais concorreram para avultarem,
chamamos aos povoados dos índios, que vivendo à sua antiga usança, em
matos, serras e vales, em escondidos arroios, em três, quatro ou seis casas
apenas, separados, uma, duas, três e mais léguas uns de outros, os reduziu a
diligência dos padres a povoações grandes e a vida política e humana, a
beneficiar algodão com que se vistam, porque comumente viviam em nudez,
ainda sem cobrir o que a natureza ocultava” (ABREU, 1988, ps. 144/5). Bandeiras eram partidas de homens empregados em prender e escravizar o
gentio indígena (...) Dirigia a expedição um chefe supremo, com os mais

10
amplos poderes, senhor da vida e da morte de seus subordinados (ABREU,
1988, p. 142).
Ao tratar da vida das pessoas comuns, um dos pontos abordados pelo autor diz
respeito à alimentação, deixando evidente mais uma vez o desejo de propor uma outra
história, na qual os personagens são as pessoas “comuns”, ou seja, o povo, e não somente
aquela pequena parcela de pessoas que até então fazia parte dos registros históricos:
O povo alimentava-se de peixe, fresco, pegado diariamente pelos múltiplos e
engenhosos processos recebidos dos indígenas, ou salgado, como o pirarucu,
a tainha e o peixe-boi; de tartaruga (...) verdadeira vaca da Amazônia, gado
do rio como a chamavam, podia-se guardar às centenas em currais, e
fornecia manteiga; a gema do ovo de uma espécie tomava-se com café, como
leite. Sua manteiga, além do condimento usual, fornecia iluminação; o casco;
sem brilho e por isso imprestável para obras delicadas, empregava-se como
vasilha (ABREU, 1988, p. 234).
Outro ponto abordado quando Capistrano, autor dos Capítulos, trata dos hábitos
e costumes do povo, refere-se à vestimenta e ao transporte. Além disso, tenta, mesmo que de
forma ainda tímida, inserir a mulher na escrita da história brasileira, além de valorizar os fatos
que dizem respeito à vida cotidiana das pessoas:
A roupa caseira das mulheres constava de camisa e saia; o casebeque só
apareceu mais tarde (Abreu, 1988, p. 238). Em geral usa jaqueta curta, de
algodão ou de manchéster preto, colete branco de botões de couro branco,
calça de veludo ou de manchéster, longas botas de couro branco, presas
acima dos joelhos por fivelas; um chapéu de feltro de abas largas abriga-o do
sol; a espada e não raro a espingarda são com o guarda-chuva seus
companheiros inseparáveis, desde que sai de casa. As viagens, mesmo as
mais breves, são feitas em mulas. Os estribos e as rédeas são de prata e do
mesmo metal o cabo do facão que enfia na bota abaixo do joelho. Nestas
jornadas, as mulheres são carregadas em liteiras por negros ou bestas, ou
sentam-se, vestidas de longa montaria azul com chapéu redondo, em uma
cadeirinha presa à mula (ABREU, 1988, p. 238).
Segundo Reis (2003), o que deixa evidente o abismo entre Varnhagen (1981) e
Capistrano (1988) é a concepção de tempo histórico do Brasil. O primeiro não distingue bem
os períodos da história brasileira e se perdeu em inúmeros fatos dominados pelo sentido maior
do elogio da colonização portuguesa. Já Capistrano (1988) propõe a seguinte periodização da
história do Brasil:
1500-1614 - ocupação do litoral, guerra contra os franceses, escravidão do
indígena; 1614-1700 – povoado o litoral, início da internalização pelos rios;

11
1700-1750 – domínio das minas; 1750-1808- consolidação do sistema
colonial: multiplicidades anuladas, indústria proibida, jesuítas expulsos,
tensão colonos e reinóis; 1808-1850 – decomposição do sistema colonial;
1850 – período centralizador, imperialista ou industrial: época do vapor,
agonia da escravidão, jornalismo vivo (ABREU, 1975 apud REIS, 2003, p.
114).
Através de um método crítico, Capistrano (1988) quer “corrigir” o passado, rever
as verdades consolidadas, o passado tido como oficial, abrindo espaço para um “novo”
passado, onde o povo, em toda a sua diversidade, é o sujeito da história, antes considerado o
Estado Imperial. Capistrano (1988) é, portanto, um historiador da mudança, da
descontinuidade, opondo-se ao passado tradicional português.
Alguns problemas encontrados na obra
Podemos dizer que Varnhagen (1981) faz aquilo que Burke (1992) chama de
“história vista de cima”, ou seja, uma história tradicional concentrada nos grandes feitos dos
grandes homens, estadistas, generais, ou ocasionalmente eclesiásticos. Já Capistrano (1988)
escreve uma história que ele chamaria de “história vista de baixo” , isto é, voltada para o povo
“(...) a história vista de baixo abre a possibilidade de uma síntese mais rica da compreensão
histórica, de uma fusão da história da experiência do cotidiano das pessoas com a temática
dos tipos mais tradicionais de história (BURKE, 1992, p. 54). Parece, então, que Capistrano
(1988) somente inverte o olhar sobre a história. O que falta tanto para um como para o outro é
fazer o entrelaçamento destas duas visões, relacionando-as: “O desafio para o historiador social
é mostrar como ele de fato faz parte da história, relacionar a vida cotidiana aos grandes
acontecimentos (...)” (BURKE, 1992, p. 24).
Segundo Vainfas (2001) os Capítulos são muito acanhados no tratamento do tema
da miscigenação dizendo que a índias se ofereciam aos portugueses para terem filhos da raça
superior. É como se neste momento ele “navegasse” na historiografia tradicional, não
fazendo, portanto, o rompimento que gostaria. Essa “falsa democracia racial” foi defendida
com maior vigor por Gilberto Feryre (2001) como podemos perceber em sua obra Casa
Grande & Senzala:
Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América a que se
constitui mais harmoniosamente quanto às relações de raça: dentro e um
ambiente de quase reciprocidade cultural que resultou no máximo de
aproveitamento dos valores e experiências dos povos atrasados pelo
adiantado; no máximo de contemporização da cultura adventícia com a

12
nativa, da do conquistador com a do conquistado. Organizou-se uma
sociedade cristã na superestrutura, com a mulher indígena, recém-batizada,
por esposa e mãe de família; e servindo-se em sua economia e vida
doméstica de muitas das tradições, experiências e utensílios da gente
autóctone (FREYRE, 2001, p. 163).
Essa falsa idéia de democracia racial, ou seja, harmonia nas relações que
ocasionaram a miscigenação e o surgimento do povo brasileiro é amplamente questionada,
criticada e desmistificada por Darcy Ribeiro (1995) que trata do processo de formação do
povo brasileiro:
Surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor
português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos,
uns e outros aliciados como escravos (...) Nessa confluências, que se
dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições
culturais distintas, formações sociais defasadas se enfrentam e se
fundem para dar lugar a um povo novo (Ribeiro 1970), num novo
modelo de estruturação societária. Novo porque surge como uma etnia
nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras,
fortemente mestiçada, dinamizada por uma cultura sincrética e
singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundos.
Também novo porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente
nova, um novo gênero humano diferente de quantos existam. Povo
novo, ainda, porque é um novo modelo de estruturação societária, que
inaugura uma forma singular de organização sócio-econômica,
fundada num tipo renovado de escravismo e numa servidão
continuada ao mercado mundial. Novo, inclusive, pela inverossímil
alegria e espantosa vontade de felicidade, num povo tão sacrificado,
que alenta e comove a todos os brasileiros (RIBEIRO, 1995, p. 119).
Ainda sobre este assunto, Ribeiro (1995) contribui para a compreensão da formação da
identidade do povo brasileiro, mostrando como esse “povo novo”, na medida em que era duplamente
rejeitado, via nesta rejeição a condição para buscar uma nova identidade na tentativa de romper com as
raízes que o ligavam a um passado ao qual já não os interessava mais. Daí surge uma nova idéia de
nação, de identidade, que vai muito além daquela timidamente descrita por Capistrano (1988) nos
Capítulos de História Colonial. Assim ele nos diz:
Inclusive umas contadas mulheres que passaram a gerar mulatos e mulatas
que já nasciam protobrasileiros por carência, uma vez que não eram
assimiláveis aos índios, aos europeus e aos africanos e aos seus mestiços
(RIBEIRO, 1995, p. 96).
Os brasilindios ou mamelucos paulistas foram vítimas de duas rejeições
drásticas. A dos pais, com quem queriam identificar-se, mas que os viam
como impuros filhos da terra, aproveitavam bem seu trabalho enquanto
meninos e rapazes e, depois, os integravam a suas bandeiras, onde muitos
deles fizeram carreira. A segunda rejeição era a do gentio materno. Na

13
concepção dos índios, a mulher é um simples saco em que o macho deposita
sua semente. Quem nasce é o filho do pai, e não da mãe, assim visto pelos
índios. Não podendo identificar-se com uns nem com outros de seus
ancestrais, que o rejeitavam, o mameluco caía numa terra de ninguém, a
partir da qual constrói sua identidade de brasileiro (RIBEIRO, 1995, p.
108/9).
Já o filho da índia, gerado por um estranho, branco ou preto, se perguntaria
quem era, se já não era índio, nem tampouco branco ou preto. Seria ele o
protobrasileiro, construído como um negativo feito de sua ausência de
etnicidade? Buscando uma identidade grupal reconhecível para deixar de ser
ninguém, ele se viu forçado a gerar sua própria identificação (RIBEIRO,
1995, p.131).
Outro problema da obra de Capistrano (1988) refere-se à maneira como ele se
coloca em relação aos jesuítas, sendo o único dos autores aqui pesquisados a ver como
positiva a ação dos mesmos junto às tribos indígenas. Outros autores como Ribeiro (1995),
Holanda (1995) e Freyre (2001), além do próprio Varnhagen (1981) teceram críticas
contundentes à obra realizada pela Igreja por intermédio dos padres jesuítas.
Para Ribeiro,
Uma Igreja oficial, associada a um Estado salvacionista, que depois de
intermediar a submissão dos núcleos indígenas através da catequese impõe
um catolicismo de corte messiânico e exerce um rigoroso controle sobre a
vida intelectual da colônia, para impedir a difusão de qualquer outra
ideologia e até mesmo do saber científico (Ribeiro, 1995, p 76).
Os próprios sacerdotes operavam muitas vezes como contaminadores
involuntários, como testemunham suas próprias cartas. Em algumas delas
comentam o alívio que lhes trazia ao “mal do peito” os bons ares da terra
nova: em outras, relatam como os índios morriam feito moscas, escarrando
sangue, podendo ser salvas apenas sua almas (RIBEIRO, 1995, p 52).
Esse autor vai ainda mais longe, mostrando que a catequização caiu sobre os indígenas
como se fosse um mal do qual não poderiam escapar, ou seja, algo que culpava o próprio indígena por
sua condição, traçando certos maniqueísmos onde do lado destes estavam o mal, o pecado, o feio; e do
lado dos padres, a serviço do colonizador, estava o bem, o bonito, a virtude, isto é, tudo o que era
necessário para a salvação daquelas almas.
Sobre esses índios assombrados com o que lhes sucedia é que caiu a
pregação missionária, como um flagelo. Com ela, os índios souberam que
era por culpa sua, de sua iniquidade, de seus pecados, que o bom deus do céu
caíra sobre eles, como um cão selvagem, ameaçando lançá-los para sempre
nos infernos. O bem e o mal, a virtude e o pecado, o valor e a covardia, tudo
se confundia, transtocando o belo com o feio, o ruim com o bom. Nada valia,
agora e doravante, o que para eles mais valia: a bravura gratuita, a vontade
de beleza, a criatividade, a solidariedade. A cristandade surgia a seus olhos
como o mundo do pecado, da enfermidades dolorosas e mortais, da covardia,

14
que se adornava do mundo índio, tudo conspurcando, tudo apodrecendo
(RIBEIRO, p 43).
Para Gilberto Freyre (2001), mesmo sendo um protagonista da elite, a ação dos padres era
uma arma contra as populações nômades, pois, ao segregar o indígena, alterava todo o seu modo de
vida. Mas esse autor parece criticar a ação dos padres porque, segundo ele, esta teria de certa maneira
“atrapalhado” o processo civilizador trazido pelo europeu àquelas culturas inferiores, existentes não só
no Brasil, mas na América como um todo. Chega até a afirmar que o missionário era o maior
destruidor das culturas não européias, sendo, portanto, a sua ação mais dissolvente que a do leigo.
Com a segregação dos indígenas em grandes aldeias parece-nos terem os
jesuítas desenvolvido no seio das populações aborígines uma das influências
letais mais profundas. Era todo o ritmo de vida social que se alterava nos
índios. Os povos acostumados à vida dispersa e nômade sempre se degradam
quando forçados à grande concentração e à sedentariedade absoluta (...)
Debaixo do ponto de vista da Igreja que é forçoso reconhecer terem os
padres agido com heroísmo, com admirável firmeza na sua ortodoxia; com
lealdade aos seus ideais; toda crítica que se faça à interferência deles na vida
e na cultura indígena da América – que foram os primeiros a degradarem
sutil e sistematicamente – precisa de tomar em consideração aquele seu
superior motivo de atividade moral e religiosa. Considerando-os, porém, sob
outro critério – puros agentes europeus de desintegração de valores nativos –
temos que concluir pela sua influência deletéria. Tão deletéria quanto a dos
colonos, seus antagonista, que, por interesse econômico ou por sensualidade
pura, só enxergavam no índio a fêmea voluptuosa a emprenhar ou o escravo
indócil a subjugar e a explorar na lavoura (FREYRE, 2001, p. 180).
Na visão de Sérgio Buarque de Holanda (1995), os missionários foram hábeis na tarefa de
disfarçar o trabalho forçado do gentio e, também, na tarefa de acabar, em nome da fé e da
“fabricação” de novos homens, com uma organização que há muito tempo existia e que satisfazia
muito bem as necessidades do gentio:
Foram ainda os jesuítas que representaram, melhor do que ninguém, esse
princípio da disciplina pela obediência. Mesmo em nossa América do Sul,
deixaram disso exemplo memorável com suas reduções e doutrinas.
Nenhuma tirania moderna, nenhum teórico da ditadura do proletariado ou do
Estado totalitário chegou se quer a vislumbrar a possibilidade desse prodígio
de racionalização que conseguiram os padres da Companhia de Jesus em
suas missões (HOLANDA, 1995, p. 39).
Como se pode ver, esses autores fazem questão, ao contrário de Capistrano
(1988), de ressaltar o aspecto negativo da atuação dos padres da companhia em suas missões,
mostrando ainda como isso teve influências drásticas na vida dos indígenas.

15
O que procuramos, como já ressaltamos anteriormente, não é exaltar um autor em
detrimento de outro, mas mostrar como o conhecimento histórico e ao mesmo tempo a
história do Brasil estão atravessados pela temporalização e não se fixam em verdades
absolutas, o que demonstra a necessidade de estarmos constantemente reescrevendo a história,
sem, no entanto eliminar os autores e a história que se sucederam, já que uma “nova” análise
não substitui nem descarta aquelas elaboradas no passado.

16
Referências
ABREU, J. Capistrano de. Capítulos de História Colonial, 1500-1800. 7. ed. rev., anotada e
prefaciada por José Honório Rodrigues. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 1988.
BURKE, Peter (org.). A Escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora da
Universidade Estadual Paulista, 1992.
DOSSE, François. A História em migalhas: dos Annales à Nova História. Bauru, SP:
EDUSC, 2003.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. 45. ed. – Rio de Janeiro: Record, 2001.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras,
1995.
MOTA, Lourenço Dantas (org.). Introdução ao Brasil: um banquete no trópico. 3. ed. São
Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2001.
REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. 6. ed. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2003.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brasil: antes de sua separação e
independência de Portugal. 10. ed. integral, Vols. I, II e III. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São
Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1981.


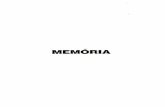





![Capistrano de Abreu - Três séculos depois[1]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5571fc29497959916996a3ec/capistrano-de-abreu-tres-seculos-depois1.jpg)
![1].pdf3 Ensaio biobibliográfico* HÉLIO VIANNA I - Infância e mocidade no Ceará e Pernambuco (1853/1875) Nasceu João Capistrano de Abreu a 23 de …](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5fa8fcf3a1550437ef286c30/1pdf-3-ensaio-biobibliogrfico-hlio-vianna-i-infncia-e-mocidade-no-cear.jpg)




![Capistrano de Abreu[1]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/563dbb52550346aa9aac1d0d/capistrano-de-abreu1.jpg)