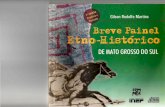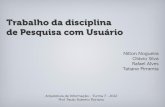KAINGÁNG E XOKLÉNG DO SUL DO BRASIL E A FLORESTA - DISCUTINDO ETNO-HISTÓRIA E HISTÓRIA AMBIENTAL
-
Upload
pretinhonuncnfoonro -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of KAINGÁNG E XOKLÉNG DO SUL DO BRASIL E A FLORESTA - DISCUTINDO ETNO-HISTÓRIA E HISTÓRIA AMBIENTAL
-
8/2/2019 KAINGNG E XOKLNG DO SUL DO BRASIL E A FLORESTA - DISCUTINDO ETNO-HISTRIA E HISTRIA AMBIENTAL
1/4
Resumos do VI CBA e II CLAA
Kaingng e Xoklng do sul do Brasil e a Floresta: discutindo Etno-histria e
Histria Ambiental
Kaingng and Xokleng Southern Brazilian Indigenous Populations and the forest: Discussing
Ethnic History and Environmental HistoryKLANOVICZ, J. Universidade Federal de Santa Catarina, [email protected]
ResumoA comparao entre os saberes ecolgicos dos Kaingng e dos Xokleng no Sul do Brasil, oprocesso de disseminao histrica de espcies, e o conhecimento cientfico podem proporcionara incorporao de recomendaes para o manejo colaborativo e sustentvel, bem comoaproximar o conhecimento indgena de prticas cientficas com o objetivo de preservar osrecursos naturais. Este artigo busca discutir aspectos terico-metodolgicos do trabalho com essetema do ponto de vista da Etno-histria e da Histria Ambiental, ligando-as problemtica do usode recursos genticos vegetais, da paisagem e do solo.
Palavras-chave: Indgenas do Sul do Brasil, Recursos Genticos Vegetais, Etnopedologia,Histria e Meio Ambiente.
AbstractThe historical comparison between the ecological knowledge of the Kaingng, and Xoklengindigenous populations of Southern Brazil, the historical process of species dissemination, and thescientific knowledge may allow the incorporation of recommendations for the sustainability offorest handling, as well as bringing the indigenous knowledge to scientific practices in order tocollaboratively handle natural resources. This paper displays a research of the Southern Brazilindigenous environmental history, regarding the use of Vegetable Genetic Resources, landscape,and soil, in the scope of Ethnic History and Environmental History.
Keywords: Southern Brazilian Indigenous Populations, Vegetable Genetic Resources,Ethnopedology, History and Environment.
IntroduoAs relaes entre um grupo humano e seu entorno ocorrem a partir do momento em que oshumanos estendem o tecido social em direo a tudo que no humano. Essas relaes ocorremnum coletivo complexo, marcado por intervenes humanas no ambiente, e por limitaesambientais cultura (ACSELRAD, 2004). As relaes entre populaes humanas e no-humanasso relaes de tenses biolgicas e socioculturais. Os humanos traduzem o entorno comfinalidade esttica ou de sobrevivncia, intervindo nele ou perturbando-o. O entorno oferece ao
homem quantidades e oportunidades limitadas de recursos e atuao. (WORSTER, 1998).
A agricultura rea e fonte de pesquisa propcia para a anlise histrica ambiental do uso do soloe do manejo de paisagens. Quando o assunto agricultura indgena, o recorte tnico dastcnicas de plantio e de difuso de variedades ponto de convergncia de estudos (desde aTecnologia de Alimentos Histria). Nesse sentido que as prticas indgenas de uso de solo ede manejo de paisagem favorecem a complementaridade de estratgias de pesquisa queaproximam a Histria de outras reas do conhecimento. (KLANOVICZ, 2007)
Quando tratamos dessas aproximaes, um dos elementos fundamentais a ser considerado naanlise histrica das relaes ecolgicas entre humanos e no-humanos o binmio uso-
3330 Rev. Bras. De Agroecologia/nov. 2009 Vol. 4 No. 2
-
8/2/2019 KAINGNG E XOKLNG DO SUL DO BRASIL E A FLORESTA - DISCUTINDO ETNO-HISTRIA E HISTRIA AMBIENTAL
2/4
Resumos do VI CBA e II CLAA
representao do solo e da paisagem pelo grupo social em foco. O uso do solo e da paisagemdesempenha papel dinmico na expresso da diversidade biolgica e cultural por meio de suaposio central na base de recursos genticos, agroecossistemas e herana social. Variedadesagrcolas, formas de plantar, de identificar, de nomear a natureza e de tratar a paisagemrepresentam prticas culturais locais e contextos ambientais nicos (MWAURA, 2004).
MetodologiaO Brasil tem uma populao indgena de cerca de 400 mil indivduos, distribudos em cerca de200 povos e 180 idiomas. O Sul do Brasil foi sendo povoado por grupos de dois troncoslingsticos: J (Kaingng no Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Xokleng, em SantaCatarina) e os Tupi-guarani (Guarani Mbya, em Santa Catarina, e Guarani Nhandeva, Rio Grandedo Sul, e Xet, no Paran).
Os Kaingng distribuem-se em mais de 20 Terras Indgenas (TI) no sul do pas. Em SantaCatarina, a principal TI a TI Xapec, no municpio de Ipua, no oeste do estado. Essa TI temcerca de 6 mil habitantes, numa rea de 11 mil hectares. Em Santa Catarina, os Xokleng esto
restritos TI Ibirama, no municpio de Jos Boiteux, no Vale do Itaja. Os Xokleng so conhecidosna literatura histrica como Bugres, Botocudos, Aweikoma, Laklan e Xoklen (SANTOS, 1987).Os Kaingng e os Guarani historicamente cultivam a terra com variedades de milho (Zea mays) eGoiabeira-serrana (Acca sellowiana, former Feijoa sellowiana). Alm disso, essas duas etnias, etambm os Xokleng, sempre se utilizaram de produtos da Araucria (Araucaria angustifolia) eErva-mate (Illex paraguariensis) e Guabirobeiras (Campomanesia xanthocarpa O. Berg).
As variedades agrcolas usadas pelos indgenas das etnias Kaingng, Guarani e Xokleng(registradas pela etnografia e, principalmente, por fontes orais) no Bioma Mata Atlntica do Sul doBrasil proporcionam aos seus plantadores um repositrio de sobrevivncia, e que tambm servepara o estudo da adaptao a condies ecolgicas de diversas plantas, animais e gruposhumanos. Essa transformao s pode ser visualizada numa perspectiva histrica.
Resultados e Discusso1) PRIMEIRO LEQUE REGISTROS HISTRICOS: Desde o final do sculo XVIII, o manejo depaisagens pelas populaes autctones do sul do Brasil tem sido descrito por viajantes,naturalistas, escritores e artistas em obras tcnicas ou literrias, etnografias, e livros de memria.Essas leituras e descries poderiam ser enquadradas na esfera do extico, dificultando aconstituio de polticas pblicas precisas e continuadas sobre esses grupos sociais e histricosna regio, ainda palco de conflitos econmicos e culturais quando se trata de populaesindgenas.
Esses documentos representam fontes de infindveis informaes para historiadores ehistoriadoras atentos com as perspectivas do uso e de representao sobre o mundo natural noBrasil entre os sculos XVIII e XX, uma vez que o oeste, o interior, a hinterland sempreconstituram e ainda constituem objeto de mistrio no que tange imaginao ambientalbrasileira. (BUELL, 2003) Na medida em que a idia de natureza foi transformada, o que levou atransformaes cientficas inerentes, uma produo maior, qualiquantitativamente, veio arepresentar um esforo de acmulo de conhecimentos acerca desses territrios, ainda poucoexplorados pela historiografia ao longo do tempo e do espao. O advento de uma era ecolgicaacarretou o alastramento do paradigma ambientalista. (WORSTER, 1998). Esse paradigmaenquadra grande parte dos acontecimentos e fenmenos da sociedade em termos de raa,enfermidades, superioridades/inferioridades, em funo da alimentao, da qualidade dasflorestas e formas de agricultura e pecuria praticadas por populaes tradicionais, etc.(ARNOLD, 2002).
Rev. Bras. De Agroecologia/nov. 2009 Vol. 4 No. 2 3331
-
8/2/2019 KAINGNG E XOKLNG DO SUL DO BRASIL E A FLORESTA - DISCUTINDO ETNO-HISTRIA E HISTRIA AMBIENTAL
3/4
Resumos do VI CBA e II CLAA
2) SEGUNDO LEQUE - KAINGNG, GUARANI E XOKLENG E AS PERSPECTIVAS DE ETNO-HISTRIA E HISTRIA AMBIENTALAs tentativas no-ndias de conquista desse territrio Kaingng desde o sc. XVIII favoreceram aunio de distintos aldeamentos Kaingng e Guarani, promovendo a transferncia forada degrupos que anteriormente espalhavam-se pelo territrio da Mata Atlntica sulista. Em contraparte,reduziram o territrio tradicional de todos os grupos, principalmente dos Xokleng, que se viramconfinados numa pequena rea do Vale do Itaja, em Santa Catarina, quando antes percorriamum territrio que alcanava os trs estados do Sul.
Os Xokleng viviam separados em grupos de caa de 30-50 indivduos, praticavam o nomadismoestacional, buscando obter sua subsistncia, o mesmo ocorrendo conforme as mudanas deestaes, quando havia escassez de alimentos. A extrao e o plantio por parte de no-indgenascontinuaram sem parar no sculo XX, e o contato entre no-ndios e ndios resultou na reduodos territrios tradicionais. Por derivao do encolhimento territorial, irrefutvel que esseprocesso conduziu a ameaas a costumes, hbitos de vida, formas de alimentao, medicinatradicional, religiosidade, enfim, s etno-cincias e s construes scio-culturais desses povos.
Embora a poltica de pacificao dirigida pelo Servio de Proteo ao ndio (SPI), tenhacontribudo para o enfraquecimento de muitos saberes, as comunidades conservam, ainda,conhecimentos sobre plantas, medicamentos, animais, floresta e solo (SALVARO, 2007).
o caso do trabalho ligado concepo de floresta dos Kaingng. (TOMMASINO; MOTA;NOELLI, 2004) Para os Kaingng, as florestas constituem espao de caa e coleta, com exceodas matas de araucria, que eram/so divididas entre os subgrupos. As cascas dessas rvoreseram assinaladas e dividiam o territrio poltico. Se o uso do solo e da paisagem desempenhapapel dinmico na expresso das diversidades biolgica e cultural, e as varidades agrcolasencontram prticas culturais locais e contextos ambientais especfocos, com papel decisivo para asobrevivncia cultural, a rea da aldeia indgena Kond, dos Kaingng de Chapec/SC umcomponente importante para a exemplificao dessa problemtica, quando pensada em termos
dos usos da fauna e da flora. Ali, a presena de rvores de Ilex paraguariensis abundante, enas colheitas, todos os homens so convocados a fazer o corte dos ervais, j que o produto comunitrio. As ramas de erva-mate so trocadas em empresas da regio e as famlias recebema erva beneficiada, para as rodas-de-chimarro matinais e vespertinas, onde os membros de umafamlia nuclear conversam sobre assuntos diversos que dizem respeito tanto ao tempo passado(wxi), quando ao tempo presente (uri). (id, ibid.)
ConclusesAs prticas tradicionais de manejo tm contribudo para a manuteno da biodiversidade. ThoraMartina Hermann, por exemplo, afirma que o conhecimento histrico dos Mapuche sobre asespcies de araucria entre o Chile e a Argentina, tem contribudo para o estabelecimento deprticas manejo balanceado na atualidade, por parte das Cincias Agrrias (HERMANN, 2005)
H uma disposio crescente de reconhecer o saber local no s como manancial deinformaes brutas, mas como conhecimento dotado de um sistema simblico e cognitivo. No sepode confundir, nesse sentido, o conhecimento tradicional com o conhecimento natural, namedida em que parte dessa idia de tradio no interessa, porque denuncia mais umasuposio de que os saberes locais seriam uma parcela conservadora da cultura. Oconhecimento, dessa forma, transmitido por um espao repleto de barreiras e canais,caracterizados por recortes de classe, de parentesco, de gnero ou de etnia. (id, ibid.) Por meiode uma anlise regressiva e de correlao histria, pretende-se, portanto, determinar que grau deuso est vinculado s caractersticas ecolgicas e morfolgicas, a diferenas geogrficas emtermos de abundncia, e a percepes sociais sobre a viabilidade de espcies. Isso necessrio
3332 Rev. Bras. De Agroecologia/nov. 2009 Vol. 4 No. 2
-
8/2/2019 KAINGNG E XOKLNG DO SUL DO BRASIL E A FLORESTA - DISCUTINDO ETNO-HISTRIA E HISTRIA AMBIENTAL
4/4
Resumos do VI CBA e II CLAA
para estabelecermos se a abundncia ou a quantidade so caractersticas relativas ao uso, apermanncia no tempo, e para fins de sustentabilidade.
A sobrevivncia de prticas tradicionais depende de uma reviso de polticas agrcolas e deconservao. indispensvel a construo, portanto, de instrumentos e saberes sobre aconservao de recursos no sentido de garantir a sustentabilidade de usos desses mesmosrecursos para o futuro. O estudo histrico permite uma atualizao dos lugares, dos objetos, edas tradies de uso que foram ou so importantes para a anlise do estado atual dessasespcies na regio, o que proporciona o estabelecimento, tambm, de um percurso para aconstituio de um saber mais amplo acerca do uso de RGVs que leva em conta a compreensodo processo scio-cultural de um determinado grupo social em relao ao seu ambiente.
RefernciasACSELRDAD, Henri. Conflitos socioambientais no Brasil. Rio de Janeiro: H. Bll, 2004.
ARNOLD, D. La naturaleza como problema histrico. Mxico: FCE, 2000.
BUELL, L. Writing for an endangered world: environment and literature in US and beyond. Boston:Harvard/Belknap, 2003.
HERMANN, T. M. Knowledge, values, uses, and management of the Araucaria araucana forest bythe indigenous Mapuche Powenche people: a basis for collaborative natural resourcemanagement in southern Chile. Natural Resources Forum, v. 29, n. 2, p. 120-134.
KLANOVICZ, J. Natureza corrigida: uma histria ambiental dos pomares de macieira no sul doBrasil (1960-1990). 2007. 311 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina.Centro de Filosofia e Cincias Humanas. Programa de Ps-Graduao em Histria, Florianpolis,2007.
MWAURA MWEGA, F. Population, Health, and Environment Integration and Cross-SectorialCollaboration: Kenya Country-Level Assessment
SALVARO, T. D. A importncia da lngua Kaingng na educao escolar indgena: proibio eretomada. Florianpolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2007.
SANTOS, S. C. dos. ndios e brancos no sul do Brasil. Florianpolis: UFSC, 1987.
TOMMASINO, Kimyie ; MOTA, L. T. ; NOELLI, F. Novas contribuies aos estudosinterdisciplinares dos Kaingng. Londrina: EDUEL, 2004.
WINKLERPRINS, A. BARRERA-BASSOLS. Latin American ethnopedology: a vision of its past,present, and future.Agriculture and Human Values, v. 21, 2004.
WORSTER, Donald. Natures economy. New York: Cambridge University Press, 1998.
Rev. Bras. De Agroecologia/nov. 2009 Vol. 4 No. 2 3333