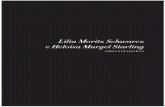Lilia Moritz Schwarcz - A Longa Viagem Da Biblioteca Dos Reis
-
Upload
long-marcio-board-mdr -
Category
Documents
-
view
96 -
download
0
Transcript of Lilia Moritz Schwarcz - A Longa Viagem Da Biblioteca Dos Reis
-
SUMRIO
Acervos pesquisados e suas abreviaturas, 9
Agradecimentos, 11
1. Terremoto ou "o mal est na terra", 15
2. A antiga Lisboa e sua Real Biblioteca, 37
3. Tempos de Pombal e os limites do Iluminismo portugus, 81
4. Uma nova biblioteca: um novo esprito, 119
5. Na "Viradeira": poltica e cultura no reinado de d. Maria, 153
6. Hora de sair de casa: a difcil neutralidade e a fuga para o Brasil, 183
7. Enfim nos trpicos: a chegada, a festa, a instalao, 225
8. O destino da biblioteca em terras brasileiras, 261
9. D. Joo e sua corte do Rio de Janeiro: cumprindo o calendrio, 287
10. O retorno de d. Joo: vai o pai e ficam o filho e a biblioteca, 343
11. Pagando caro, 387
Os livros e o diabo, 417
Eplogo, 425
Notas, 433
Cronologia, 475
Bibliografia, 487
Crditos das ilustraes, 521
ndice remissivo, 543
-
ACERVOS PESQUISADOS E SUAS ABREVIATURAS
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCJR) Arquivo Nacional da Torre do Tombo Lisboa (ATT) Arquivo Histrico do Palcio do Itamaraty Rio de Janeiro (AI) Arquivo Nacional Rio de Janeiro (AN) Biblioteca da Ajuda Lisboa (BA) Biblioteca Nacional de Lisboa (BNL) Biblioteca Municipal Mrio de Andrade So Paulo (BMMA) Diviso de Documentao Fotogrfica Lisboa (DDF) Fundao Biblioteca Nacional Rio de Janeiro (FBN)
Diviso de Manuscritos (FBN/MSS) Diviso de Obras Raras (FBN/SOR) Diviso de Obras Gerais (FBN/SOC,) Diviso de Iconografia (FBN/SI) Diviso de Msica (FBN/SM)
Gabinete Portugus de Leitura Rio de Janeiro (CPB) Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de So Paulo (IEB) Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional (IPH) Instituto Histrico e Geogrfico Brasileiro Rio de Janeiro (IHGB) Instituto Portugus do Patrimnio Arquitetnico Rio de Janeiro (IPPAR) Museu da Cidade Lisboa (MC) Museu Histrico Nacional Rio de Janeiro (MHN) /Museu Imperial de Petrpolis (ML) /Museu Nacional de Arte Antiga Lisboa (MAA) Museu Nacional de Belas Artes Rio de Janeiro (MNBA) /Museu Nacional dos Coches Lisboa (MNC) , Museu Paulista/Ipiranga (MP) Palcio Nacional de Mafra (PNM) Palcio Nacional de Queluz (PNQ)
-
AGRADECIMENTOS
Este livro resultado de um amplo projeto desenvolvido durante uatro_anos com o apoio da Odebrgiii, em parceria com a Fundao Biblioteca Nacional Seu objetivo maior recuperar o imenso acervo da Real Biblioteca hoje pertencen-te Biblioteca Nacional , cuja origem remonta prpria histria da monarquia portuguesa. A longmdagzm da biblioteca dossis, o primeiro produto desse longo processo, conta a histria da Biblioteca suas aventuras, suas polticas, seus reve-
Lses. e dos profissionais que por ela passaram. Aim dele, sero produzidos um CD-ROM com as referncias bibliogrficas da Real Biblioteca que esto sendo clas-sificados, como um todo, pela primeira vez e um livro de arte no qual sero reproduzidos tesouros dessa coleo de 60 mil volumes.
Foi a empresa Odebreht, na pessoa de Mrcio Polidoro, quem viabilizou toda a pesquisa, subsidiando viagens, contratando pesquisadotgs_ejinanciando o proje-;to como um todo. Sem esse auxlio uma boa idia no teria sado do papel.
A Fundao Biblioteca Nacional disponibilizou to da sua infra-estrutura para o. bom andamento do projeto. Na verdade, este mesmo um livro de equipe, pois contamos com a incansvel ajuda dos funcionrios da instituio. Tantos foram aqueles que nos auxiliaram que citamos apenas alguns, na tentativa de agradecer a todos. Georgina Staneck esteve do nosso lado desde a concepo inicial e foi sem-pre a mais animada das incentivadoras. Suely Dias ofereceu apoio inconteste e nos fez acreditar em uma srie de idias ainda sem cho. Vilma Gomes de Melo, secre-tria da coordenadoria, incumbiu-se dos recados e prstimos desses longos anos de trabalho. Carmem Tereza Coelho Moreno, Vera Lcia Miranda Faillace, Taiza Ca-bral Fernandes e Lcia Nolasco Ferreira, dentre tantos outros funcionrios da Di-viso de Manuscritos, encontraram documentos impossveis e empenharam-se para achar tantos outros. Celina Coelho de Jesus, alm de trabalhar na classificao dos documentos da Real Biblioteca, nos permitiu ler garranchos indecifrveis. Na Di-viso de Obras Raras contamos com a amizade de Rejane Arajo Benning e sua de-dicada equipe que, alm de providenciar um eterno vaivm de obras, no parou de fazer sugestes e, em especial, com a ajuda diria de Maria do Rosrio de Ftima Martins Cardoso Martinho e de Claudia Cristiane da Fonseca Mayrink.
-
7 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
Glcia Campos, da Diviso de Msica, apresentou partituras desconhecidas, obras e documentos raros de sua rea. Na Diviso de Obras Gerais, Vera Califfa e Ana Naldi emprestaram sua experincia para que consegussemos localizar uma srie de obras de difcil acesso. Ana Lgia Medeiros e Amanda Lopes Ares coordenaram com profissionalismo a pesquisa na Biblioteca Nacional. Na Cartografia tivemos a ateno de Praxides Silva das Dores, Maria Dulce de Faria e Dulcila Maria Castel-lo Branco Gomes. Na Diviso de Iconografia, Joaquim Marcai, Mnica Carreiro Alves e Lia Pereira da Cruz trouxeram novo nimo pesquisa, apresentando do-cumentos importantes e auxiliando na descoberta de outros; a iconografia deste livro deve muito a eles. Por fim, e principalmente, agradecemos ao professor Eduar-do Mattos Portella, presidente da Fundao Biblioteca Nacional, que desde o in-cio do projeto foi referncia e inspirao.
Tambm na Biblioteca Nacional e em outros acervos cariocas, convivemos com diversos pesquisadores que sugeriram leituras, deram informaes e abriram novas perspectivas de anlise como Nireu de Oliveira Cavalcanti, Regina Wan-derley, Oswaldo Munteal Filho, entre tantos outros.
A pesquisa alcanou ainda o Instituto Histrico e Geogrfico Brasileiro, onde tivemos o auxlio de Pedro Trtima, que nos guiou por entre as Revistas do Insti-tuto, bem como pelas inmeras obras que compem aquele rico acervo. Alm dele lembramos dos nomes de Lcia Alba da Silva, com quem trocamos idias logo no incio da pesquisa, e de Jos Luiz de Souza.
No Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, encontramos novos "conselheiros" estratgicos, dos quais destacamos apenas alguns: Jaime Antunes, Mary dei Priore e Mauro Lerner Markowski.
Foram investigados tambm os acervos do Arquivo Histrico do Palcio do Itamaraty; do Gabinete Portugus de Leitura onde contamos com o auxlio de Francisco Luiz Borges Silveira e das bibliotecrias Vera Lcia de Almeida e Carla Rosa Martins Gonalves e do Museu Histrico Nacional, sendo que l tivemos a acolhida atenciosa de Jos Neves Bittencourt.
Em Portugal fizemos amigos que j parecem antigos. Na Biblioteca Nacional de Lisboa, dra. Manuela D. Domingos foi a mais generosa anfitri que poderamos ter; nos deu pistas, indicaes e fez de tudo para que a pesquisa seguisse a conten-to. Ela basicamente a fada madrinha honorria desta pesquisa. Na Seo de Ico-nografia, dra. Graa Garcia fez milagres, mostrando em uma semana um acervo que deveria ser visto em mais de dois meses. Ana Maria Farinha garantiu a repro-duo de imagens retratos e desenhos portugueses que propiciaram um panorama mais amplo para este livro. Por fim, agradecemos ao diretor, dr, Carlos Reis, e subdiretora, dra. Fernanda Campos, que nos receberam em sua institui-o com grande cordialidade.
No poderamos ter tido acolhida mais profissional e competente no Museu da Cidade.de Lisboa. Somos gratos dra. Ana Cristina Leite e em especial dra. Maria do Rosrio e dra. Maria de Lourdes Garcia, que permitiram o acesso a imagens que se encontram reproduzidas neste livro. No IPPAR Instituto Portugus do Patri-
-
A G R A D E C I M E N T O S 1 3
mnio Arquitetnico contamos com o apoio valioso do dr. Lus Calado e da dra. Paula Delgado, que providenciaram vrias reprodues iconogrficas dos acervos de museus portugueses. Na Biblioteca da Ajuda, alm da recepo do dr. Francisco Leo, tivemos a ajuda da dra. Cristina Pinto Bastos, que nos guiou por entre fich-rios labirnticos. No Museu Nacional de Arte Antiga obtivernos autorizao para reproduzir imagens a partir da confiana de seu diretor, o dr. Jos Lus Porfrio, e do dr. Dagoberto Markl. Por fim, na Documentao de Diviso Fotogrfica conhece-mos a dra. Tania Olim, que prontamente selecionou as ilustraes requeridas.
Ao longo desta pesquisa trabalhamos com trs consultores que cumpriro um papel ainda mais evidente no outro livro vinculado a este projeto uma obra que contar com muitas imagens, em boa parte inditas, do acervo da Real Biblioteca. No entanto, seus conselhos e sugestes extrapolaram os limites precisos de suas tarefas e acabaram influenciando, tambm, no formato desta edio. So eles; Lorenzo Mammi, Pedro Corra do Lago e Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha. D. Lygia, com sua inestimvel experincia na Biblioteca Nacional e nesse mundo dos livros, amparou dvidas, deu pistas, indicou caminhos.
Agradecemos ainda Universidade de So Paulo pelo apoio pesquisa e pelo amparo de sempre dos amigos do Departamento de Antropologia.
Essa pesquisa contou com a sorte de ter duas grandes pesquisadoras acompa-nhando o trabalho, tal qual anjos da guarda. Lcia Garcia esteve presente pratica-mente desde o incio do projeto, e fez de tudo um pouco e muito; investigadora incansvel, dona de um grande senso de equipe, levantou a documentao, checou os textos finais, refez a bibliografia e ajudou nas legendas. Fernanda Terra selecio-nou a iconografia existente na Biblioteca Nacional, responsabilizou-se por todas as interminveis "438 legendas", e trabalhou com a maior dedicao, apesar do tempo exguo. Nessa seara ainda, contamos com as lentes espertas de Jaime Acioli, que cli-cou todas as infindveis imagens colhidas na Biblioteca Nacional. Maria Carolina ]. Graciottu, na Reminiscncias, cuidou de no esquecer dos recados do dia-a-dia.
O pessoal da editora Companhia das Letras, como um todo, mas especialmen-te Maria Emlia Bender, Elisa Braga, Fabiana Roncoroni, Rita Aguiar, Cristina Yamazaki, Cntia Lublanski, Eliane Trombini, Paulo Werneck e Salete Leo, desdo-brou-se com a competncia e o carinho necessrios para que este livro fosse editado no tempo certo. Fernando Nuno Rodrigues acabou se revelando um timo conselheiro das letras. Hlio de Almeida, Sylvia e Nelson Mielnik mais uma vez mos-traram como um livro como este mesmo obra conjunta e uma ao entre amigos.
Por fim, resta lembrar do auxlio de foro ntimo, que essencial. Carmen Lcia de Azevedo esteve conosco na primeira viagem a Portugal e, alm de driblar os dedos com tanto xerox, foi apoio de todas as horas. Cristina Zahar foi mais uma vez anfitri e confidente, dividindo dvidas e inquietaes. Renato Prado Guima-res leu parte dos captulos 6 e 7 e fez correes e sugestes pertinentes. Os amigos e familiares Pedro (sempre presente com suas questes), Lel, Noni, Beto, Titi (e por meio deles todos os Moritz e coligados), Doca e Guga, Camila e Thiago, Hel, Srgio, Teca, Guita, Any deram dicas e sugestes sempre acertadas.
-
1 4 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
Este livro teve, ainda, trs leitores assduos que acompanharam cada pgina e reclamaram de muitas: Luiz Henrique foi leitor crtico de contedos, vrgulas e pontos. Julia j fiel companheira; alm de ler tudo ainda ajudou com as imagens. Luiz anotou o original inteiro, mais uma vez com a crtica, o carinho e a criativi-dade que lhe so to prprios; devemos um eplogo a ele e muito mais.
Mas um livro como este no se encerra e ponto. Assim como as infinitas clas-sificaes e projetos de nossa Real Biblioteca, este livro que acaba de ser finalizado, pelos seus Agradecimentos, parece no ter fim.
So Bento do Sapuca, 9 de agosto de 2002
P. S.: Em meio ao processo de edio deste livro, j com o texto terminado e com os deta-lhes editoriais quase definidos, Paulo Csar adoeceu gravemente. Faleceu em 11 de agosto de 2002, e infelizmente no pde ver concludo o trabalho para o qual tanto contribuiu. Com este livro, guardamos a memria de um amigo que deixa tanta saudade.
-
TERREMOTO OU "O MAL EST NA TERRA"
1. Vista de Lisboa: uma "jia" na Europa com o Tejo a seus ps. Pierre A. Vander, FBN
2. Alegoria de um casal frente de Lisboa: a alegria e a calma no sinalizavam o mau agouro do que estava por vir.
Pierre A. Vander, FBN
-
1 6 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
Bem podia compor muitos volumes do que reduzo a poucas pgi-nas; porm um reino todo metido em confuso e desordem, uma capital enterrada, nas suas mesmas runas, um povo inteiro como presa das chamas, quarenta mil pessoas subitamente feridas do ltimo golpe da morte, a fortuna de duzentos mil vassalos destru-da; uma perda geral de mais de dois mil milhes, representando um triste quadro da inconstncia das coisas humanas deve ser mais emprego da imaginao que trabalho da. pena; por cuja razo me pareceu melhor reduzir a relao deste acontecimento ao aconteci-mento mesmo.
Enviado holands annimo, 1765'
Philosophes tromps, qui criez Toutest bien, Accourez, contemplez, ces ruines affreuses, Ces dbris, ces lambeaux, ces cendres malhereuses. Ces femmes, ces enfans, l 'un sur l 'autre entasss, Sous ces marbres rompus ces membres disperss; Cent mille infortuns que la terre devore, Qui sanglans, dchirs et palpitam encore, Entrrs sous leurs toits, terminant sans secours, Dans 1'horreur des tourmens, leurs lamentables jours. Lisbonne qui nest plus, eut-elle plus de vices Que Londres, que Paris plongs dans les dlices? Lisbonne est abime, et l'on danse Paris. Tranquilles spectateurs, intrpides esprits, De vos frres niourans contemplam les naufrages, Vous recherchez en paix les causes des orages; Mais du sort ennemi quand vous sen tez les coups, Devenus plus humains, vous pleurez comme nous.*
Voltaire, Le desastre de Lisbonne, 1756
* "Filsofos iludidos, vs, que proclamais: 'Tudo est bem' acorrei, contemplai estas runas medonhas, estes destroos, estes farrapos, estas cinzas desafortunadas, estas mulheres, estas crianas empilhadas umas sobre as outras, estes membros dispersos sobre os mrmores despedaados; cem mil infelizes que a terra devora, ensangentados, dilacerados e de corpos ainda palpitantes, enterra-dos sob os tetos de suas casas, terminando sem assistncia alguma, no horror dos tormentos, sua vida lamentvel. Lisboa que no mais existe, teria ela mais vcios que Londres, que Paris, mergulhadas no prazer? Lisboa est destruda, e danam em Paris. Repousados espectadores, espritos intrpidos, a contemplar o naufrgio de seus irmos moribundos, buscam tranqilamente as causas do desastre; porm, quando sentem na carne os golpes da sorte inimiga, tornam-se mais humanos, choram como ns." (N. E.)
-
T E R R E M O T O O U " O M A L E S T N A T E R R A " 1 2
Era o dia de Todos os Santos, lg de novembro, de 1755. A manh se anuncia-va promissora: o cu lmpido, a temperatura amena de 17,5 graus e o ar tpido nada fazia entrever a catstrofe que se aproximava. Ao contrrio, a jornada apre-sentava-se prpria para o "cuidado das almas" e as igrejas, apinhadas de gente, faziam badalar os campanrios, ao mesmo tempo que os sinos soavam pelos qua-tro cantos da cidade de Lisboa, chamando a populao para a missa. Tudo lem-
I brava calmaria a orquestrao de preces, as nuvens de incenso de cheiro to peculiar, as roupas caprichadas dos dias feriados e os cumprimentos amistosos entre vizinhos. Tudo fazia daquele de novembro um dia santificado, prprio para a exaltao da glria de Deus, naquela capital to afeita a demonstraes religiosas.
Por isso mesmo, o primeiro alarde soou como um aviso dos cus, um sinal de que o mau agouro vinha para ficar. Dizem as testemunhas que o que se seguiu foi rpido e vigoroso: um apavorante trovo subterrneo, um ronco surdo que surgia das profundezas. Como uma manada de elefantes, o movimento levou tudo consi-go: paredes se moviam e tombavam, de repente frgeis, imagens se deslocavam, as pessoas fugiam desordenadamente e, no cho, acumulavam-se os corpos de gente esmagada, pisoteada e morta.
As agruras do dia, porm, estavam s por comear. Aps trs abalos consecu-tivos, que duraram poucos minutos, um fogo devastador incendiou o que restava para destruir: consumiu edifcios, derreteu riquezas e matou aqueles que estavam dentro de casa. Por sinal, foram as chamas as culpadas da maior parte dos preju-zos. Uma testemunha escreveu que, "se a cidade o no tivesse sofrido, a sua runa teria sido rapidamente reparada".2 O fato que depois do fogo s se ouviam mur-mrios e preces: tudo soava como um grande pedido de misericrdia. Castigo divi-no ou sinal dos cus, ali estava uma mensagem difcil de ser decifrada por essa gente to dada a supersties e alardes de ordem sobrenatural.
Um enviado holands lamentava a m sorte, assim como anotava uma srie de "coincidncias", divinas ou de outra grandeza: A A ' ' ; % \
No h sobre a terra monarquia jhnais sujeita a grandes revolues que esta de Portugal que se acha cheia de notveis acontecimentos. Se se passa a Histria se v que nenhu-ma Nao na Europa tem sido exposta a fenmenos mais extraordinrios. Tem-se visto Lisboa muitas vezes destruda por causas sobrenaturais: fogos subterrneos saindo da terra [...], formidveis furaces [...].'
Um sdito portugus,4 usando o pseudnimo de Amador Patrcio de Lisboa, tambm reclamava da triste sorte de sua nao: "No dia 1 de novembro de 1755, ano eternamente fatal na Histria Portuguesa [...] se viu Lisboa surpreendida com um terremoto dos mais horrorosos que a tradio conserva, ou descrevem os livros".5
Nos versos de Jos Moreira de Azevedo sobrava uma mistura confusa de sen-saes:
-
T E R R E M O T O O U " O M A L E S T N A T E R R A " 1 4
6. "Fantasias do terremoto de 1755" (verso holandesa): o Tejo devolveu tudo aquilo que l se depositara. FBN
7. "Fantasias do terremoto de 1755": Vista alem da cidade de Lisboa. A estampa superior representa uma vista rasantepanormica da cidade antes do terremoto.
A inferior uma vista da cidade na ocasio do terremoto e do incndio que se lhe seguiu: na representao, a imagem estampada do pnico. FBN
-
2 0 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
Vem um sbado festivo; O sol vivifica as flores; As aves cantam amores Com requebro alternativo: Vestes a gala, ascivo, Vais a Igreja profanar; E sem de Deus te lembrar Treme o templo horrorizado, Cai e castiga o pecado, Que nele vens a pagar [...]*
Diferente e conciso o relato legado pelo cnsul britnico Edward Hay, que, duas semanas aps o terremoto, tentou dimensionar, sem tantos devaneios, o impacto do cataclismo: "O primeiro abalo comeou s quinze para as dez da manh e, pelo que pude calcular, durou seis ou sete minutos e depois de quatro horas esta grande cidade estava em runas".7 O horrio exato variava, na pena dos mais ou menos afoitos.8 O que no mudava era a descrio da tragdia que se ins-talou naquela ocasio: prdios destrudos, cadveres nas ruas e pessoas que peram-bulavam de um lado a outro procura de parentes desaparecidos ou fugindo de no se sabe o qu.
Mas a sucesso de horrores continuava. Aps os abalos, enquanto o incndio continuava vigoroso, as guas do Tejo subiram rapidamente de seis a nove metros. Ou seja, em torno de uma hora aps o primeiro tremor, alguns sobreviventes, ainda atnitos, olharam para o porto e notaram que as guas pareciam vazar para o oceano: tratava-se de um refluxo motivado pelo terremoto que estourara em alto-mar. Segundo os testemunhos, a zona porturia teria ficado quase seca, e seu leito um tanto lodoso. Ao certo, ningum pode afirmar o que aconteceu; sabe-se porm que, em poucos minutos, o legendrio Tejo elevou-se a uma altura inacreditvel. Assim, aqueles que haviam resolvido fugir do fogo correndo para as guas no tive-ram melhor sorte, uma vez que estas, de tal maneira agitadas, trouxeram de volta barcos, despojos e, com eles, corpos j sem vida.
O resultado desse acmulo de desastres que, logo depois do incidente, pouco se via alm de escombros. Pior ainda: ao invs do pacato cotidiano lisboeta, o com-panhe i r o de todas as horas passou a ser o pnico rixas, rapinas e toda sorte de violncia estouraram nas ruas, enquanto a desordem tomava conta da cidade e o descontrole fazia das suas. Isso tudo porque aqueles que continuaram vivos apro-veitaram a oportunidade para pegar o que no era seu, j que em menos de um minuto o que tinha dono ficou sem.
As mortes foram tantas e to repentinas que nunca se soube ao certo o seu nmero. Os documentos oscilam nas avaliaes, mais ou menos otimistas, e mui-tos revelam as falcias do governo portugus ao mensurar no s a mortandade, mas tambm o prprio nmero de sobreviventes. Alguns estrangeiros chegaram a arriscar, j na poca, suas projees. No entanto, vigorou a absoluta falta de regis-tros oficiais. Conforme dizia um documento:
-
T E R R E M O T O O U " O M A L E S T N A T E R R A " 2 1
este acontecimento escondera para sempre a verdadeira soma dos males que causou; e certamente jamais se saber neste Reino nem em algum outro da Europa o preciso nmero de homens que pereceram em to horrvel terremoto.
Por outra parte, em termos polticos se constitua um novo embarao:
sendo Portugal um Reino bastante despovoado, esta nova diminuio de vassalos po-dia fornecer a qualquer Estado vizinho uma oportuna ocasio de alguma empresa so-bre ele: era logo do seu interesse esconder o nmero real que acabava de perder.
Com efeito, apesar de momentaneamente serenada, a situao poltica euro-pia estava longe da calmaria, e os anos de guerra, assim como as lembranas dos tempos da Unio Ibrica (de 1580 a 1640), permaneciam bastante vivos.9
De todos os ngulos que se observasse, parecia melhor para o governo portu-gus esconder ou aliviar o nmero de mortes, uma vez que a situao fragilizava a j instvel posio de Portugal no cenrio europeu. Por isso, as poucas relaes existentes foram escritas, em sua maior parte, pelos ministros estrangeiros, que faziam subir o nmero de falecimentos casa dos 100 mil, passando a impresso geral de que a morte rondava de perto. Como relata o viajante holands, "um que escapou nesta ocasio julgou que tudo tinha perecido e que s ele ficara salvo, escrevendo logo que se viu seguro".10
Diante de tamanha confuso os nmeros danavam. O nncio papal calculou em 40 mil o nmero de mortos, outros falavam em 70 ou 90 mil, o futuro marqus de Pombal reduziu o clculo a 6 ou 8 mil." Cartas escritas logo depois do evento se referem a cifras que oscilam entre 70 e 85 mil mortos; o capito de um navio sueco, ancorado nas redondezas, chegou a arriscar o nmero de 90 mil para os fale-cimentos.13 O certo que, numa populao estimada pelo historiador Jos Frana em 250 mil habitantes, pelo menos entre 15 e 20 mil teriam sido mortos isso sem contar toda uma outra parte diretamente afetada pelos abalos e desastres sucessivos.
Entretanto, nesse quesito a tragdia no agiu com igualdade, e alguns tiveram pior sorte do que outros. O povo foi mais castigado, pois assistia missa logo de manh, como era o costume nos dias santos de guarda. Por estranhos caminhos, o que at ento era lugar de devoo se transformava, inesperadamente, em arma de destruio. Afinal, so muitos os relatos que descrevem como as abbadas das igre-jas e capelas vieram abaixo, matando fiis concentrados em suas oraes:
Como fosse dia de Todos-os-Santos tinha eu ido missa Igreja do Carmo dizia Jcome Ratton cujo teto era de abbada de pedra e matou de muito povo que ali se achava, de cujo perigo escapei por ter ido mais cedo [...] O descampado daquele alto que estava dava lugar vista do mais horrvel espetculo das chamas que a devoravam cujo claro alumiava, como se fosse dia, no s a mesma cidade, mas todos os seus contornos, no se ouvindo seno choros, lamentaes e coros entoando o Bendito, ladainhas e Miserere [..,].13
-
2 2 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
Mas, se o nmero de mortos foi grande, poderia ter sido maior, j que, para felici-dade de alguns, no era ainda a hora da missa principal nas parquias, que s comeava em Lisboa depois das dez horas. Por isso, boa parte da nobreza escapou, alm de muitos representantes do clero, pois "gente de distino" costumava fre-qentar a missa a partir das onze da manh.
Tambm um outro tipo de fortuna fez com que muitos vassalos se Livrassem da m sina: o clima do pas levou vrios sditos a prolongar sua permanncia no campo.
Aqueles que tm estado em Portugal e principalmente em Lisboa sabem que ainda ali no h estaes ou para melhor dizer que no h mais que uma perptua primavera. Ora, o ms de novembro em este Reino corresponde ao ms de abril em Frana e reservado para cada um viver no campo sem vir cidade, porque em cada casa de campo h capelas.14
Parte significativa da populao, sobretudo entre os nobres, encontrava-se fora de Lisboa e ouvira falar do desastre de longe, sem ter sido atingida pela mor-tandade geral.
Outro desgnio, ainda, marcou a histria dessa catstrofe. Todos os ministros estrangeiros, com exceo do representante da Espanha, se salvaram. O ministro da Frana, que no perdeu uma s propriedade, conseguiu at retirar seus objetos mais preciosos e mesmo seus mveis ordinrios. Os prprios testemunhos comen-tavam com certo escrnio a fortuna dos representantes estrangeiros:
Desde a criao do mundo pode ser no houvesse infelicidade, permita-se-me dizer assim mais feliz para os estrangeiros. Em toda a extenso [...] no em tudo mais que trs ou quatro estrangeiros que perecessem e assim em outros bairros.15
Praticamente toda a Casa Real foi preservada, uma vez que, o tempo estando bom, os monarcas ficaram em Belm (que distava onze quilmetros do Pao da Ribeira), "tomando a fresca". Conta-se at que o rei d. Jos demorou a se dar conta da extenso da tragdia que arrasara a capital de seu Imprio. O fato que os so-beranos escaparam de morte certa, j que o Palcio da Ribeira, sua morada em Lisboa, veio abaixo: era a velha "sorte dos reis". Notou-se, ainda na poca, que o fla-gelo recara inteiramente sobre o chamado "povo mido", como se a natureza mi-rasse alvo certeiro.
Assim, a despeito de tantos infortnios, alguns poucos alvios restavam: a corte estava fora da cidade, s oito fidalgos constavam da lista de falecimentos, e grande parte do prprio povo teria sido de alguma maneira poupada, em funo da hora matutina do acontecimento e do dia feriado, Um informante annimo dessa maneira, resumiu a situao: "Talvez nunca tivesse havido, desde a criao do Mundo, mais feliz desgraa".16
-
T E R R E M O T O O U " O M A L E S T N A T E R R A " 1 8
8. Belm: vista do porto, da igreja, da torre e de Cascais. Pierre A. Vander, FBN
A dimenso e as repercusses do acidente no ficaram, porm, restritas ao local em que tudo aconteceu: afinal, um desastre semelhante jamais havia ocor-rido numa cidade to populosa como Lisboa. Por isso mesmo, gerou um debate, em que as posies oscilavam. De um lado, explicaes mais racionalistas atri-buam a catstrofe a desgnios de ordem natural: estavam na natureza e em seus caprichos as explicaes para o sucedido. De outro, ganhavam fora interpreta-es que recuperavam supersties locais e entendiam a tragdia sob lentes mais msticas.
Em Portugal, o momento parecia propcio para profecias de toda ordem, so-bretudo diante de uma populao dada a pressgios e augrios. O terremoto atin-gia em cheio o corpo do sebastianismo conjunto de crenas daqueles que acre-ditavam no retorno de d. Sebastio, rei portugus desaparecido em 1578, aos 24 anos, durante uma cruzada no Marrocos, e desde ento vinculado aos tempos glo-riosos do Imprio e ensejava a retomada de falas messinicas, mais se asseme-lhando a um episdio j previsto: uma nova desgraa que surgia como parte da cartilha dessa religiosidade de fundo popular. A fria do cataclismo, na pena dos mais supersticiosos, tomava a forma de um velho ajuste de contas, tantas vezes nomeado nos livros do sapateiro Bandarra; se originalmente ele profetizara a volta de um Rei Encoberto, nesse contexto o fenmeno virava novamente matria de premonio:
-
2 4 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
Na era que tem dois cincos Entre madeiras armadas, Vejo dar umas passadas E uma galinha com pintos Prognostica grandes gritos De gente despedaada. No deito mais longe a barra Fico batendo na testa {...] Cuidem-me agora nesta Profecia de Bandarra."
Nessas horas, como era de esperar, os pressgios apareciam por todo lado, narrando boca a boca histrias, casos e exemplos daqueles que muito tempo antes teriam previsto tal catstrofe. Na cidade de Louriai, uma freira de nome Maria Joana teria recebido Cristo, e este lhe haveria dito que chegara a hora de os habi-tantes de Lisboa serem castigados por suas maldades. Outra freira teria segredado a seu confessor, mais de cinco vezes, que Lisboa estava condenada e que nada mais restava a seu povo que orar pela salvao. Um terceiro profeta, devoto sebastianis-ta, chegou a proclamar que a cidade seria destruda no dia de Todos os Santos, Ia de novembro, de 1752, e que na primavera seguinte d. Sebastio voltaria como mes-sias. Por sinal, aqueles que conheciam tal histria aguardaram qualquer aconteci-mento no fatdico ano, e tambm em 1753 e em 1754 e nada. Na prpria manh do primeiro dia de novembro de 1755, o padre Manuel Portal acordou tomado por um pesadelo: Lisboa seria esmagada por um grande terremoto e seu mosteiro se desfaria em runas, exatamente como aconteceu. O religioso se levan-tou, foi missa orar c logo depois tudo ocorreu como num sonho: em poucas horas, quase nada sobrava de sua igreja; o padre teve uma das pernas esmagada, mas sobreviveu para contar suas vises, assim como para ouvir confisses e dar absolvies.18
At mesmo os mais cticos, que proclamavam no acreditar em pressgios, acabavam, por vezes, enredados na teia que procuravam desfazer. Em documento annimo, datado de 1756 e intitulado Carta em que se mostra a falsa profecia,19 o autor confessa "que as profecias que se no ouvem, antes de completas no persua-dem", como que reconhecendo uma certa inclinao para vaticnios. E acrescenta: "Grande profeta aquele que consegue acomodar qualquer profecia". Com efeito, uma srie de casos pareciam ser suficientes para que nosso amigo annimo con-clusse que "o povo tudo cr, e o nosso est pronto at para acrescentar quanto for notcia triste, pois entre ns de qualquer eco se faz trovo". De toda maneira, a carta revela como nem todos eram afeitos a explicaes de ordem sobrenatural, e, ao contrrio, procuravam alertar o rei sobre os perigos desse tipo de explicao: "Desculpe V. M. a pobreza das notcias, porque depois do terremoto s me ficaram esses montes de livros [...] em que estudo os tristes desenganos do mundo e as flo-res do campo, em que leio as agradveis lisonjas do Cu. Ele guarde a V. M. e nos
-
T E R R E M O T O O U " O M A L E S T N A T E R R A " 2 5
livre dos sebastianistas para sossego da repblica, crdito da Ptria e respeito do trono"2"
Motivo de muitas encenaes, o acidente tambm fez, de algumas histrias particulares, lendas de alcance maior. Conta-se que um certo conde da Ribera cor-tejara durante nove anos uma jovem donzela, sendo plenamente correspondido. Contudo, o pai da jovem no se mostrava favorvel ao enlace e s permitiu o casa-mento quando, vencido, notou que o casal no abandonava seu propsito. Os noi-vos mal haviam recebido a bno do sacerdote quando ouviram o primeiro abalo provocado pelo terremoto. O jovem casal fugiu do local e pensou que escaparia com vida a bordo de uma embarcao. No entanto, e como sabemos, as guas se levan-taram e tragaram as embarcaes, inclusive a dos recm-casados. Entre o mito e a realidade, fiquemos com os dois: o caso do conde da Ribera um bom pretexto para incendiar as imaginaes da segunda metade do sculo xvni.2'
Com efeito, logo aps o terremoto, os casos e as interpretaes eram muitos. Jos Moreira de Azevedo escreveu no ano de 1756 um opsculo dedicado a "Jesus Cristo Crucificado", e o intitulou Desterro da iniqidade sobre o espantoso terre-moto com que a Divina Justia avisou aos pecadores, isso sem esquecer de oferec-lo a si prprio, uma vez que a boa sina lhe permitira escapar da Ira Divina.22 O folheto discorria sobre o alvio dos sobreviventes, mas tambm acerca dos temo-res perante aquela "figura irada", que bem podia ter sido a responsvel por tanto infortnio. No obstante, para garantir seu sustento, o autor no se esquecera de, ao final da obra, deixar registrado onde se podia compr-la: "Vende-se na mesma Oficina na Calada de Santa Anna, defronte de Nossa Senhora da Pena". Afinal, quando o assunto implicava f, no faltavam clientes para agradecer o desconto feito por Deus.
Tambm no foram poucas as polmicas relativas ao teor dos primeiros rela-tos. Na Carta anatmica [annima] que escreve um amigo do Porto a outro de Coimbra, em que se faz juzo da carta, que saiu dando notcias do terremoto de Lisboa, o autor estabelece alguns reparos s observaes de uma testemunha. Por exemplo: "quando se disse 'a terra se abriu em Cavernas profundas' essa espcie de notcia para se mandar para o Japo! O que ns presenciamos foram umas pequenas fen-das nos lugares de Riba-Tejo e em outros onde o impulso da terra foi mais vigoro-so. O mais pio".'1
Contudo, o tom geral era diferente. Diante de tanta desgraa, e com o passa-do que tinham, os portugueses pareciam pouco dispostos a ficar sem milagres. Pretextos no faltavam. Milagre foi a imagem de Nossa Senhora do Carmo ter se conservado dentro de um convento arruinado pelo fogo, um padre ter sobrevivido destruio de sua igreja, ou uma criana ter permanecido viva nos braos de sua me morta. Exemplos e casos eram muitos, e infinitamente superiores s demons-traes de racionalidade. Por outro lado, os versos que se ouviam nas ruas logo aps a tragdia s comprovam como se espalhavam os sentimentos religiosos e o medo diante desse Deus, agora, vingativo:
-
2 6
W T C O L L E C A O
ahj/una nww c)c Jslboa camaapelo
la/mwlo epclofogo dopruna/v dellmcmh.7l.o turno 175.6. /^tt wA' na- meama Ctdadz-porMM. Parui cr JVth-yac/u^ J '
r/vV/Ai a a /jri/,-j>; P,iru p.ir 5filt>. P/l - Lc .
Jc pii) /?r7/i/7////1V (Jc JMojznautccpar k trem
'e/nm/ et parle/eu du pireni/er tHovemlwO tyoo Dc.r.nuc. .cut- !c.\ (ictt.r prMi. Pnm tt Pt/)/,. .
.^itc P/i.Ij- invwui lrriti.mir rhr Ca/nn.-t
9. Runas do terremoto: quando a destruio j parte at da imaginao. Imagens de Jacques Philippe Les Bas (1707-1783), FBN
10. Runas da torre de So Roque. FBN
11. Runas da igreja de So Paulo. FBN
-
T E R R E M O T O O U " O M A L E S T N A T E R R A " 2 7
12. A at ento grandiosa praa da Patriarcal. FBN
14. O que restou do recm-inaugurado 15. Sobras da igreja de So Nicolau. FBN Teatro da pera. FBN
-
2 8 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
Geme a terra insensvel, dando gritos, Nas cncavas cavernas, quando admira,
Que por altos decretos in finitos, Irado contra o mundo, um Deus conspira. Uma terra inculpvel, sem delitos, O castigo receia, teme a ira, E no receia os golpes desta espada, A que deve temer ser castigada.24
No era, porm, s em Portugal, pais marcado por religiosidade extrema, que o fenmeno ganhava novas propores. At no estrangeiro a tragdia parecia reper-cutir na imaginao dos contemporneos, que tambm viram abaladas suas certe-zas nas obras de um Deus benevolente. Vasta bibliografia sobre o tema foi publica-da em pases como Alemanha, Holanda, Inglaterra, Itlia, Espanha e Frana. Goethe, que em 1755 tinha apenas seis anos, ainda aos sessenta se lembrava do terremoto, em suas memrias: "Porventura em tempo algum o demnio do terror espalhou-se por toda a Terra com tamanha fora e rapidez, o arrepio do medo". Longe da determinao da natureza e de seus desgnios, a notcia de que uma das afamadas cidades da Europa havia sido reduzida a runas parecia tocar de perto a todos. "Em 1Q de novembro de 1755", escreveria Goethe em Poesia e verdade, "deu-se o terremoto de Lisboa e, num mundo que j se habituara paz e tranqilidade, espalhou-se imenso terror."25 A concluso do futuro autor de Fausto era que Deus "no se mostrara nada paternal ao abandonar os justos e os mpios a uma des-truio semelhante. Em vo minha mente juvenil procurava fortalecer-se contra as impresses. E isso era ainda menos possvel na medida em que os homens doutos, versados na Escritura, no conseguiam chegar a um acordo sobre como encarar aquele fenmeno".26
A catstrofe de Lisboa acirrava o debate sobre a questo do otimismo, alm de gerar questionamentos acerca da existncia de Deus, e de sua fora moral, como regenerador do universo. Enquanto alguns pensadores insistiam em jogar para as vtimas a culpa de todas as desgraas, outros, como Voltaire, rejeitavam tais dog-mas, mostrando que "o mal est na terra". O filsofo, que costumava caracterizar Portugal como uma terra de catstrofes absurdas e atolada por supersties, ironi-zou a situao em sua obra Cndido ou o otimismo-. "As autoridades portuguesas no conseguiram pensar em nada melhor do que dar ao povo um esplndido auto-de-f".27 O tema, no entanto, no parecia propcio a piadas e chistes. Em seu poema "O desastre de Lisboa" (1756), Voltaire se dirigia aos "filsofos enganados que gri-tam que tudo bom", e provocava todos aqueles que se resignavam s certezas dos cus e da terra.
Jean-Jacques Rousseau, quase vinte anos mais novo do que Voltaire e seu vizi-nho em Genebra, aproveitou o momento para refutar as idias do colega, retoman-do a premissa de um Deus bom. Segundo sua interpretao, tal assertiva deveria ser entendida como lei, no podendo ser invalidada nem mesmo por uma fora
-
T E R R E M O T O O U " O M A L E S T N A T E R R A " 2 9
natural que destrura dezenas de milhares de seres humanos. Para comear, per-guntava o jovem filsofo, "por que estavam todas aquelas pessoas atravancadas em Lisboa?".211 Dessa maneira, se a natureza era boa, nenhum evento natural poderia ser de todo ruim, Assim, contrapondo-se ao ceticismo de Voltaire, Rousseau enten-dia que at os terremotos teriam seu papel na ordem natural. Como se v, uma vasta literatura internacional ocupou-se do acontecimento, figurado tambm em numerosas gravuras que se espalharam por todos os cantos mesmo porque, quando se trata de tragdia, a curiosidade sempre aguada.
Bastante diferente era, porm, a situao vivida em Portugal, sobretudo em face das enormes perdas materiais. Sob esse ngulo, pouca serventia tinham tais embates. Muitos edifcios, documentos e tesouros artsticos desapareceram, consu-midos pelo fogo que ardeu durante seis dias no centro da cidade de Lisboa, preci-samente na zona em que se concentravam palcios e monumentos histricos. Comentava-se que cerca de metade das casas haviam sido arruinadas, alm de pr-dios pblicos, igrejas, conventos, residncias de estrangeiros, palcios de muitos fidalgos e, finalmente, o prprio palcio real. Todo o conjunto monumental que compreendia o palcio construdo no sculo xvi e aumentado na poca de d. Joo V (1689-1750), o Teatro da pera, inaugurado pouco antes da catstrofe, e a cape-la real erguido desde d. Manuel i, e ampliado por tantos reis portugueses at d. Jos, tudo ficou irremediavelmente destrudo. Alm disso, calcula-se que um tero da cidade tenha sido arrasado, no s pelos abalos do terremoto como tambm pelo fogo e pelo maremoto que a ele se seguiram.
Os destroos foram ainda maiores em certas regies, que quase desaparece-ram do mapa, transformando-se em um amontoado de detritos e lixo acumulado pelas ruas. Assim, se o nmero de vidas humanas perdidas, apesar de elevado, foi menor do que poderia ter sido, o de edificaes destrudas foi superior ao imagi-nado. De forma geral, toda a cidade de Lisboa foi atingida. Apesar de certos bair-ros terem sido poupados, comentava-se, com respeito s habitaes, que mais da metade rura e que at mesmo as casas preservadas pelo terremoto tiveram seus ali-cerces abalados, Isso sem falar dos principais edifcios o Palcio Real, a Igreja Patriarcal, a Alfndega, o antigo monumento onde se vendia o trigo, a carniceira, a Casa do Peixe, o Palcio da Inquisio, o Teatro Real , que, em funo de sua estrutura mais delicada, ficaram totalmente arruinados.
Tampouco as parquias escaparam.29 Das quarenta igrejas paroquiais de Lisboa, 35 desmoronaram, arderam ou ficaram em runas; apenas onze conventos dos 65 existentes continuaram habitveis, embora com danos.3" Era sabido que, na poca, Espanha e Portugal possuam grande quantidade de templos, cuja magnifi-cncia era conhecida at no exterior. No perodo de d. Joo V, mais que em todos os outros, o reino foi adornado por igrejas ricamente decoradas com ouro e prata espalhadas por boa parte do pas. Porm, tanta riqueza no se constituiu em segu-ro eficaz para evitar a destruio. Ao contrrio, em poucos instantes todos os tesouros desapareceram, tragados pelo cataclismo. Segundo os relatos:
-
2 5 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
Mais de 1000 alumpedas de prata que tinham custado somas imensas, tanto pe!o tra-balho, como pela mo-de-obra foram enterrados ou fundidos. Alm de 6000 candeei-ros entre grandes e pequenos do mesmo metal que tiveram a mesma sorte. A perda dos vasos sagrados segue a mesma proporo. A dos ornamentos de Igreja foi imensa assim como a dos retbulos.31
Tambm uma srie de palcios sucumbiu sem que o terremoto distinguisse local ou condio. Foram perdidas, alm dos edifcios, preciosidades que se encon-travam depositadas dentro de cada um deles. impossvel avaliar com exatido o montante da perda, mesmo porque a descoberta das minas de ouro no Brasil havia alterado os padres locais: cada palcio abrigava um tesouro particular, tanto em painis e tapearias como em outros objetos preciosos.
Por outro lado, ainda que o Reino de Portugal fosse reconhecidamente pobre, havia particulares enriquecidos vivendo em Lisboa, e mesmo alguns brasileiros, chamados de mineiros, cujas riquezas em ouro foram enterradas ou queimadas em sua maior parte. Alm do mais, a corte de Lisboa era bastante rica em pedras pre-ciosas, em grande medida provenientes do Brasil. No entanto, de nada adiantou tanto brilho diante do desastre: dizia-se com escrnio que a prpria rainha e as princesas no ficaram com outros diamantes seno aqueles com que se achavam ento enfeitadas.
Como disse frei Antnio de So Jos, no poema "Canto fnebre", publicado em 1756,
[...] A casas de seus vastos territrios Trabalhas a expelir como importunas E assim se arrasam dos ismos fundamentos Palcios, casas, Templos e Conventos,32
Deixando de iado os detalhes, o certo que o resumo dos estragos era, no mnimo, sinistro: dois teros das ruas ficaram inabitveis, e apenas 3 mil casas das 20 mil existentes sobreviveram ao incndio. Nenhum dos seis hospitais se salvou do fogo, e todas as cadeias tombaram, assim como o Palcio da Inquisio, alm de 33 palcios das maiores famlias do reino.33
Passados os primeiros dias, percebeu-se que as perdas eram, mesmo, incomen-surveis. Os prejuzos pblicos e privados somavam-se, isso sem falar do prprio Pao Real, que ao fmal da tragdia se apresentava arruinado e com todas as suas riquezas perdidas. O desastre no poderia ter sido pior para a imagem interna do reino: a runa da capital e a morte de parcela significativa da populao represen-tavam o ponto final de uma ladainha j por si calamitosa. O terremoto encontrou o Imprio empobrecido pelo estado da sua agricultura, com um comrcio enfra-quecido e uma indstria inexistente. Diante de tantos sinais negativos, a runa da corte s fez abater, ainda mais, os nimos e acirrar o saudosismo, que se voltava para os tempos dos grandes descobrimentos e do ouro farto.
-
T E R R E M O T O O U " O M A L E S T N A T E R R A " 2 6
16. Vistas do Palcio Real: da praa, de uma festa de touros, do Palcio do conde de Aveiro, do embarque da princesa Catarina de Portugal: s recordaes. Pierre A. Vander, FBN
A histria de Lisboa e de todo o reino ficaria para sempre marcada por esse terremoto, que destruiu a maior parte da cidade velha e quase tudo o que lembra-va a antiga opulncia do Imprio. No que se desconhecessem episdios como esse em sculos anteriores: particularmente em 1531 e 1597, dois outros terremotos assolaram Portugal. Nenhum deles, porm, teve a magnitude do cataclismo de 1755, que, pela primeira vez,34 incidia sobre uma cidade to tradicional e populo-sa. A despeito das cifras comparativamente pouco confiveis, dizia-se que, em 1750, Lisboa era a quinta cidade europia em populao, s ultrapassada por Londres, Paris, Npoles e Amsterd.35
No se quer com isso afirmar que Lisboa fosse uma cidade monumental: ela crescera, desde os tempos medievais, dentro e fora de duas sucessivas muralhas, a dos mouros e a de d. Fernando; concentrara-se na planura, perto do Tejo, a poen-te do castelo que a defendera; e espalhara-se pelas colinas.36 De toda maneira, porm, guardava o mistrio de ruas sinuosas que se misturavam a algumas edificaes mais altaneiras e vielas esguias que falavam de sua histria, cantada e saudosamen-te lembrada pelas esquinas.
No toa lamentou-se, e muito, a perda de monumentos que registravam uma memria local feita de tantas glrias passadas. Assim, se a nota geral era dada pela destruio, e as relaes de edifcios arrasados aumentava sem parar, alguns monumentos foram lembrados ainda mais do que outros. Desapareceram vrios
-
2 7 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
palcios: o dos duques de Bragana e do duque de Cadaval, o do marqus de Lourial, dono de uma rara coleo de manuscritos e livros antigos, e os dos mar-queses de Gouveia, de Tvora e de Nisa. Tambm vieram abaixo as livrarias dos dominicanos e do convento de So Francisco, sem esquecer do Pao da Ribeira e da sua Real Biblioteca. Menina-dos-olhos dos monarcas portugueses, que l cole-taram, cuidadosamente, 70 mil volumes que incluam obras raras, documentos selecionados, cdices, incunbulos, gravuras, partituras e mapas , a Real Bi-blioteca "ajuntava" tudo o que uma livraria rgia, smbolo do saber acumulado do Imprio, poderia comportar. Entretanto, tudo desaparecera de uma hora para a outra: logo aps o terremoto, o prprio Palcio Real, onde ficava instalada a biblio-teca, mais parecia um amontoado de materiais derretidos. Conforme o desabafo de uma testemunha: "Se visses somente o palcio real, que singular espetculo, meu irmo! Os vares de ferro torcidos como vimes, as cantarias estaladas como vidro!".37 Se com relao aos edifcios o incndio mostrou sua capacidade de des-truio, diante dos papis, secularmente acumulados, o fogo foi ainda mais impie-doso e repetiu a sina de uma srie de bibliotecas que, como a de Alexandria, termi-naram decompostas pelas chamas.
E no caso de Portugal a perda era igualmente de monta, uma vez que a Real Biblioteca fazia parte dos louros e da prpria representao oficial do Estado. Herdeira de muitos reinados, das vicissitudes e dos gostos de diferentes soberanos, a "livraria rgia", como era tambm conhecida, expressava o interesse dos monar-cas portugueses pelo livro ou, ao menos, pelas vantagens polticas e simblicas que um acervo como aquele trazia. Alguns monarcas mandavam comprar obras em terras longnquas; outros pediam que seus diplomatas "caassem" bons exempla-res; outros ainda ordenavam que acervos inteiros fossem deslocados. O fato que a Real Livraria38 personificava o orgulho nacional diante de sua cultura, assim acu-mulada, e enchia os olhos daqueles reis carentes de sinais que indicassem progres-so num Imprio to visivelmente distanciado do restante da Europa.
Com efeito, a tradio real dos livros "ajuntados no Pao" remontava a d. Joo II (1477-95), que, por sua vez, reunira at os livros dos primeiros monarcas da dinastia de Avis: d. Joo i (1385-1433)39 e d. Duarte (1433-8).' Mas foi mesmo com d. Joo V (1706-50) que a Biblioteca Real adquiriu propores grandiosas, altura das aspiraes desse soberano que, por meio do teatro da poltica, pretendia cons-truir de forma espetacular o absolutismo real. E para a execuo de uma tarefa de tal monta no se mediram esforos: livreiros estrangeiros, agentes diplomticos, acadmicos de renome... todos pareciam envolvidos no mesmo objetivo de satisfa-zer as necessidades reais, cada vez mais imperativas, insaciveis e urgentes. Com-pravam-se bibliotecas inteiras no estrangeiro, colees particulares e verdadeiras preciosidades, que eram recebidas tal qual trofus.
Ao mesmo tempo que se montava essa verdadeira operao de guerra que implicava adquirir livros, manuscritos, gravuras e at moedas e medalhas no exte-rior , uma estrutura mais apropriada era erguida no reino para receber tantos
-
T E R R E M O T O O U " O M A L E S T N A T E R R A " 3 3
tesouros. As crnicas portuguesas registram a relevncia dessa coleo de livros para o rei portugus, que costumava dizer que sua "Livraria" teria para ele a mesma importncia que o ouro enviado do Brasil.4' No se desconhecia a ligao afetiva de d. Joo V com sua coleo, assim como se comentava a magnificncia da Real Biblioteca, que era comparada s grandes do gnero:
[...] entre to excessiva abundncia de cousas preciosas, admirveis e raras, escolhidas pelo seu bom gosto, a tudo excede, como sbio, o gnio dos livros, de que faz maior estimao, do que dos grandes tributos dos diamantes e ouros das Minas. Assim tem uma numerosa e admirvel Livraria, em que se vem as edies mais raras, grande nmero de manuscritos, instrumentos matemticos, admirveis relgios, e outras muitas cousas raras, que ocupam muitas casas e gabinetes. No havia no Pao mais que um pequeno resto da Livraria antiga da Serenssima Casa de Bragana: El Rey [d. Joo vj o fez colocar em esta Real Biblioteca, que se compem de muitos mil volumes, que quase no cabem no grande edifcio chamado o Forte [...].'42
A "Livraria Real" era, dessa maneira, vinculada figura de El Rey, aquinhoan-do o soberano portugus com a cultura necessria a qualquer monarca que se pre-tendia ilustrado. Smbolos diletos, os livros e documentos raros "decoravam" a monarquia portuguesa, a qual lutava para se afastar das imagens recorrentes que sobre ela incidiam, reafirmando o atraso intelectual e o predomnio da superstio e do fervor religioso.
E a Biblioteca foi sendo aparelhada, ao mesmo tempo que eram chamados doutos e experientes acadmicos, que, com o fito de orden-la, acabaram dividin-do as tarefas a partir de suas prprias especialidades. Afinal, ela possua no s um rico acervo de livros e manuscritos, que cobriam diferentes reas do conhecimen-to desde a religio, passando pelos clssicos, e chegando aos historiadores por-tugueses , como colees preciosas de iconografia, compostas de estampas de escolas europias. Estas eram montadas em folhas com tarjas, formando volumes especiais em cuja encadernao se destacava o braso real, estampado a ouro sobre um fundo de marroquim vermelho.43
Antnio Ribeiro dos Santos, que na poca ocupava o cargo de bibliotecrio -mor da Universidade de Coimbra, oferece informaes minuciosas (descontados os exageros das descries de poca) sobre a Biblioteca do Palcio, numa carta que remeteu a um contemporneo:
a Biblioteca Real comeou a ser rica de cinqenta mil volumes a que chegou o Senhor Manoel, o qual havia leito entrar nela as melhores edies do seu tempo, e todas as pri-meiras dos Clssicos Gregos e Latinos: cresceu depois em mais cabedal de livros, que foram nela entrando nos tempos seguintes at o Reinado do Sr. Rei d. Jos. Pedro Gen-dron, mercador de livros e homem erudito em conhecimentos bibliogrficos, e que tinha visto muitas Bibliotecas da Europa, afirmava que nenhuma vira provida de tan-tas edies antigas como ela,44
-
3 4 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
17. Lisboa e seu famoso porto: por l passava o mundo. Ueighes Picart, FBN
Com efeito, pela dcada de 1750, a Livraria Real era tratada como uma esp-cie de cone da monarquia; seus cerca de 70 mil livros faziam dela uma das melho-res do gnero: tudo contribua para encontrar no estabelecimento um retrato raro do que se era ou do que se pretendia ser. Se a consideramos isoladamente, Por-tugal nada devia aos demais centros europetis que guardavam para si a marca da "civilizao".
Mas o fogo teimou em ser democrtico e destruiu a todos e a tudo: diante do papel, as chamas foram implacveis, reduzindo os documentos a cinza e p. Depois do terremoto, Portugal acordou em luto por suas gentes, em pranto por suas mora-das e monumentos e com certeza menos culto: foram-se os livros e documentos e ficaram apenas as lembranas desse catlogo maravilhoso, dessa biblioteca exmia em classificaes e nas lgicas que opunham de forma cartesiana ttulos, temas e formatos.
Este livro conta a histria da reconstruo dessa biblioteca planos, utopias e projees e ao mesmo tempo narra suas aventuras. Refeita logo aps o terre-moto por uma questo de honra , a Livraria participa, de perto, de uma srie de eventos que fizeram a histria de Portugal e tambm a do Brasil. Sua restaura-o estar includa entre as tarefas emergenciais que visavam reconstruir Lisboa aps o acidente de 1755, como se os livros fossem estratgicos e carregassem uma razo simblica e um capital cultural dignos dos mais importantes negcios do Estado. Figurar, tambm, entre os pertences que o regente d. Joo arrolou para levar consigo quando se mudou de mala e cuia para o Brasil, em 1807, diante da iminente invaso das tropas francesas a Lisboa. certo que a listou mas no a levou, pois os livros, esquecidos em caixotes no porto, na confuso do embarque, tiveram que retornar a sua morada original, para s comearem a partir dois anos depois. Contudo, a prpria operao de fuga da corte foi muito mais planejada do que se imagina.
-
T E R R E M O T O O U " O M A L E S T N A T E R R A " 3 0
Estranha , portanto, a ladainha que corre at hoje entre ns e que conta e reconta a histria de ura monarca que escapou s pressas de seu reino, sem plane-jamento nenhum. Difcil imaginar tal cenrio, diante de tantos documentos que provam o contrrio e evidenciam uma estratgia que implicou, entre outros, o fato de a biblioteca viajar logo em seguida ao monarca. Ao que tudo indica, a fuga no foi to de ltima hora, e, entre tantas riquezas, a Real Livraria atravessaria o ocea-no, distribuda por algumas centenas de caixotes e em trs etapas: uma viagem em 1810 e outras duas em 1811. A Real Livraria estaria, ainda, bem no centro do lit-gio poltico que iria se travar anos mais tarde entre Portugal e Brasil: com a Re-voluo Liberal do Porto, em 1820, no s se impediu uma nova remessa de livros como d. Joo vt e depois seu bibliotecrio retornariam a Lisboa apenas com a parte dos manuscritos referente histria de Portugal.
Por fim, a biblioteca far parte das negociaes da independncia; depois da emancipao poltica, o governo brasileiro no quis devolver a rica coleo de li-vros. A "disputa bibliogrfica" no foi, assim, um detalhe passageiro. A partir dela pode-se ter idia da importncia capital dos livros e do empenho do governo por-tugus com vistas a proteger sua Biblioteca ante as invases francesas e mesmo pro-curar, j nos anos 1820, lev-la de volta ao lugar original. Essa ltima batalha o Brasil venceu, mas pagou caro por ela. O valor da biblioteca tornou-se motivo de clusulas e atos diplomticos de consolidao da emancipao. Com a Conveno Adicional ao Tratado de Paz e Amizade de 29 de agosto de 1825, d. Pedro I, impe-rador do Brasil, concorda em indenizar a Famlia Real portuguesa pelos bens e pro-priedades deixados no pas, e entre os diferentes itens constava a Real Biblioteca. Dessa maneira, se o pas comeou sua vida autnoma pagando um preo elevado ex-metrpole 2 milhes de libras esterlinas, tomadas de emprstimo por Portugal Coroa britnica, com juros de 5% ao ano , a biblioteca no ficou por menos: foi avaliada em 800 contos de ris, um preo alto, muito alto para um pas recm-independente.
O fato que a biblioteca passou a fazer parte da nao emancipada, que aos poucos lhe adicionou novas aquisies, conferindo-lhe uma feio particular. Sob a forma de uma coleo de colees, a "Real" restou como um local privilegiado onde se guardava uma histria: uma histria do saber, ou ento uma histria que seleciona formas de saber e maneiras de esquecer.
A longa viagem da biblioteca dos reis fala dessa sina. Por meio dos livros vemos desfilar os eventos polticos, so eles os condutores da narrativa e foi com eles, e em caixotes, que a Ilustrao aportou no Brasil. E mais: junto com os livros, e atravs deles, o pas se faria independente. Como um bom smbolo, as bibliotecas sempre deram muito que falar e pensar e valem, por si ss, uma boa viagem.
-
3 1 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
18. Partida de d. Joo e da Famlia Real para o Brasil: nas imagens oficiais, a fuga ligeira transformava-se em ato glorioso. FBN
-
A ANTIGA LISBOA E SUA REAL BIBLIOTECA
1. A bela Lisboa dos tempos fartos de d, Joo V. Antoine Aveline (1691-1743), FBN
Considerando a cidade de Lisboa, a respeito das partes do Mundo, nenhuma das referidas lhe faz vantagem; e no errar quem afir-mar que a todas excede; porque ela est situada no mais Ocidental da Europa, tendo diante de si o grande Oceano, o qual entrando pela terra, faz uma larga enseada, que termina no Cabo de Finis Terraepela parte Norte, e pela do Meio Dia no de S, Vicente, fican-do esses dois promontrios como duas Baas de grande beleza, mos-trando com a larga porta, que abrem ao mar, que toda a abundn-cia do Mundo deve entrar nela.
L. M. Vasconcelos, 1786.
-
3 8 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
Enfiada entre sete colinas na margem norte do rio Tejo, Lisboa at parecia eterna segundo alguns relatos mais orgulhosos, e ainda distantes do terremoto que destruiu a cidade. Contava-se que Ulisses teria vagado por l aps o saque de Tria, e que os romanos chamavam o local de Olissipo, de onde teria advindo o nome de Olissipona, mais tarde abreviado para Lisboa. Antiga cidade dos visigo-dos, e mais tarde dos mouros, Lisboa era considerada uma das grandes capitais da Europa nos anos 1750. O momento sinalizava, porm, certo declnio e decadncia. De um lado, os ditames e vogas de Iluminismo filosfico, poltico e econmico, que vinham revolucionando o resto da Europa, foram mantidos relativamente apar-tados, em funo da influncia da Inquisio e at mesmo do fervor religioso difundido pelo reino. Com isso, Portugal distanciava-se a olhos vistos das demais metrpoles europias, que cada vez mais reagiam com escrnio s demonstra-es de fanatismo oficial e popular to presentes naquele pas. Por outro lado, se o ouro do Brasil continuava a afluir, os gastos extremados da corte e o desperdcio evidenciavam a idia de que as minas no eram perenes e que a riqueza fcil tinha l seus limites.1
Alm do mais, as faanhas gloriosas de Henrique, o Navegador, e de Vasco da Gama no passavam, quela altura, de lembranas dos tempos gloriosos. O contex-to era realmente outro, j que, livre desde 1640 do longo domnio espanhol de ses-senta anos, Portugal ainda lutava para no ser caracterizado como um apndice daquele reino, ou ento como colnia econmica da Gr-Bretanha. At os prprios testemunhos da poca notavam, atnitos, a dependncia financeira que se abatia sobre o Imprio:
2. Desembarque do soberano espanhol Filipe II em frente ao Terreiro do Pao: imagens e ritual, tudo alimenta a iconografia da realeza. Joo Baptista Lavanha (1555-1624), FBN
-
4 0 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
4. Cidade de Lisboa, com o Castelo de So Jorge e o Convento dos Jernimos. A gravura corresponderia a uma viso do profeta Daniel. FBN
no encontrar um edifcio que merea a maior ateno". "Uma cidade de frica", dizia um cronista francs; uma "formosa estrivaria", acrescentava, de seu exlio lon-drino, o cavaleiro de Oliveira.4
Literalmente debruada beira do esturio do Tejo na boca do Atlnti-co , Lisboa se estendia at o cume de colinas prximas, cobertas de casarios, e era em geral descrita a partir de suas ruas estreitas, que pareciam no ter sada ou des-tino. Destacava-se o famoso Castelo de So Jorge, exposto ao olhar de todos numa dessas colinas, imponente nas suas espessas muralhas e nas formas medievais que mais lembravam uma coroa.5
A oeste ficava o Bairro Alto, de traado quase regular, prova de construo mais recente. Esse deveria ser o local mais nobre, arejado pelos ventos e limpo pelas chuvas que escoavam para o rio. Praas, s havia duas (e prximas entre si) dignas de destaque: o Rossio e o Terreiro do Pao e era ao redor delas que boa parte da vida lisboeta girava. No Rossio realizavam-se os poucos espetculos pblicos, assim como as touradas. Tambm era l que se assistia habitualmente aos autos-de-f ou, em tempos de calma, onde se liam em alto e bom som os editais. J o Terreiro do Pao praa ampla que teria na poca 620 passos por duzentos era o verdadeiro centro poltico, cultural e financeiro da capital, onde se loca-lizava no s boa parte do comrcio local como o prprio Pao da Ribeira, mora-da oficial dos soberanos da terra. Alm disso, a diferena entre os dois locais era tambm poltica: enquanto o Terreiro do Pao, a praa nova, estava mais ligado
-
A A N T I G A L I S B O A E S U A R E A L B I B L I O T E C A 3 6
corte que vida municipal, o Rossio, espcie de frum da cidade, com seus men-digos, hospitais e mercados, permanecia vinculado sobretudo tradio popular. O Rossio era o local de reunio do povo; o Terreiro do Pao constitua-se em palco para outras encenaes: j em 1510 ali se realizavam touradas, e l se ergueram os primeiros arcos do triunfo em homenagem a Filipe i, primeiro rei espanhol de Portugal.6
A cerca de onze quilmetros para oeste encontrava-se Belm,
lugar ribeirinho que tem um aspecto risonho, havendo ali magnficas casas de campo chamadas quintas e suntuosos conventos entre os quais um mosteiro da ordem de so Jernimo (comeado em 1502 e considerado um marco da arquitetura manuelina), vasto, soberbamente construdo...7
Completava a paisagem uma imponente torre (construda entre 1515 e 1519), que recebera o nome do lugar, testemunho de tantas glrias e ponto de partida dos primeiros navegadores.
O esturio do Tejo era ainda motivo para muitos comentrios. Se havia exa-gero nas descries mais ufanistas, certo que um grande nmero de navios, das mais diversas nacionalidades, freqentava o porto. Por sinal, o intenso trfego martimo no s dava imenso retorno financeiro ao Imprio como animava a cida-de e lhe conferia aspecto mais cosmopolita. Essa era, sem sombra de dvida, uma das maiores vantagens de Lisboa. Sua localizao geogrfica ihe garantia posio porturia privilegiada "boca do Atlntico" , alm de um clima ameno, des-crito e elogiado por praticamente todos os viajantes que por l passaram. "Sujeita a tal clima que parece estar sempre em primavera"8 a estava a viso de um poeta annimo, sintetizando as impresses mais gerais que, se falavam mal da sujeira e da escurido das ruas, em unssono louvavam as belezas e as ddivas da natureza local. A generosidade do clima estendia-se at o inverno:
[...] o frio to ligeiro que, nas casas, no existem chamins a no ser nas cozinhas, e at o uso das braseiras no to vulgar como em Madrid. As senhoras, em lugar de se aquecerem ao lume, contentam-se em usar, por casa, xales e os homens usam apenas capote ou roupo de baeta inglesa, espcie de flanela felpuda.9
No entanto, os tesouros vindos do Brasil e de outras partes do Imprio que fizeram de Lisboa o terceiro porto mais movimentado da Europa, superado apenas por Londres e Amsterd poucos benefcios trouxeram para a maior parte da po-pulao local. J nessa poca o rico comrcio era dominado pelos ingleses, que gozavam de privilgios tarifrios no concedidos a nenhuma outra nao. Con-forme uma testemunha mais desconfiada: "Computa-se que num ano entram no Tejo mais barcos ingleses que portugueses e de outras naes em conjunto".1" Dessa maneira, o ouro e as demais riquezas acabavam escoando de Portugal isso por-que a ausncia absoluta de manufaturas fazia com que a balana comercia! entre
-
4 2 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
5. Vista da entrada da barra de Lisboa por volta de 1726: calmaria antes do desastre. FBN
7. O convento de So Jernimo, 8. A torre e a entrada da barra de Belm: a pri-em Belm. Dirck Stoop, FBN meira viso dos navegadores. Dirck Stoop, FBN
-
A A N T I G A L I S B O A E S U A R E A L B I B L I O T E C A 3 8
9. Vista geral de Lisboa em 1752: uma
verdadeira capital europia altura dos
projetos reais. FBN
10. Lisboa e o desembarque do rei Carlos com a frota
inglesa e holandesa: grandes demonstraes.
Pieter Husson, FBN
os dois pases tendesse sempre para o lado ingls. A cidade crescia, mas se ressen-tia da falta de investimento e de estrutura.
Se o clima merecia reverncia, bastante diferentes eram as descries acerca da escassez de gua, da falta de comodidade das casas e da pouca personalidade dos palcios locais, que revelavam no s uma arquitetura pobre como a falta de cui-dado que recaa sobre a capital. Os edifcios, pouco originais, pareciam representar um exemplo do descaso reinante. Feitos de tijolo e madeira, eram quase sempre compostos de dois andares (embora alguns poucos chegassem a trs), apresenta-vam uma fachada sbria e sem maiores decoraes ou detalhes. No plano baixo, apenas uma porta de entrada simples e algumas janelas com gradeamento comple-tavam o cenrio um tanto austero. J nos andares superiores protegiam-se as jane-las com gelosias, uma vez que vidros eram raros em Lisboa. Se a decorao exterior era reduzida, a mesma sobriedade se verificava no interior: uns tantos azulejos decoravam o ambiente, de tetos retos e com poucos mveis.
Nessa poca, um total de 250 mil pessoas viviam em Lisboa, aglomeradas em cerca de 20 mil casas, todas aninhadas entre as sete colinas. Faltava, contudo, uma infra-estrutura maior para dar conta dessa relativa densidade populacional. As mo-radas eram simples e escassas, e as ruas, apesar de pavimentadas, eram bastante es-treitas e sujas: "So, porm, muito enxovalhadas, no sendo varridas seno de trs
-
4 4
11. Vista interna de uma casa em Portugal antes do terremoto; idealizao dos bons tempos. James Cavanah Murphy, FBN
12. Viajando numa liteira: transportes dijceis mas "caprichados" na representao. James Cavanah Murphy, FBN
ou de quatro em quatro dias, s ento se limpando da lama"." As ruas eram to estreitas que nelas quase no passava um animal de carga; alm disso o piso, que pouco resistia ao uso constante de mulas e cavalos, se encontrava em mau estado de conservao. Desde o sculo xvn, com a utilizao do coche em larga escala, a situao tornou-se alarmante. J nessa poca, as discusses entre condutores de coches que vinham em direes contrrias eram to freqentes que medidas legis-lativas foram tomadas com vistas a contemporizar conflitos, determinando priori-dades e privilgios nos cruzamentos. Tais providncias, entretanto, apesar de acer-tadas, estavam longe de resolver o problema. Os veculos da poca eram pesados, grandes, vagarosos e pouco adaptados a uma cidade como Lisboa cheia de la-deiras, esburacada e populosa.
Mesmo assim, naquele local de riquezas fceis, os coches se convertiam em objetos de luxo e eram ambicionados por todos aqueles que queriam ser reconhe-cidos como senhores. E era corrente o costume de certos galanteadores acompanha-rem as damas pendurados nos estribos: ganhava-se um corao, mas o ato estor-vava o j atrapalhado trnsito da capital portuguesa. Outros veculos tornavam o quadro ainda mais catico: as liteiras carregavam casais acompanhados de dois ou trs criados, e as cadeirinhas, utilizadas individualmente, chegavam a mais de sete-centas.'2 Como se no bastasse, havia ainda as portas de entrada da cidade, verda-deiros gargalos, que complicavam o trfego local.
-
A A N T I G A L I S B O A E S U A R E A L B I B L I O T E C A 4 0
Mas os problemas de Lisboa no se restringiam ao trnsito e sujeira das ruas. Em unssono, as testemunhas de poca referem-se escurido que recaa sobre to-da a cidade, to logo o sol se punha. O breu s no era total nas noites de lua cheia, ou por conta das luzinhas trmulas dos oratrios e nichos. Por isso, poucos lisboe-tas se arriscavam a sair noite, e quando o faziam levavam consigo suas armas, por medida de segurana.
Essa grande cidade no tem iluminao durante a noite, por via do que acontece fre-qentemente perder-se um sujeito, correndo o risco de ficar enxovalhado com as imundices que uso despejarem das janelas s ruas, pois as casas no tm latrinas. Todo mundo obrigado, para dizer a verdade, a levar as imundices para o rio e h uma quantidade de negras que fazem esse trabalho por pouco, mas essa ordem no exa-tamente cumprida, principalmente pelo povo.
Como conseqncia da escurido surgia, portanto, o problema da higiene, que no parecia constituir, no meio do breu, preocupao de ningum. Alm de se arriscar a ficar imundo por causa das sujeiras alheias, aquele que enfrentasse as ruas de Lisboa fora das luzes do sol se sujeitava a mais:
De noite no se anda nas ruas com bastante segurana, a no ser que seja, na lngua do pas, "embuado", ou seja que se vista um capote, ou um grande manto, que cubra da testa at o p: esta vestimenta bizarra, comum a todos, mesmo aos prncipes, faz com que qualquer um se ferva, tendo o privilgio dc ser respeitada. O respeito que se tem por esta espcie de mscara vem do fato de impedir que seja conhecido e que oculte a possibilidade de estar armado e capaz de reagir a quem se atreve a intercept-lo.13
No eram poucos os estrangeiros que se queixavam da falta de segurana e de policiamento na capital. Roubos e assaltos eram freqentes, acobertados que eram pela escurido das ruas. Furtava-se de tudo dinheiro, alimentos e at cha-pus: "Um homem se arrisca hoje a perder seu chapu, objeto que os portugueses roubam durante a noite e descaradamente ostentam no dia seguinte, pavonean-do-se pelas ruas como se andassem a mostrar coisa honradamente adquirida...".14
A sada era portar uma arma e usar casacos pretos e longos, que disfaravam a condio e garantiam discrio a todo aquele que decidisse enfrentar as ruas ao anoitecer.
Vestimenta: a estava matria atravessada por uma etiqueta e um cdigo que, em meio a essa sociedade muito pouco letrada, tornavam pblicas e visveis as hie-rarquias e divises sociais. O homem do povo, por exemplo, usava habitualmente chapu de abas largas, casaco at o meio da perna apertado na cintura, e sapatos e meia alta. J o burgus costumava portar um chapu redondo com abas de largu-ra mdia, casaco preso na cintura e calas com roda, terminando abaixo do joelho, onde eram atadas fitas. O traje dos fidalgos tambm variava, e sinalizava maior ou menor opulncia: rendas, fitas e bordados eram usados com mais ou menos pro-fuso, sempre de acordo com a colocao na hierarquia social.
-
4 6 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
13. Mais uma vista da cidade de Lisboa, tantas vezes retratada. Lisboa, a sempre orgulhosa Lisboa. Lowis Meunier, FBN
Assim, embora a corte de Lisboa no fosse Versalhes, no esquecia os luxos e adereos. Rendas eram apreciadas, e aplicadas nos mais diferentes lugares: punhos, gargantilhas, decotes. As perucas eram igualmente estimadas, a ponto de um con-temporneo ironizar: "H cabeleiras para casa, para passeio, para vestir de corte, para trajar soldado e estou vendo quando se compram cabeleiras para deitar na cama e para a hora de morrer".15 Outro ornamento dileto eram as fitas, em cores e formatos diversos, mais parecendo verdadeiros ramalhetes. A maquiagem saa do teatro e ganhava as festas dos fidalgos: ali estavam as pintas nos locais estratgicos, o avermelhado na ma do rosto ou um ar plido, quando a ocasio pedia. Tantos requintes e artes viravam matria para comentrios e ironias, mas eram seguidos risca. Afinal, bom sinal aquele que pode ser decodificado, e os luxos da corte fa-ziam parte dessa cartilha bem decorada.
A riqueza tambm era medida com base no nmero de criados, que se mistu-ravam aos escravos. Estes ltimos podiam ser vistos com facilidade nas ruas de Lisboa e muitas vezes eram preferidos aos demais domsticos:
A maioria da criadagem composta por escravos negros, sobretudo em casa daque-les portugueses que esto em condies de os comprar. Eles preferem-nos aos criados brancos por serem mais dceis, amansados pelo temor de serem vendidos para tra-balhar nas minas. No geral, os criados brancos so mais patifes e mais insoientes [...] Tambm se vem muitas pretas e muitos donos que as possuem em nmero relativa-mente grande, no para seu servio mas como instrumentos de uma explorao lucrativa.16
O autor se refere, nesse caso, ao trabalho por dia, que permitia ao patro reco-lher o ganho de uma jornada inteira. Com tantas facilidades, um bom fidalgo cos-tumava ter pelo menos uma dezena de empregados e, muitas vezes, desfilava pelas ruas, fazendo-se seguir por seu squito de domsticos.
Mas "tomar as ruas" era, basicamente, um programa masculino. As mulheres portuguesas, admiradas pela beleza, viviam em autntica recluso. claro que nas classes mais populares tal regra pouco se aplicava, uma vez que o trabalho as cha-mava para as ruas. O mesmo se podia dizer das criadas, que saam das casas para levar recados ou fazer compras. Quanto mais se subia na escala social, porm, mais se ficava condenada a permanecer encerrada no lar. Uma visita igreja nos dias
-
A A N T I G A L I S B O A E S U A R E A L B I B L I O T E C A 4 2
santos podia resultar em uma pequena e legtima escapada; no entanto, no restan-te dos dias nada mais havia a fazer seno permanecer entretida nas tarefas caseiras. Como disse um viajante acerca das damas locais:
A sua sorte triste, por tal forma vive enclausurada que vulgar haver simples merca-dores com capela em casa e missa privada, a fim de no darem a suas mulheres e filhas o nico pretexto que podem ter para pr o p na rua. Quanto conversao com homens, as mulheres portuguesas s podem falar com frades e com padres e quanto recreao no lhes permitida outra que no seja a de espreitar, atravs das rtulas das janelas, quem passa ao alcance da vista. Em Lisboa as mulheres s se podem ver no caminho que medeia entre a casa e a Igreja, ou ento na Igreja, onde ocupavam a nave, separada da dos homens.1 '
As fontes histricas do tempo de d. Joo v revelam a existncia de um grande pavor: o das doenas. Atribua-se, muitas vezes, aos maus odores das ruas da capi-tal a causa maior das molstias que assolavam sem d os lisboetas. O certo que a falta de encanamento, o hbito de "jogar as imundices por terra" e as temperaturas um pouco mais elevadas no contribuam para a sade da populao. Nos do-cumentos, como uma obsesso, no poucos se queixam das "inchaes, defluxos, pro-blemas gstricos, quartas sincopais, febres, sezes, pleuris que afetavam a vida das pessoas".18 E, assim, quem podia passava o vero nos arredores de Lisboa, para evi-tar as angstias do mal fsico.
Outro tema recorrente era a falta de gua, que, pesadelo constante, ocorria nos momentos mais inesperados e as solues pareciam sempre muito duvido-sas. At procisses eram organizadas com a esperana de resolver esse problema crucial. Mas, enquanto a soluo no vinha, o lisboeta pagava caro pela gua que consumia. Existiam apenas trs fontes potveis na cidade; o preo era exorbitan-te e a qualidade, sofrvel. Por essa razo, d. Joo inaugurou com pompa seu novo aqueduto.
A demanda era to premente que o nome desse soberano ficou vinculado construo do Aqueduto das guas Livres, em Lisboa, empreendimento que, ape-sar de um tanto alheio iniciativa real, lhe deu muita popularidade. A escassez da gua (extensiva a outras cidades) s um dos muitos exemplos que falam da fr-gil estrutura urbana de Lisboa, onde faltava quase tudo.
As riquezas tampouco convergiam para as vias: no havia um s palmo de estrada boa em Portugal. Quem resolvesse passar pelo pas deveria gastar um ms ou semanas por mar, correndo o risco de ser apanhado por piratas. A alternativa por terra no era mais estimulante: enfrentava-se a inclemncia de ser roubado por ladres e salteadores. No .mera coincidncia o fato de poucos viajantes se atre-verem a visitar a cidade; ademais, quando o faziam, deixavam sempre um bom tes-tamento antes de se exporem jornada.19
No se comia mal em Lisboa, a despeito da instabilidade e da insegurana no fornecimento de vveres, Ocorriam faltas agudas de trigo, e crises constantes de
-
4 8 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
14. Idealizao do Aqueduto das guas Livres em fins do sculo XVIII: milagre rgio diante da falta de gua. Desenhos de C. Boilleau e gravao de F. Bartolozzi, FBN
abastecimento aparecem registradas. Era comentrio geral que o pas dava do me-lhor trigo da Europa, mas a produo no supria mais da metade das necessidades do consumo.20 No obstante, de maneira geral, a oferta de alimentos era at farta e realizada em pontos fixos de comrcio. O trigo, por exemplo, era vendido em um terreiro que ganhara o seu nome: Terreiro do Trigo. Junto a esse local ficava a Ribeira, reconhecida no s por sediar o Pao Real como por ser o mais importan-te local de venda de gneros alimentcios da cidade. Barracas coloridas e dispostas ao redor da praa ofereciam de tudo: sal, frutas, caas perdizes, coelhos, gali-nhas, perus, frangos, cabritos, pombos, patos e ovos. Logo ao lado ficava a Praa do Peixe, onde, protegidas por chapus-de-sol, quase uma centena de vendedoras, escamadeiras e outras profissionais especializadas na salga da sardinha efetuavam seu ofcio. Ainda perto dessa praa estavam dispostas outras cabanas, nas quais se vendia fruta verde e seca: peras, nozes, avels, figos, castanhas, uvas e damascos. No faltavam cabanas de hortalias, de pes ou especializadas em mariscos e ou-tros crustceos; e nas proximidades, situava-se a alfndega do tabaco. Por fim, tam-bm nos arredores localizava-se a rua das "Carnearias ou das Carniceiras Velhas". A principal loja estava estabelecida no prprio Terreiro do Pao e era conhecida por suas paredes interiores revestidas de azulejos e cobertas de peas de carne, pen-duradas na altura de seis ps.2' Mas nem todo o comrcio era realizado em pontos fixos. Vendedores ambulantes corriam as ruas da cidade, ofertando um pouco de tudo: doces, frutas, flores e at tabaco.22
-
A A N T I G A L I S B O A E S U A R E A L B I B L I O T E C A 4 9
Os vveres portugueses guardavam outra vantagem: com exceo do po e das aves, eram consideravelmente baratos e acessveis populao de maneira geral. Com tanta oferta, criavam-se gosto e paladar. A sardinha, por exemplo, era imorta-lizada nos versos de um poeta annimo: "Mas bem que se celebre,/ Quem mais que todos sustenta./ E por ser mais abundante,/ fartura da pobreza./ A saborosa sardinha/ Que a divina providncia/ Na abundncia e qualidade/ No sabor e em ser pequena".23 Por sinal, o peixe tinha um papel importante na dieta do lisboeta, que se orgulhava tambm do consumo de bacalhau, que l custava pouco.
A cerveja era bastante apreciada, assim como o vinho, que podia ser encontra-do com certa facilidade: o nacional por preos mdicos, os importados com valo-res mais salgados. Bebia-se tambm gua, nas poucas fontes, e, desde o scuio xvi, esperava-se pela venda ambulante de neve (o gelo em pedaos), preparada com as frutas locais, em especial o limo, e consumida nos dias quentes.
No escaparam aos olhos curiosos e gulosos dos viajantes estrangeiros as igua-rias que ocupavam a mesa dos lisboetas. entrada, seguiam-se os cozidos, o assa-do e por fim vrias sobremesas: manjar-branco, gelias, doces base de gemas de ovos. "Os doces lquidos", comentava maravilhado um francs de passagem pela terra, "comem-nos colher e num abrir e fechar de olhos ingerem uma libra deles, Em cima bebem gua e depois voltam a comer outras espcies de doces."24
A fartura era tal que animava banquetes, regados por dezenas de pratos e qui-tutes em que se misturava de tudo. Nas receitas de bolo, por exemplo, recomenda-va-se que se dispensasse nas vasilhas uma dzia de ovos para um arrtel de acar e mais quatro onas de amndoas, untadas com uma quarta de manteiga.25 A jun-o de tantas iguarias em uma mesma ceia no era, por certo, inveno portugue-sa. Mas l, no seio da corte portuguesa, parecia combinar com um desejo difundi-do de ostentao, que, nesse caso, implicava apresentar uma mesa repleta, tomada por uma quantidade fantstica de especialidades locais. Pobres e fartos estmagos setecentistas.
O cozinheiro de d. Joo V, que publicou a Arfe de cozinhar, aconselhava que se oferecesse aos convidados uma srie de cardpios, adaptados aos diferentes dias da semana. Aos domingos, por exemplo, a sugesto era a seguinte:
1- iguaria Tigelas de caldo de galinha com sua gema de ovo e canela por cima e logo sopas de vaca 2- iguaria Perdiges assados, guarnecidos com lingia 3S iguaria Coelhos de Joo Pires 4a iguaria Um ou dois peitos de vitela de conserva, guarnecidos com torrijas de vitela 5a iguaria Pasteles de vrias carnes, redondos, lavrados 6S iguaria Pastis fritos, pequenos, de carneiro, com acar e canela 7* iguaria Olha castelhana, a saber, vaca, carneiro, mos de porco, presuntos, gros, nabos, pimentes, de todos os adubos amarelos com aafro Manjar-branco em pilas assado Doces fritos e frutas do tempo'6
-
5 0 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
A longa relao continuava fixando um cardpio para cada dia. Variava-se um pouco, mas a estrutura permanecia a mesma: comeava-se com as sopas, seguiam-se as caas (sempre em nmero de trs), depois empadas e pastis, cujo recheio podia e devia variar, e por fim doces e frutas. A exceo ficava por conta das sextas e sbados, quando os peixes substituam as carnes, dominantes nos demais dias da semana.
Embora o valor dos alimentos fosse camarada, as boas hospedarias, quase todas estrangeiras, custavam caro. A explicao para os preos exorbitantes pare-cia, j na poca, bastante lgica: "O elevado preo destas hospedarias leva pouca freguesia [...] hospedam-se em casas de amigos ou alugam quartos",27
Apesar disso, aquele que se aventurasse a enfrentar um hotel desse tipo raramen-te ficava satisfeito: "As hospedarias de Lisboa so autnticas cavernas e nelas se fica pessimamente alojado. prefervel compartilhar da cama de um amigo a alojar-me em qualquer delas".28 Parece que esse era um artifcio corriqueiro para os estrangeiros, que "procuravam hospedar-se em casa de qualquer francs ou ingls (pois um portugus no os receberia), passando a comer onde encontrar o que [comer]".29
No entanto, a verdadeira paixo nacional era mesmo o fervor religioso. Lisboa estava banhada de instituies religiosas que iam da catedral patriarcal do sculo XII at a rede de capelas locais. Comentavam os viajantes que as igrejas de Portugal eram revestidas de talha e reluziam a ouro, Alm do ouro e da prata, muitos qua-dros, feitos de mrmore e de baixos-relevos, decoravam as igrejas locais. Nicolau de Oliveira legou uma relao das instituies monsticas existentes em 1620, cujos nmeros so reveladores: os conventos masculinos seriam 24, correspondendo a 1365 frades, ao passo que os conventos femininos, em nmero de dezoito, alberga-vam 1832 freiras.
Prximo do ano do terremoto, s os franciscanos contavam com quatro con-ventos para seus monges e mais quatro para freiras; os dominicanos tinham na cidade seis conventos e quase 150 irmandades.31 Mas essa situao no era motivo de regozijo. Ao contrrio, o tema merecia cautela e vrias cartas rgias avaliavam que o nmero excessivo de conventos e casas de recolhimento no s custava de-mais aos cofres do Estado como tirava braos saudveis do trabalho. Dizia um co-mentarista, em meados dos anos 1700:
Pode-se dizer que os reis, pelas tolerncias desses abusos [...] se tm privado de uma infinidade de sditos que teriam povoado todas as provncias de Portugal e suas col-nias, as quais por falta de braos no produzem mais que uma pequena parte dos ren-dimentos que podiam dar."
Os conventos ficariam famosos, porm, no apenas pela quantidade e por suas virtudes religiosas. Muitos viajantes divertiam-se descrevendo o ambiente de relaxamento que reinava naqueles recintos. Alguns lembravam os inmeros pedi-dos das freiras, que demandavam "sapatos picados, roados de seda, de tesum, five-
-
A A N T I G A L I S B O A E S U A R E A L B I B L I O T E C A 5 1
Ias cie OLiro, de prata e de pedras preciosas". Outros reproduziam reprimendas dos padres, que aconselhavam as religiosas a "no usarem luvas, leques, alvaiades, nem quererem passar por abadessas".33 At peas de teatro eram representadas nos con-ventos, com temas os mais vulgares.
No obstante, e apesar dos escndalos freqentes, o ambiente geral era mesmo propcio ao aumento da religiosidade. Relquias que lembravam milagres fantsticos estavam espalhadas entre as diversas igrejas da cidade, e pelo menos vinte imagens de Cristo ganharam fama prometendo poderes de cura. Prespios cresciam em personagens na mesma proporo em que aumentava a f religiosa. As beatificaes e canonizaes, freqentes e vulgares nos tempos de d. Joo v, implicavam somas elevadas que passavam dos cofres portugueses para os tesouros de Roma. Soberanos, homens da corte, exemplos da histria ou santos locais eram motivo para a abertura de novos processos e lembrana de novas figuras a serem santificadas.34
Procisses varriam o calendrio da cidade, e o perfil dos participantes va-riava: religiosos, penitentes, condenados ou populares em venerao a santo Antnio, o santo padroeiro de Portugal, e so Vicente, o padroeiro de Lisboa. Confrarias e irmandades, como a da Misericrdia, tambm faziam parte do cotidiano local, e, segundo as testemunhas, nenhum portugus que se prezasse, incluindo o rei, deixaria de vincular-se a uma instituio como essa. A Igreja
15. D. Joo V, gravura alegrica: 16. D. Joo Vestia cortefaustosa. FBN nas imagens, a projeo
da civilizao desejada. FBN
-
5 2 A L O f J G A V I A G E M D A B I B L I O T E C A D O S R E I S
constitua, portanto, o grande centro da vida religiosa, mas tambm social e mun-dana. L se misturavam assistentes cheios de f, conversadores inveterados, pares amorosos e negociantes, como se o espao fosse propcio para os mais diferentes propsitos.
Mas essa descrio no estaria completa sem que se mencionassem os autos-de-f que enchiam o cotidiano lisboeta, na falta de outras atividades. O Tribunal da Inquisio continuava to atuante como no incio de seu funcionamento, no sculo xvi, condenando e jogando fogueira hereges e infiis, Em 19 de maio de 1755, menos de seis meses antes do terremoto que abalou Lisboa, o rei d. Jos e sua rainha Maria Ana haviam comparecido ao Rossio e presenciado um "cristo-novo", de nome Joo Ramos, ser entregue s chamas, condenado como "confitente, revo-gante e impenitente".
Os exemplos so muitos, e a cada anncio de um auto-de-f a multido acorria, acostumada como estava a demonstraes pblicas desse tipo, E no era para menos; tais rituais deviam constituir o aspecto mais imponente e teatral da vida religiosa se-tecentista e ocupavam as grandes praas como o Rossio e o Terreiro do Pao. Ao que tudo indica, esses momentos, aguardados com ansiedade, transformavam-se em verdadeiras festas, causando estranhamento aos viajantes, que, apesar de pouco acos-tumados a rituais como esses, nem por isso deixavam de tomar parte:
17. Procisso de auto-de-f, confisso e condenao: uma das poucas "diverses" da corte portuguesa. Pierre A. Vander, FBN
-
A A N T I G A L I S B O A E S U A R E A L B I B L I O T E C A 4 8
Voltei a Lisboa para assistir festa. Chamo festa a essa horrvel cerimnia por ela cons-tituir para os portugueses um verdadeiro divertimento. Nesse dia podem as senhoras estar janela adornadas com jias e enfeites como se fosse o dia do Corpo de Deus ou as procisses da Quaresma,35
Os processos chegavam, muitas vezes, a mais de cem, e por esse motivo o ritual, que se iniciava s seis horas da manh, podia prolongar-se at as seis da tarde. Parece que era do gosto local deixar o ltimo ato para o anoitecer, quando as fogueiras iluminariam o cu de Lisboa e lembrariam a todos a solenidade da ocasio. Os acusados compareciam vestidos de branco, empunhando uma vela e uma cruz pendente. O desfile dos condenados era silencioso, acompanhado pelos representantes do Santo Ofcio e precedido pelos padres. As sentenas eram lidas em voz alta e endereadas aos prisioneiros, que as escutavam de joelhos. Os pri-meiros a serem julgados eram os herticos acusados de feitiaria, bigamia e outros peca














![CHAPEUZINHO VERMELHO - MIOLO 3prova 4L · Leray, Marjolaine Uma chapeuzinho vermelho / Marjolaine Leray; [tra-duzido por Júlia Moritz Schwarcz]. — 1ª ed. — São Paulo: Companhia](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/6020c5e78cfe686d0d22a0f5/chapeuzinho-vermelho-miolo-3prova-4l-leray-marjolaine-uma-chapeuzinho-vermelho.jpg)