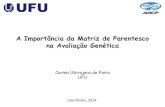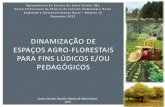Limites e possibilidades da contribuição do direito ambiental para … · de direitos dos povos...
Transcript of Limites e possibilidades da contribuição do direito ambiental para … · de direitos dos povos...
1
Limites e possibilidades da contribuição do direito ambiental para a efetividade de direitos dos povos indígenas1
Carina Costa de Oliveira*
Gabriela Garcia B. Lima** Resumo A baixa eficácia da proteção das terras indígenas requer a utilização de instrumentos de outras áreas do direito, de modo complementar, para que exista uma tutela adequada aos direitos dos povos indígenas. O direito ambiental pode contribuir com alguns institutos, notadamente com o conceito de Zona de Amortecimento previsto na Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); e com os Contratos de Crédito de Carbono, previstos em normas nacionais e internacionais. A complementariedade desses instrumentos, no contexto da proteção dos direitos indígenas, pode ser limitada em razão da forma de utilização desses institutos. Tendo como base uma utilização adequada e precisa desses instrumentos, nos termos das normas aplicáveis, a tutela dos direitos dos povos indígenas pode ser amparada pelo direito ambiental. Sumário Introdução; 1. A contribuição da Zona de Amortecimento para a extensão da área de proteção das terras indígenas; 1.1. A conexão entre a Zona de Amortecimento do direito ambiental e a proteção de direitos indígenas; 1.2. A extensão do conceito de Zona de Amortecimento para o entorno das terras indígenas: o caso da Terra Indígena Roosevelt; 2.Os Contratos de Crédito de Carbono a serviço da efetividade de direitos indígenas; 2.1. O contexto indígena e os fundamentos jurídicos dos Contratos de Crédito de Carbono; 2.2. O Contrato de Créditos de Carbono no caso dos índios Mundurukus; 2.3. Os Pagamentos por Serviços Ambientais como aliados à proteção da terra e dos costumes indígenas; Conclusão; Referências Bibliográficas. Palavras-chave Direito ambiental; Povos Indígenas; Unidades de Conservação, Zona de Amortecimento, Contratos de Crédito de Carbono, Efetividade. Introdução
A baixa eficácia2 jurídica das normas de proteção dos direitos dos povos
indígenas3 em suas terras demarcadas exige que as diversas áreas do direito
1 Artigo Publicado no livro: RIBEIRO, C. F.T., LOUREIRO, S. M. S e SILVA NETO, N. M. (Orgs.). Observatório anual da rede amazônica de clínicas de direitos humanos. Fortaleza (CE): RDS, 2015.
2
contribuam com o fortalecimento de sua tutela. O direito ambiental pode colaborar
com a aplicação de alguns de seus instrumentos na tutela desses direitos. Apesar
dos limites do direito ambiental nesse âmbito, é relevante o estudo de formas de
superar os dados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de que existem 462 terras
indígenas regularizadas, o que representa 12,2% do território nacional, das quais 8%
não se encontram na posse plena dos povos indígenas4. Para tanto, é relevante
fazer uma breve apresentação dos possíveis instrumentos que podem ser utilizados
e os motivos da necessidade de busca por instrumentos de outras áreas do direito
para fortalecer os direitos dos povos indígenas.
O direito ambiental, consolidado nacional e internacionalmente a partir dos
anos 70, não é o ramo específico do direito competente para a tutela dos povos
indígenas. Observa-se, por exemplo, que a Constituição trata dos dois temas em
capítulos diferentes5. As normas infraconstitucionais também se diferenciam em sua
maioria, mas se conectam em alguns temas específicos. Um tema de evidente
interseção entre os dois objetos de tutela é a biodiversidade. Nesse sentido,
observa-se que há instrumentos ambientais de proteção jurídica da biodiversidade
*Professora Adjunta da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Doutora pela Universidade
de Paris II- Panthéon Assas- França. **Professora Substituta de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília.
Professora de Direito Administrativo da Universidade Paulista. Doutora em Direito pela Universidade de Aix-Marseille – França, em cotutela com o Centro Universitário de Brasília.
2 Por eficácia jurídica entende-se a qualidade jurídica das normas de produzir a proteção pretendida. Difere-se de efetividade jurídica que consiste no seu cumprimento propriamente dito. MALJEAN-DUBOIS, Sandrine, "La mise en œuvre du droit international de l’environnement", IDDRI. Analyses, Gouvernance Mondiale, n° 03/2003, p. 23; BARROSO, Luís Roberto, “Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora”, 5. ed, Editora Saraiva, 2003, p. 247.; VARELLA, Marcelo Dias, "A efetividade do direito internacional ambiental: análise comparativa entre as convenções da CITES, CDB, Quioto e Basiléia no Brasil". In: BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; VARELLA, Marcelo Dias (orgs.), A efetividade do direito internacional ambiental, Brasília: UNICEUB, UNITAR e Unb, 2009, p. 34-35.; YOUNG, Oran R, "A eficácia das instituições internacionais: alguns casos difíceis e algumas variáveis críticas". In: ROSENAU, James N.; CZEMPIEL, Ernst-Otto (orgs.), Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Traduction: Sérgio Bath, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000, p. 239; BOUTONNET, Mathilde, "L’efficacité environnementale du contrat". In: BOSKOVIC, Olivera, L’efficacité du droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 2010, p. 23.
3 A definição de povos indígenas utilizada nesse artigo é a que está prevista no art. 1º da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, internalizada no Brasil pelo Decreto n. 5.051 de 19 d abril de 2004; e no artigo 3º do Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 1973.
4 FUNAI. “Terras indígenas – o que é?”. Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas?limitstart=0#. Acesso em: 5 out. 2014.
5 O Capítulo VI, art. 225 da CF trata do meio ambiente, enquanto que o Capítulo VIII trata dos índios.
3
que podem auxiliar no amparo dos direitos dos povos indígenas relacionados à
proteção da terra indígena.
Entre as possíveis normas ambientais de tutela da biodiversidade podem ser
citadas o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)6 e o Código
Florestal7. Especificamente sobre o tema proposto, podem ser citadas: a Zona de
Amortecimento (ZA) para a extensão da proteção das terras indígenas ao seu
entorno, instituída na lei do SNUC8; e os Contratos de Créditos de Carbono, sendo
este uma categoria de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), instrumento
presente no novo Código Florestal9. Cada um dos instrumentos possui os seus
próprios desafios, que merecem ser estudados a fim de discernir a capacidade de
cooperação entre o direito ambiental e o direito dos povos indígenas.
A baixa eficácia do direito dos povos indígenas é aqui afirmada tendo em vista
a pouca efetividade da proteção das terras indígenas. A demarcação de terras10 é o
instituto jurídico destinado a garantir o direito indígena à posse originária e coletiva
de determinada porção do território nacional. A área deve ser destinada à
preservação da natureza, bem como aos usos, costumes e tradições11. O bem
juridicamente protegido é o direito originário dos povos indígenas à ocupação
tradicional das terras pertencentes a sua cultura e aos seus ancestrais. Além disso,
são direitos conexos a proteção do modo de vida indígena, das representações
culturais, sociais e religiosas realizadas na área de ocupação.
Além da reduzida eficácia do exercício dos direitos indígenas nas terras
demarcadas, o processo de demarcação também é um limite para a efetivação 6 Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 7 Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, Lei do novo Código Florestal. 8 Art. 2º, inciso XVIII da Lei nº. 9.985/2000. 9 Conforme o artigo 41, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 12.651/2012, a compensação monetária pelo
sequestro e pela a conservação que colaboram com a diminuição do fluxo de carbono são formas de pagamento ou incentivo a serviços ambientais prestados. O artigo autoriza o Poder Executivo Federal a instituir programas que comportem esses mecanismos.
10 De modo geral, o processo jurídico de demarcação é competência do Poder Executivo, sendo regulamentado pelo Decreto nº 1.775/96. São etapas da demarcação, os estudos de identificação e delimitação, a ser realizados pela FUNAI; a abertura de contraditório; a declaração dos limites pelo Ministro da Justiça; a demarcação física pela FUNAI; o levantamento fundiário de benfeitorias de boa-fé de povos não indígenas, além do seu reassentamento; a homologação pela Presidência da República; a retirada dos ocupantes não-índios, com pagamentos das benfeitorias de boa-fé; o registro das terras homologadas na Secretaria de Patrimônio da União, e a interdição de áreas de povos isolados. O reconhecimento do direito territorial e proteções conexas pode ainda ser estabelecido na modalidade de Reserva indígena, Parque Indígena e Colônia Agrícola Indígena, nos termos da Lei nº 6.001/73, o Estatuto do Índio.
11 Nos termos do caput e dos parágrafos do art. 231 da Constituição Federal.
4
desses direitos. As diversas propostas legislativas existentes são exemplo de uma
política incerta que gera insegurança no exercício desses direitos. Podem ser
citados: a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 215/0012 que, dentre outras
questões, altera o processo de demarcação das terras indígenas para serem
aprovados pelo Congresso Nacional; o Projeto de Lei Complementar nº 227/1213,
que também prevê alterar o procedimento de demarcação de terras indígenas, com
uma interpretação aberta o suficiente para excluir da demarcação as terras
produtivas; o Projeto de Lei nº 1.610/9614 sobre a mineração em terras indígenas, ou
ainda, a Portaria nº 303/12, da Advocacia Geral da União (AGU), atualmente em
revisão15, que objetiva generalizar as condicionantes de demarcação de terras
indígenas definidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso da Raposa Serra
do Sol. Todas as propostas representam o cenário jurídico brasileiro e ilustram a
insegurança jurídica do exercício desses direitos.
A proteção dos direitos indígenas pode contar com o amparo de outros
instrumentos jurídicos que, se interpretados de modo integrado à garantia desses
direitos, podem fortalecê-los. No entanto, é preciso cautela, pois se esses institutos
não forem interpretados em conformidade com a Constituição Federal (CF), eles não
poderão contribuir com a efetividade dos direitos indígenas. Diante desse contexto, é
relevante a análise das possíveis contribuições das Zonas de Amortecimento do
direito ambiental como uma garantia de proteção das terras indígenas demarcadas e
de seu entorno (1) para, em seguida, averiguar de que modo os Contratos de
12 PEC nº215/2000. Disponível em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=889041. Acesso em: 5 out. 2014.
13 Projeto de Lei Complementar nº227/12. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3BE09856B542617386053D014C91335C.proposicoesWeb1?codteor=1044818&filename=Tramitacao-PLP+227/2012. Acesso em: 5 out. 2014.
14 Projeto de Lei nº1.610/96. Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/581963.pdf. Acesso em: 5 out.2014.
15 A Portaria, embora inconstitucional por violar o direito originário indígena ao usufruto das suas terras, não se encontra revogada. A última providência tomada pela AGU foi a exigência de adequação (feita pela Portaria nº27/2014). Para consulta das Portarias: www.agu.gov.br. Trata-se da adequação da Portaria nº303 aos termos da decisão proferida pelo STF, em 23.10.2013, sobre Embargos de Declaração no âmbito da Petição 3388-RR. Pela decisão, dentre outras questões, o STF afirmou não serem vinculantes as condições de demarcação da Raposa Serra do Sol. Para consulta da decisão do STF: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2288693. Acesso em: 5 out. 2014.
5
Créditos de Carbono podem ser utilizados a serviço da efetividade dos direitos
indígenas (2).
1. A contribuição da Zona de Amortecimento para a extensão da área de proteção das terras indígenas
Entre os instrumentos do direito ambiental que podem contribuir com a
efetividade dos direitos indígenas pode ser citada a Zona de Amortecimento. As
normas relacionadas à proteção ambiental recepcionaram os mais diversos
instrumentos públicos e privados que possibilitam a preservação da biodiversidade.
Para analisar a conexão entre a ZA e a proteção dos direitos dos povos indígenas,
especificamente da possibilidade de extensão da área demarcada para fins de
proteção, será feita uma breve apresentação do instrumento ambiental (1.1) para
posteriormente indicar de que modo esse instrumento pode ser útil aos direitos
indígenas (1.2), tendo como base o caso ligado aos indígenas Cinta-Largas,
habitantes da Terra Indígena (TI) Roosevelt16.
1.1 . A conexão entre a ZA do direito ambiental e a proteção de direitos indígenas
A ZA corresponde ao “entorno de uma unidade de conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”, nos termos do Art.
2º, inciso XVIII da Lei nº. 9.985/2000. O instrumento permite a proteção ambiental do
entorno da unidade de conservação para que a ruptura entre o que é protegido e o
que não é não seja brusca, considerando que a natureza não pode sofrer os
prejuízos da delimitação humana.
O instrumento citado é particularmente interessante para o tema dos direitos
indígenas, pois pode ser um meio garantidor da proteção de direitos indígenas em
uma área localizada no entorno da área de demarcação da TI. No âmbito do direito
ambiental, a ZA permite a restrição de atividades que possam prejudicar a 16 TRF 1ª Região, Quinta Turma, Apelação cível nº 2005.41.00.003417-2/RO, Relatora:
Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Julgamento em 2013; TRF 1ª. Região, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 2005.41.00.003417-2-RO.
6
efetividade dos objetivos da criação de uma unidade de conservação. De acordo
com o art. 27 do Decreto nº. 99.274/90, em um raio de dez quilômetros das unidades
de conservação, qualquer atividade que possa atingir a biota ficará subordinada às
normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Por meio da
Resolução CONAMA nº. 428 de 17 de dezembro de 2010, em seu artigo 1º,
parágrafo 2º, ficou estabelecido que:
“Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação desta Resolução, o licencimamento de empreendimento de significativo impacto ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, cuja ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput, com exceção de Reserva Particular do Patrimônio Nacional (RPPNs), Áreas de Proteção Ambiental (APAS) e Áreas Urbanas Consolidadas”.
Quando a ZA já estiver previamente definida, as atividades de significativo
impacto ambiental que ocorrerem nessa área só poderão ser licenciadas após
autorização do órgão responsável pela administração da UC17.
Além da lei do SNUC, o instrumento indicado também possui o amparo
constitucional do art. 5º, inciso XXII e do art. 170 que tratam da função social da
propriedade. O objetivo é garantir que a propriedade privada assegure a proteção
social e ambiental para que ela atenda a sua função social conjugada com as
atividades econômicas desenvolvidas. As ZA estão muitas vezes situadas em
propriedades privadas que devem garantir a devida proteção socioambiental da
área18.
A lei nº 9.985/2000 se direciona no sentido de coordenar os direitos ligados à
proteção ambiental aos direitos das populações locais19 e tradicionais20 que
habitarem nessas áreas. O art. 5º, inciso X da lei prevê que devem ser formuladas
diretrizes que “garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da
utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação 17 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21ª ed. São paulo: Malheiros, 2013,
p. 990; GARCIA, Leonardo de Mediros; THOMÉ, Romeu. Direito Ambiental. 7ª. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014, p. 329; SANTOS, Saint’Clair Honorado. Direito ambiental: Unidades de Conservação – limitações administrativas. Curitiba: Juruá, 2000.
18 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21ª ed. São paulo: Malheiros, 2013, p. 991.
19 Art. 5º, V e IX da lei nº 9.985/2000. 20 Art. 4º, XIII; art. 5º, X; art. 17 para. 2º; art. 20, par. 2º e 3º; art. 23; art. 29; art. 32 e art. 42 e
parágrafos da lei nº 9.985/2000.
7
meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos”.
A população tradicional é definida no art. 17, parágrafo 3º e no art. 20 como aquela
que já habitava na região antes da criação da Unidade de Conservação21 e cuja
existência esteja baseada nos recursos naturais da área, com técnicas
desenvolvidas ao longo de gerações. Para unidades de conservação nas quais é
permitida a ocupação humana, os direitos das populações tradicionais devem ser
garantidos naquela área, como no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas
de Desenvolvimento Sustentável22; enquanto que para as Unidades de Conservação
nas quais a ocupação humana não é permitida, deve haver a devida indenização e
adequada realocação pelo Poder Público. Os povos indígenas podem ser tutelados
por essas normas, o que permite a aproximação entre o direito ambiental e os
direitos dos povos indígenas.
No entanto, o mais interessante na utilização da ZA do SNUC como meio de
amparo complementar aos direitos indígenas, é a possibilidade de ampliação da
proteção das terras indígenas ao seu entorno.
1.2 . A extensão do conceito de Zona de Amortecimento para o entorno das terras indígenas: o caso da Terra Indígena Roosevelt
A possibilidade de utilização do conceito de ZA do SNUC como fundamento
para a extenção das áreas demarcadas como terras indígenas foi objeto de análise
e de deferimento no caso da TI Roosevelt em Rondônia23.
O caso trata de atividades de mineração na TI Roosevelt que faz parte de
uma das quatro aldeias do Parque Indígena Aripúanã, localizado entre os Estados
de Rondônia e Mato Grosso24. Além da TI citada, o parque é composto por outras
21 Ver, ainda, Art. 36 do Decreto 4.340 de 22 de agosto de 2002. 22 É importante observar que a unidade de conservação tem um procedimento diferente e
independente da terra indígena para ser delimitada. É necessário que os dois procedimentos, caso ocorram ao mesmo tempo para áreas similares, possam ser elaborados de modo a garantir a devida proteção dos povos indígenas e do meio ambiente.
23 Sobre o tema ver: CURI, Melissa Volpato. Mineração em Terras Indígenas: caso Terra Indígena Roosevelt. Dissertaçãoa presentada no Instituto de Georciências da Universidade Estadual de Campinas, 2005.
24 Além desse caso, há outros casos de mineração em Terras Indígenas. Como o tema aqui é a extensão da proteção da T.I. para o seu entorno, o caso Roosevelt é o melhor exemplo. Ver sobre o tema geral de mineração em terras indígenas: FAUSTINO, Cristiane; FURTADO, Fabrina. Mineração e Violações de Direitos: O projeto Ferro Carajás S11D, da Vale S.A. Relatório da Missão de Investigação e Incidência, Açailândia-MA, 2013; PEREIRA; Denise de Castro ;
8
três terras indígenas: Área Indígena Serra Morena, Terra Indígena Parque Aripuanã
e Terra Indígena Aripuanã25. Essa área é originariamente ocupada pelos índios
Cinta Larga. O ato de demarcação administrativa da Terra Indígena Roosevelt,
localizada nos Municípios de Aripuanã, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno, nos
Estados de Rondônia e Mato Grosso, foi homologado pelo Decreto Presidencial n.
262, de 29 de outubro de 1991. O decreto mencionado não define os limites da ZA.
No ano de 2004, houve um grande conflito entre garimpeiros e indígenas na
TI Roosevelt, com a morte de 29 garimpeiros por índios Cinta Larga e a posterior
morte de indígenas, apesar de já terem sido registrados vários conflitos desde a
década de 6026. Havia acordos entre indígenas e garimpeiros para a exploração de
diamantes principalmente em um afluente do rio Roosevelt localizado a
aproximadamente 36 km da TI Roosevelt. Essas atividades resultaram em impactos
socioambientais traduzidos na degradação física e cultural do povo indígena Cinta
Larga, sendo que 74% da comunidade não sobreviveu27. Entre os impactos
ambientais podem ser citados a destruição da mata ciliar e das margens do igarapé
Lajes, desmatamento, assoreamento e poluição das águas28. Foram descobertas
diversas atividades ilegais na região, envolvendo políticos, empresas, indígenas e
garimpeiros, com a identificação de autorizaççãoes de lavra ou de pesquisa mineral
no interior e ao redor da Reserva Indígena Roosevelt.
BECKER, Luzia Costa; WILDHAGEN, Raquel Oliveira. “Comunidades atingidas por mineração e violação dos direitos humanos: cenários em Conceição do Mato Dentro”, Revista Ética e Filosofia Política, nº 16, vol 1, junho de 2013; SILVEIRA, Edson Damas da. Meio ambiente, terras indígenas e defesa nacional. Curitiba: Juruá, 2010; KAEB, Caroline. “Emerging Issues of Human Rights Responsibility in the Extractive and Manufacturing Industries: Patterns and Liability Risks”. Northwestern Journal of International Human Rights, vol. 6, issue 2, 2008; ANAYA, James. “Indigenous Peoples’ participatory rights in relation to the decisions about natural resource extraction: the more fundamental issue of what rights indigenous peoples have in lands and resources”. Arizona Journal of International & Comparative Law, vol 22, n. 1, 2005.
25 CURI, Melissa Volpato. Mineração em Terras Indígenas: caso Terra Indígena Roosevelt. Dissertação apresentada no Instituto de Georciências da Universidade Estadual de Campinas, 2005, p. 121.
26 CURI, Melissa Volpato. Mineração em Terras Indígenas: caso Terra Indígena Roosevelt. Dissertação apresentada no Instituto de Georciências da Universidade Estadual de Campinas, 2005, p. 124.
27 CURI, Melissa Volpato. Mineração em Terras Indígenas: caso Terra Indígena Roosevelt. Dissertaçãoa presentada no Instituto de Georciências da Universidade Estadual de Campinas, 2005, p. 138.
28Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/cinta_larga/diamantes_e_os_conflitos.pdf>. Acesso em: 15 outubro 2014.
9
Diversas ações civis e penais foram interpostas no contexto do caso29, mas a
ação mais interessante com relação ao tema sob análise foi a Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público contra o Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM) objetivando o cancelamento de requerimentos de pesquisa e lavra
mineral incidente nas terras indígenas do povo Cinta Larga e no seu entorno. O
fundamento era a não regulamentação do parágrafo terceiro do artigo nº 231 da CF
e a ausência de competência constitucional do DNPM para apreciar esses
requerimentos30.
A questão jurídica objeto de análise da 5ª Turma do TRF da 1ª Região, que
foi indeferida em cede de antecipação de tutela, foi a seguinte: a possibilidade de
extensão da proteção à área do entorno da terra indígena com o consequente
cancelamento das autorizações de pesquisa e lavra que já foram concedidas pela
autarquia federal no entorno da terra indígena Cinta Larga. O pedido recaiu,
portanto, sobre a análise da possibilidade de aplicação do conceito de ZA do direito
ambiental para a proteção da terra indígena.
Os argumentos do MPF foram no sentido de que o DNPM deveria indeferir os
pedidos de lavra no entorno da TI Roosevelt em razão da ausência de
regulamentação da mineração em terras indígenas (CF, art. 231, §3º) e da
competência do Congresso Nacional para apreciar esses pedidos31. De acordo com
o MPF, os Decretos presidenciais nº. 24/91 e nº. 99.274/90 além de outros
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais devem ser interpretados de modo
sistemático para garantir a proteção dos povos indígenas tanto na sua área
demarcada quanto no seu entorno. No que tange ao entorno da TI Roosevelt, como
a sentença apelada não decidiu pelo indeferimento das autorizações de lavra e de
pesquisa para essa área, mas apenas pelo indeferimento dos requerimentos de
autorização para a mineração no interior da terra indígena, o MPF reiterou o seu
pedido no sentido de extensão ao entorno desse indeferimento. 29 STF, Medida Cauteral em Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 3.352-MC-DF, relator Ministro
Sepúlveda Pertence, Julgamento em 2 de dezembro de 2004; Relatório da Polícia Federal na Operação Roosevelt, 21 de maio de 2005.
30 TRF da 1ª Região, Quinta Turma, Apelação cível nº 2005.41.00.003417-2/RO, Relatora: Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Julgamento em 2013; TRF 1ª. Região, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 2005.41.00.003417-2-RO.
31 Pg. 4 da decisão do TRF da 1ª Região, Quinta Turma, Apelação cível nº 2005.41.00.003417-2/RO.
10
O DNPM argumentou que as autorizações estavam em conformidade com o
direito aplicável. De acordo com o órgão, há no entorno da região 26 autorizações
de pesquisa concedidas com base nas normas aplicáveis que não preveem a
exceção do entorno das terras indígenas como área não passível de autorização de
pesquisa e de lavra de minérios32. Segundo a autarquia, “as condições específicas
na área do entorno ou zona de amortecimento das terras indígenas se contrapõe ao
disposto no parágrafo 1º. do art. 176 da CF/88, além de invadir competência
exclusiva do Congresso Nacional ao estabelecer norma não prevista em lei”33.
O voto da Relatora do processo, de 22 de agosto de 201334, deu provimento
ao apelo do MPF e determinou que o DNPM cancelasse “os requerimentos de
pesquis ae lavra mineral incidentes no entorno da TI do povo Cinta Larga em um
raio de 10 km, indeferindo de plano qualquer requerimento incidente sobre a área”. A
decisão foi, portanto, contrária à decisão da primeira instância tendo como
fundamento os seguintes argumentos: a) a necessidade de controle das atividades
danosas ao meio ambiente mesmo que desenvolvidas fora dos limites das áreas que
afetam, tendo como base no art. 9º, inciso III do Decreto 1.141/94 que trata de ações
de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas das comunidades
indígenas35; b) a previsão no art. 42 do Código de Mineração de que a autorização
para a exploração deve ser recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem
público ou comprometa interesses que superem a utilidade da exploração
industrial36; c) a demonstração nos autos de que as supostas pesquisas e lavras
incidentes nas áreas próximas das terras indígenas têm servido para lavagem de
diamantes extraídos da reserva, incrementando a criminalidade na região; d) a
utilização da zona de amortecimento como conceito análogo aplicável às terras
indígenas37, com fulcro no Decreto Presidencial n. 24 de 4 de fevereiro de 1991.
Diante dessa análise, percebe-se que a ZA, originária do direito ambiental, foi
utilizada de modo análogo no caso da preservação do entorno da TI Roosevelt. O 32 Art. 120 do regulamento do Código de Mineração – Decreto n. 62.934/68 e no art. 3º da Lei n.
8.876/94 e Decreto-Lei n. 227/67. 33 Pg. 2 da decisão do TRF da 1ª Região, Quinta Turma, Apelação cível nº 2005.41.00.003417-2/RO. 34 Disponível em: http://arquivo.trf1.gov.br/PesquisaMenuArquivo.asp. Acesso em: 15 out. De 2014. 35 Pg. 4 da decisão do TRF da 1ª Região, Quinta Turma, Apelação cível nº 2005.41.00.003417-2/RO. 36 Pg. 5 da decisão do TRF da 1ª Região, Quinta Turma, Apelação cível nº 2005.41.00.003417-2/RO. 37 Pg. 6 da decisão do TRF da 1ª Região, Quinta Turma, Apelação cível nº 2005.41.00.003417-2/RO.
11
caso citado ainda não fez coisa julgada, mas já apresenta elementos de
possibilidade de extensão de um instrumento do direito ambiental à proteção da área
demarcada como terra indígena e de seu entorno. No mesmo sentido, é relevante
analisar de que forma os Contratos de Crédito de Carbono podem ser utilizados a
serviço da efetividade de direitos indígenas.
2. Os Contratos de Crédito de Carbono a serviço da efetividade de direitos indígenas
Os contratos de crédito de carbono podem constituir instrumento de proteção
dos direitos indígenas, ou de afronta aos mesmos direitos. Nesse sentido, podem,
por um lado, colaborar com a autonomia da atuação indígena na gestão de suas
terras, com o financiamento da proteção ambiental e cultural; ou, por outro lado,
enfraquecer essa autonomia e impedir o usufruto territorial constitucional indigenista.
Além disso, questiona-se a pertinência da conjugação de instrumentos econômicos
e conceitos de mercantilização da natureza como aliados ao direito indígena. Os
impactos do instrumento dependem da garantia dos direitos indígenas no âmbito dos
PSA, sejam eles contratos privados ou Políticas Públicas. Para um melhor
esclarecimento, são explorados o contexto indígena e fundamentos jurídicos dos
contratos de créditos de carbono (2.1) para, em seguida, analisar o contrato no caso
dos índios Mundurukus (2.2) e o exame dos limites e das possibilidades no
tratamento dos PSAs como aliados à proteção da terra e dos costumes indígenas
(2.3).
2.1 O contexto indígena e os fundamentos jurídicos dos Contratos de Crédito de Carbono
A possibilidade de Contratos de Créditos de Carbono em terras indígenas tem
sido projetada38 e implementada na última década no Brasil. Existem desde 2007,
por exemplo, iniciativas de regulamentação jurídica no estado de Rondônia, por 38 A tribo indígena “Tembé”, por exemplo, projetou a implementação de um contrato de crédito de
carbono com uma empresa brasileira denominada “C-Trade”. Todavia, não houve, até o momento atual, informações atualizadas sobre a negociação que se passara em 2012. Sobre o projeto Tembé: TEIXEIRA, Wilson Max Costa; BORBA, Alexandra Souza, “O Projeto REDD Carbono Tembé e sua Implantação na Terra Indígena Alto Rio Guamá”, Anais de Congresso, ANPPAS, 2012. Disponível em: http://www.anppas.org.br/encontro6/anais/ARQUIVOS/GT5-113-336-20120730101837.pdf. Acesso em: 5 out. 2014.
12
meio do projeto “Carbono Florestal Suruí”39. Entre outras medidas, foi criado o
“Fundo Carbono Suruí” para gerenciar, regular e fiscalizar esse tipo de negócio
jurídico40.
Além disso, a FUNAI, juntamente com organizações da sociedade civil,
trabalharam, por meio de um Comitê multissetorial, na criação do documento com
princípios e critérios socioambientais para os Contratos de Redução de Emissão por
Desmatamento e Degradação em terras indígenas (REDD+). Em suma, buscaram a
inclusão de medidas que protejam os direitos indígenas, tais como, o respeito ao
direito nacional e internacional, a integração com as formas indígenas de proteção
da natureza, entre outras41. São ações que se inserem no âmbito da Estratégia
brasileira do REDD+42 para criar e melhorar a regulamentação do setor.
A forma contratual para os créditos de carbono em terras indígenas tem
variado na última década, voltando-se para a inclusão do instrumento nas
negociações das Nações Unidas, o REDD. Quando o instrumento integra o
pagamento aos indígenas pela obrigação de conservação das florestas, ele é
denominado REDD+. Todavia, independentemente da forma jurídica, a validade
desse tipo de contrato está diretamente relacionada a sua regulamentação no direito
brasileiro, tema que ainda é incipiente no país. É nesse sentido que se busca
esclarecer sobre a possibilidade jurídica desse tipo de contrato no Brasil.
Os contratos de crédito de carbono têm fundamento no direito ambiental,
nacional e internacional. Do ponto de vista do direito nacional, se enquadram como
PSA, sendo caracterizados como incentivos econômicos que podem ser utilizados
para fomentar a diminuição da emissão de carbono, com respaldo tanto no artigo 41 39 INSTITUTO CARBONO BRASIL. “Rondônia inicia construção de política para REDD+”, 19.08.2014.
Disponível em: http://www.institutocarbonobrasil.org.br/redd_/noticia=737966. Acesso em: 5 out. 2014.
40 FUNAI. “COP 16: Povo Suruí lança primeiro fundo de carbono indígena”, 2010. Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/2232-cop-16-povo-surui-lanca-primeiro-fundo-de-carbono-indigena?highlight=WyJjYXJib25vIl0=. Acesso em: 5 out. 2014.
41 COMITÊ REDD Socioambiental. “Princípios e critérios socioambientais de REDD+”, 2010. Disponível em:http://reddsocioambiental.org.br/PC%20Socioambientais%20de%20REDD+_versao%20FINAL_Julho%202010.pdf; além disso: FUNAI, “Funai faz recomendações sobre crédito de carbono em terras indígenas”, 2012, disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/729-funai-faz-recomendacoes-sobre-credito-de-carbono-em-terras-indigenas?highlight=WyJjYXJib25vIl0=. Acesso em: 5 out. 2014.
42 Ministério do Meio Ambiente (MMA). Estratégia brasileira de REDD+. Disponível em: http://www.mma.gov.br/redd/index.php/pt/2013-04-01-14-41-18/nacional/eredd. Acesso em: 5 out. 2014.
13
do novo Código Florestal, como na Política Nacional de Mudança do Clima43. Além
disso, ambas as normas nacionais são formas de realizar internamente os preceitos
o direito internacional de combate ao efeito estufa. Trata-se da implementação dos
objetivos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
(UNFCCC)44, visando estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa a um
nível de risco controlado.
Além dessa Convenção, destaca-se o Protocolo de Quioto, que fixou metas
de redução de emissão desses gases para países industrializados, além de medidas
de caráter de adesão voluntária para países em desenvolvimento, medidas
relacionadas ao período de 2008-201245. Na Conferência das Partes (COP) de 2011,
realizada em Durban, na África do Sul, foi aceito o plano de estender o Protocolo até
201746.
No plano do Protocolo, o principal fundamento a esse tipo de contrato é a
possibilidade de venda de créditos de carbono se enquadrados nas normas para os
mecanismos de flexibilização ali previstos, quais sejam: o Comércio de Emissões, a
Implementação Conjunta e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Os dois
primeiros envolvem países do anexo I, ou seja, países industrializados, enquanto
que o terceiro permite a participação de países em desenvolvimento. De modo geral,
esses mecanismos consistem na possibilidade do cumprimento de redução de
emissão de carbonos, não pela diminuição direta da atividade poluidora, mas pela
compra de títulos que representam essa diminuição pela ação de terceiros.
A criação de créditos de carbono pode ainda se inserir fora dos mecanismos
do Protocolo de Quioto, por meio dos já mencionados contratos de REDD+. Esse
instrumento oriundo das Nações Unidas tem sido objeto de negociação no âmbito
das COPs do Protocolo47 e é representativo de um modelo de PSA. Além disso, a
43 Lei nº 12.187 de 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12187.htm. Acesso em: 5 out. 2014. 44 A UNFCCC foi adotada em 9 de maio de 1992, em Nova York e entrou em vigor em 1994.
Convenção disponível em: http://newsroom.unfccc.int/. Acesso em: 5 out. 2014. 45 O artigo 3.1 do Protocolo de Quioto estabeleceu a meta de redução de gases de efeito estufa para
países industrializados (os países do Anexo I), em uma média de 5,2% abaixo das emissões de 1990, entre os anos de 2008 e 2012.
46 UNFCCC. “Warsaw outcomes”. Disponível em: http://unfccc.int/key_steps/warsaw_outcomes/items/8006.php. Acesso em: 5 out. 2014.
47 UNFCCC. “Warsaw outcomes”. Disponível em: http://unfccc.int/key_steps/warsaw_outcomes/items/8006.php. Acesso em: 5 out. 2014.
14
Convenção de Diversidade Biológia (CDB) também constitui base jurídica para
associar a criação de créditos de carbono aos instrumentos de PSA48.
Pelas observações expostas, a possibilidade de utilizar o contrato de créditos
de carbono em terras indígenas tem sido construída no direito nacional e
internacional. Contudo, é preciso cautela, pois contratos como o do caso dos índios
Mundurukus49, que será apresentado no próximo tópico, pode ser fonte de fraudes e
de violações aos direitos indígenas50. Esse contrato foi cancelado, mas o seu estudo
ainda tem importância, pois destaca a questão da pertinência ou não da utilização
de créditos de carbono em terras indígenas. A escolha do caso objetiva explorar, a
partir de sua inconstitucionalidade, elementos necessários para a
constitucionalidade e a elaboração desse tipo de contrato, em suas diferentes
formas jurídicas.
2.2. O Contrato de Créditos de Carbono no caso dos índios Mundurukus
O caso dos Mundurukus diz respeito a um contrato51 de créditos de carbono
entre a etnia mencionada, representada pela associação Pusuru, e a empresa
irlandesa “Celestial Green Ventures”. O objeto do contrato era a criação de créditos
de carbono vinculados a toda forma de exploração da floresta, condicionando-a à
vontade da empresa irlandesa52. Esse, aliás, foi um dos vários contratos por meio
48 UNEP-WCMC. “Developing ecosystem service indicators: Experiences and lessons learned from
sub-global assessments and other initiatives”. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montréal, Canada, 2011, Technical Series n. 58, p.118. Disponível em: http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-58-en.pdf. Acesso em: 5 out. 2014.
49 Outro caso semelhante foi o contrato formado entre a empresa a irlandesa Celestial Green Ventures e a Associação Indígena Awo "Xo" Hwara. AGU. “AGU pede anulação de contrato firmado ilegalmente entre índios de Rondônia e empresa irlandesa para venda de créditos de carbono”. Disponível em: http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/222095. Acesso em: 5 out. 2014.
50 Tanto que o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) se manifestou contra o instrumento. CIMI. “REDD e as tentativas de criminalização dos povos indígenas”. Disponível em: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&conteudo_id=6136&action=read. Acesso em: 5 out. 2014.
51 EMPRESA Celestial Green Ventures e Associação Pusuru. Contrato número 473531-11-PV01. Disponível em: http://apublica.org/wp-content/uploads/2012/03/Contrato-Celestial-com-Mundukuru.docx. Acesso em: 5 out. 2014.
52 ACP nº 1.23.002.000443/2011-91. Diário do Ministério Público Federal Eletrônico nº148/2013, Ata da Trecentésima Nonagésima Quarta Sessão Ordinária de Setembro De 2013, Procuradoria da República no Município de Santarém, p. 11, disponível em: http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/jspui/bitstream/123456789/39096/1/DMPF-EXTRAJUDICIAL-2013-10-01.pdf; Empresa Celestial Green Ventures e Associação Pusuru. Contrato número 473531-11-
15
dos quais a empresa procurou negociar créditos de carbono de forma plenamente
ilegal com diferentes etnias53.
No caso do contrato em questão, o preço contratado pelos créditos foi de U$
3.000.000,00 (três milhões de dólares) por ano, durante 30 (trinta) anos. Após
denúncia, esse contrato foi objeto de investigação mediante Inquérito Civil54 que, por
sua vez, perdeu o seu objeto no momento em que o contrato foi cancelado55.
O contrato foi celebrado em 2011 e teve como objeto a aquisição de títulos de
crédito de carbono criados para a preservação de uma área de 2.381.795,7765 ha,
no Município de Jacareacanga, no Pará. Pelo seu parágrafo 1º, a empresa teria o
direito de realizar estudos com acesso irrestrito à área; teria a titularidade total dos
créditos obtidos; e deveria receber dos indígenas o direito a todas as autorizações e
licenças estatais incidentes. Conforme os parágrafos 2º e 3º, os indígenas
concordariam em não realizar qualquer tipo de alteração, exploração ou edificação
sem a autorização da empresa irlandesa, pois poderiam afetar a constituição do
crédito de carbono. Outras proibições no contrato diziam respeito à alienação e à
disponibilidade das terras sem a autorização da empresa. O contrato era regido pela
legislação brasileira56.
Tais cláusulas, se válidas, tornariam explícitos os efeitos de cessão de
direitos à empresa irlandesa no que diz respeito às terras indígenas. Além disso, não
houve participação da FUNAI, nem do Ministério Público e tampouco qualquer tipo
PV01. Disponível em: http://apublica.org/wp-content/uploads/2012/03/Contrato-Celestial-com-Mundukuru.docx. Acesso em: 5 out. 2014.
53 Outro exemplo seria o contrato da empresa Celestial Green Ventures com a Associação Indígena Awo "Xo" Hwara, que, por 13 milhões, teria total acesso e direito de uso, autorizações e proibições relacionadas às terras indígenas de Igarapé Lage, Rio Negro-Ocaia e Igarapé Ribeirão, como se fosse proprietária. AGU. “AGU pede anulação de contrato firmado ilegalmente entre índios de Rondônia e empresa irlandesa para venda de créditos de carbono”. Disponível em: http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/222095. Acesso em: 5 out. 2014.
54 ACP nº 1.23.002.000443/2011-91. Diário do Ministério Público Federal Eletrônico nº148/2013, Ata da Trecentésima Nonagésima Quarta Sessão Ordinária de Setembro De 2013, Procuradoria da República no Município de Santarém, p. 11. Disponível em: http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/jspui/bitstream/123456789/39096/1/DMPF-EXTRAJUDICIAL-2013-10-01.pdf. Acesso em: 5 out. 2014.
55 ACP nº 1.23.002.000443/2011-91. Diário do Ministério Público Federal Eletrônico nº148/2013, Ata da Trecentésima Nonagésima Quarta Sessão Ordinária de Setembro De 2013, Procuradoria da República no Município de Santarém, p. 11. Disponível em: http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/jspui/bitstream/123456789/39096/1/DMPF-EXTRAJUDICIAL-2013-10-01.pdf. Acesso em: 5 out. 2014.
56 EMPRESA Celestial Green Ventures e Associação Pusuru. Contrato número 473531-11-PV01. Disponível em: http://apublica.org/wp-content/uploads/2012/03/Contrato-Celestial-com-Mundukuru.docx. Acesso em: 5 out. 2014.
16
de consulta da empresa às instituições mencionadas57, o que evidenciou a
possibilidade de má-fé na elaboração dessas cláusulas.
Essas cláusulas eram viciadas pela sua completa inconstitucionalidade e
ilegalidade. De um ponto de vista crítico, ou retratam má-fé por parte da empresa
estrangeira, ou ilustram um completo despreparo e desconhecimento da legislação
brasileira, no que tange ao regime dos direitos indígenas e do reconhecimento de
suas terras.
Com relação ao regime dos direitos indígenas brasileiro, o contrato violou
aspectos constitucionais e legais. Primeiramente, a propriedade das terras indígenas
é da União, conforme o artigo 20, inciso XI, da CF, sob o usufruto dos povos
indígenas. O usufruto indígena é protegido pelo §2º do artigo nº 231 da Carta Maior.
Trata-se de posse permanente e exclusiva, associada ao direito originário às terras e
à proteção do seu modo de vida. Sua exclusividade afeta o regime de bens, sendo
estes inalienáveis, indisponíveis, enquanto que os direitos conexos são
imprescritíveis, conforme o §4º do mesmo artigo.
Considerando-se a natureza jurídica do usufruto indígena como sendo suis generis58, o tratamento das terras indígenas responde a um regime constitucional,
além de se submeter, não propriamente às regras de direito privado, mas sim às de
direito público. O usufruto exclusivo é também regra presente no Estatuto do Índio. A
partir de tais proteções, já são nulas de pleno direito as cláusulas que vinculem à
autorização da empresa alterações no modo de uso indígena e a possibilidade de
alienação da terra.
Além disso, se considerarmos a natureza jurídica dos PSA como sendo de
direito real59, caracterizando obrigações de conservação da coisa material na qual
incide, o contrato, na forma como foi elaborado, resulta em situação semelhante à
cessão de direitos reais de uso de terra indígena. Essa possibilidade de cessão é
57 A ausência da participação do Ministério Público e da FUNAI no contrato também foi defendida
como ponto de ilegalidade que permitiu a nulidade do contrato no do contrato da Associação Indígena Awo "Xo" Hwara. AGU. “AGU pede anulação de contrato firmado ilegalmente entre índios de Rondônia e empresa irlandesa para venda de créditos de carbono”. Disponível em: http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/222095. Acesso em: 5 out. 2014.
58 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. “Usufruto exclusivo das terras indígenas: natureza, alcance e objeto”, Jus Navigandi, 2007. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/10804/usufruto-exclusivo-das-terras-indigenas. Acesso em: 5 out. 2014.
59 LIMA, Gabriela G. B.. La compensation en droit de l’environnement: une typologie juridique, tese: Direito: Université d’Aix-Marseille, Cotutela com o Centro Universitário de Brasília, 2014, p.430.
17
proibida pela Lei 11.952 de 2009, que dispõe sobre regularização fundiária das
ocupações em terras da União.
Trata-se apenas de uma analogia entre os efeitos do contrato, se válido, e os
efeitos de uma cessão de direitos reais. Isso porque a cessão de direitos reais, além
de proibida, não teria ocorrido pois seria necessário um contrato assinado com a
União em razão de sua legitimidade para a cessão de direitos de suas terras. A
proibição da cessão em terras indígenas é justamente para proteger o usufruto
indígena. A analogia foi utilizada haja vista os efeitos de ocupação indireta pela
vinculação do uso da terra à autorização da empresa e suspostamente legitimados
por contrato. Ademais, a ocupação ou a exploração dos recursos ali presentes é
nula e extinta de pleno direito, de acordo com o §6º do artigo 231 da CF.
Nota-se que pela situação descrita, o contrato afirmaria uma ocupação
indireta criada pela obrigação de vincular qualquer atividade indígena à autorização
da empresa irlandesa. A obrigação de conservar a natureza a fim de criar o crédito
de carbono resultaria, assim, em uma relação de dominação que poderia ferir a
soberania brasileira e a autonomia indígena. Não é difícil compreender porque
algumas instituições protetoras dos direitos indígenas são contra esse tipo de
prática, já que o risco de um “neocolonianismo”60 incidir pelo mercado verde dos
PSA pode ser construído em razão da má elaboração desses contratos.
Dados os efeitos do contrato, outra indagação suscitada corresponde à
autonomia indígena para atuar na vida civil. O viés integracionista e de relativa
capacidade civil encontra-se revogado, haja vista a autonomia garantida pela CF e
pelo novo Código Civil que exige que essa capacidade seja definida por lei. O
Estatuto do Índio, ainda desatualizado, deve ser interpretado juntamente com a CF
que admite o ingresso em juízo dos índios e de suas comunidades61. Por uma
interpretação sistêmica, a capacidade civil estará presente uma vez comprovada a
60 Como a CIMI afirma. CIMI. “REDD e as tentativas de criminalização dos povos indígenas”.
Disponível em: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&conteudo_id=6136&action=read. Acesso em: 5 out. 2014.
61 MOURA, N. S.; MACHADO, N. R. C. “Qual a norma aplicável ao índio no paradigma da interação?” R. Curso Dir. UNIFOR, Formiga, v. 4, n. 1, p. 33-50, jan./jun. 2013.
18
ciência do índio acerca dos efeitos do ato negocial, considerando a possibilidade de
nulidade do ato se este for inconstitucional62.
Ademais, a validade do contrato pode ser interpretada de acordo com a
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em seu artigo 17,
dispõe sobre a necessidade da consulta prévia e informada para subsidiar esse tipo
de ato63. Um dos aspectos da denúncia ao contrato foi justamente o desacordo da
comunidade dos Mundurukus com os seus efeitos, mesmo que representados pela
Associação Pusuru64.
A má experiência representada pelo contrato acima analisado não pode ser
generalizada de modo a desconsiderar os possíveis efeitos positivos do PSA. Este
pode contribuir com a autonomia da vontade na gestão de seus territórios. Os
exemplos mencionados de Rondônia, assim como os Princípios e Regras para o
REDD+, são esforços da sociedade brasileira nesse sentido65. Nessa perspectiva,
sendo o REDD+ ou outro tipo de contrato de crédito de carbono, modalidades de
PSA, é pertinente examinar os limites e possibilidades da aplicação de PSA em
terras indígenas.
2.3 Os PSAs como aliados à proteção da terra e dos costumes indígenas O contrato de crédito de carbono, o contrato de PSA ou o contrato de REDD+,
são formas alternativas para o cumprimento das metas de redução de carbono e da
proteção ambiental66. Assim, além da clássica utilização da lei, que tem como função
62 A capacidade civil indígena é assunto que ainda necessita de harmonização. Sua interpretação é
facilitada pela imputação penal que é admitida mesmo que o índio não tenha sido integrado nos termos do Estatuto do Índio, dado os efeitos constitucionais voltados para a proteção de sua autonomia. Na imputação penal, por exemplo, a capacidade só não deve ser reconhecida se comprovado o completo desconhecimento do índio acerca das regras da sociedade não-indígena. Nesse sentido: MOURA, Márzio Ricardo Gonçalves de. “Uma análise atual da situação da capacidade civil e da culpabilidade penal dos silvícolas brasileiros”. Revista CEJ. Brasília, Ano XIII, n. 45, p. 70-76, abr./jun. 2009
63 Convenção nª169 da OIT. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3764. Acesso em: 5 out. 2014.
64 CIMI. “IHU: Cacique Munduruku esclarece farsa sobre contrato de REDD”, 2012. Disponível em: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=6154. Acesso em: 5 out. 2014.
65 INSTITUTO CARBONO BRASIL. “Rondônia inicia construção de política para REDD+”, 19.08.2014. Disponível em: http://www.institutocarbonobrasil.org.br/redd_/noticia=737966. Acesso em: 5 out. 2014.
66 WYETH, George B., ""Standard" and "Alternative" Environmental Protection: The Changing Role of Environmental Agencies", William & Mary Environmental Law and Policy Review Volume 31, Issue 1, Article 3, 2006. Disponível em: http://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol31/iss1/3, p. 16. Acesso em: 5 out. 2014.
19
a indicação dos comportamentos legais e ilegais, instrumentos econômicos pela via
do mercado ou por outras vias têm sido utilizados67. Trata-se de forma inovadora no
direito ambiental68, pois permite a configuração de uma espécie de mercado,
incentivado pelo Estado por meio de instrumentos mais flexíveis, que promove a
participação privada diretamente na contribuição para a eficácia jurídica da
realização do interesse público geral69.
Os PSAs integram uma interpretação econômica da natureza, na medida em
que utilizam conceitos de mercado, a ideia de capital natural e de produtores de
serviços ambientais70. Utilizam ainda uma lógica de custo de oportunidades,
avaliando monetariamente as situações de se manter a floresta em pé. São
67 ARKKAINEN, B.; RADLEY C., "Information-forcing environmental regulation". Florida State
University Law Review. Vol. 33:861, 2006, p. 861; WYETH, George B., "'Standard' and 'Alternative' Environmental Protection: The Changing Role of Environmental Agencies", William & Mary Environmental Law and Policy Review, Volume 31,Issue 1, Article 3, 2006. Disponível em: http://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol31/iss1/3, p. 72. Acesso em: 5 out. 2014; HARRINGTON, Winston; MORGENSTERN, Richard D., "Economic Incentives versus Command and Control, what’s the best approach for solving environmental problems?", Ressources, Fall/Winter 2004. Disponível em: http://www.rff.org/rff/Documents/RFF_Resources_152_ecoincentives.pdf, p. 17. Acesso em: 5 out. 2014; CARBONNIER, Jean. “Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur”. 10 ed. L.G.D.J. 2001, p. 137.
68 Foi considerada inovadora e resultante de um processo reflexivo de formação da norma que resulta na ampliação de formas para a sua efetividade jurídica. Na teoria do direito, essa configuração foi denominada como integrante de um direito pós-moderno, justamente por seu caráter reflexivo, flexível e híbrido (público/privado) na formação da eficácia jurídica do interesse geral em contraposição ao direito rígido e burocrático do Estado-weberiano moderno. Nesse sentido: SADELLER, Nicolas de. "Les approches volontaires en droit de l´environnement, expression d´un droit post-moderne ?". In : HERVÉ-FOURNEREAU, Nathalie (dir.). Les approches volontaires et le droit de l´environnement, Paris: Editions PUR (Presses Universitaires de Rennes), 2008, p. 45-47; POMADE, Adélie, La Société Civile et le droit de l´environnement. Contribution à la réflexion sur les sources et la validité des normes juridiques, Tese: Direito, Université d´Orléans, 2009, p. 262.; ROGER, Apolline, "Corégulation et Politique climatique de l´Union Européenne. Le rôle des accords environnementaux", In: MALJEAN-DUBOIS, Sandrine; ROGER, Appolline, L´implication des entreprises dans les politiques climatiques. Entre corégulation et autorégulation. France: Aix-em-Provence: CERIC, 2011, p.67.
69 CALSING, Renata de Assis, Les contrats de droit privé et la realisation de l’intérêt géneral - le cas particulier du mécanisme de developpement propre du Protocole de Kyoto, Tese: Direito, Université de Paris I, 2010, p.02.; LEMOINE, Marion, Le mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto, révélateur des évolutions de la normativité internationale, Tese: Direito, Université d'Aix-Marseille, 2013, p. 19.; STANTON, Marcia Silva, "O papel do direito na proteção dos serviços ecossistêmicos", In: LAVRATTI, Paula; TEIJEIRO, Guillermo (orgs), Direito e Mudanças Climáticas, Pagamentos por serviços ambientais, fundamentos e principais aspectos jurídicos. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2013, p. 103.
70 São serviços ambientais, por exemplo, a conservação da água, da fauna, da flora, da diversidade biológica e recursos genéticos, a prevenção da erosão, a manutenção da qualidade do ar, dentre outros. TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity. “Ecological and Economic Foundations”. London and Washington: Edited by Pushpam Kumar. Earthscan, 2010, p. 21.
20
instrumentos estratégicos71que podem contribuir com a melhoria da eficácia jurídica
da proteção ambiental72.
Essa abordagem, contudo, ao mesmo tempo em que inova no direito
ambiental, é criticada por incentivar a mercantilização da natureza73, por enfatizar a
possibilidade de uma falta de ética ambiental no tratamento econômico dos recursos
naturais. Essa interpretação também pode ser aplicada na medida em que a cultura
e o modo de vida dos povos indígenas também se tornam passíveis de negociação,
caso não sejam respeitados de modo expresso pelo contrato.
Porém, a partir de um olhar técnico, tem-se construído, no Direito, a noção de
que não se trata de um mercado de biodiversidade, mas sim de um mercado da
obrigação jurídica de compensação, já que esta foi a demanda criada pelo Estado
que obriga a compensação das emissões de carbono. Torna-se, assim, um mercado
de obrigações, ou um mercado de compensação, no lugar da mercantilização da
natureza74.
Desta feita, para que não haja uma disposição antiética desses instrumentos,
a utilização do PSA em terras indígenas e a validade do contrato devem ser
condicionadas ao respeito dos direitos e dos usos indígenas. Primeiramente, a
titularidade do carbono deve ser atribuída inicialmente aos povos indígenas75, uma
71 BOUTHINON-DUMAS, Hugues, "Les stratégies juridiques: essai sur les articulations entre droit,
économie et management", In: MASSON, Antoine, Les stratégies juridiques des entreprises, Groupe de Boeck s.a., Bruxelles: Éditions Larcier, 2009, p. 12.
72 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira, "Pagamento por serviços ambientais. Do debate de política ambiental à implementação jurídica". In: LAVRATTI, Paula; TEJEIRO, Guillermo (orgs), Direito e Mudanças Climáticas 6: Pagamento por Serviços Ambientais Fundamentos e principais aspectos jurídicos, São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2013, p.14.
73 BROUGHTON, Emma ; PIRRARD, Romain. "Instruments de marché pour la biodiversité : la réalité derrière les termes". Analyse, n°03/11 mai 2011, p. 11.
74 KARSENTY, Alain; WEBER, Jacques. "Les marchés de droit pour la gestion de l'environnement. Introduction générale". Tiers-Monde. 2004, tome 45 n°177. pp. 7-28, p. 23.; KARSENTY, Alain; BLAS, Driss Ezzine de. "Chapitre 5 Du mésusage des métaphores, Les paiements pour services environnementaux sont-ils des instruments de marchandisation de la nature ?". In: CH. HALPERN P. Lascoumes, P. Le Galès (eds), L'instrumentation de l'action publique - Controverses, résistances, effets, Paris: Presses de Sciences Po, 2014, p.178.
75 TEIXEIRA, Wilson Max Costa; BORBA, Alexandra Souza. “O Projeto REDD Carbono Tembé e sua Implantação na Terra Indígena Alto Rio Guamá”. Anais de Congresso, ANPPAS, 2012, disponível em: http://www.anppas.org.br/encontro6/anais/ARQUIVOS/GT5-113-336-20120730101837.pdf. Acesso em: 5 out. 2014; AMARAL, Madson Anderson C. M., “Titularidade dos créditos de carbono e a celebração de contratos em terras indígenas na Amazônia legal”. In: BENJAMIN, Antônio Herman; LEITE, José Rubens Morato, 19º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, Teses de Estudantes de Graduação, São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014, pp.238-251.
21
vez que representam uma obrigação de direito real de uso, por ser esta a natureza
jurídica dos mecanismos de PSA.
Ademais, o pagamento não pode resultar em uma ocupação indireta, e isso
será observado pelo respeito contratual ao modo de vida indigenista, ao mesmo
tempo em que se negociam obrigações de conservação. O acesso não-indígena à
terra e aos recursos ambientais e genéticos deve ser proibido, para não caracterizar
qualquer risco de fraude ou biopirataria. E, além disso, é preciso reconhecer por
meio do contrato a autonomia indígena nas soluções ambientais em seus
territórios76.
Além da participação da FUNAI e do Ministério Público no exame do contrato,
cláusulas que garantam o consentimento prévio informado, com uma pluralidade de
eventos informativos, e não apenas uma Consulta Obrigatória77, e o respeito no caso
de recusa das propostas, trabalhariam na efetividade dos direitos indígenas.
Portanto, a propósito dos direitos indígenas, para que não seja alcançado o
caráter antiético e mercantilista, não basta compreender a natureza desse tipo de
mercado como sendo um mercado de compensação. É preciso clareza na forma
pela qual os direitos indígenas são previstos no contrato, a fim de serem respeitados
e não negociados.
Conclusão
O direito ambiental, por meio de alguns de seus instrumentos, pode contribuir
com a proteção dos direitos dos povos indígenas. Tendo como base a baixa eficácia
da proteção das terras indígenas, é relevante a busca de institutos de todas as áreas
do direito que possam ser utilizados para fortalecer os direitos indígenas. Há
possibilidades e limites para a utilização de dois instrumentos específicos: a Zona de
76 COMITÊ REDD Socioambiental. “Princípios e critérios socioambientais de REDD+”, 2010.
Disponível em:http://reddsocioambiental.org.br/PC%20Socioambientais%20de%20REDD+_versao%20FINAL_Julho%202010.pdf. Acesso em: 5 out. 2014.
77 O problema do consentimento prévio informado violado foi levantado em Projetos de REDD em outros países, como ocorreu no Vietnã, onde houve apenas um Referendo, com uma única pergunta indagando aos indígenas se gostariam que suas terras fossem protegidas pelo REDD. NOSSO FUTURO ROUBADO. “Indígenas exigem autonomia em manejo de terras”, 2010. Disponível em: http://www.nossofuturoroubado.com.br/arquivos/novembro_10/1.html. Acesso em: 5 out. 2014.
22
Amortecimento prevista na Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) e os Contratos de Crédito de Carbono previstos em normas
nacionais e internacionais.
A possibilidade de utilização do conceito de ZA para a proteção adequada do
entorno de terras indígenas evidenciou-se no caso julgado pelo TRF da 1ª Região.
No entanto, como ainda não há coisa julgada, não é possível concluir que essa
interpretação permanecerá. A regulamentação sobre a mineração em terras
indígenas é necessária e não pode ser substituída pelo judiciário. No entanto, como
há vários interesses econômicos e políticos em confronto, é necessário um
acompanhamento minucioso da academia da tramitação dos projetos de lei citados
no artigo.
Com relação aos contratos de crédito de carbono, trata-se de campo jurídico
de crescente regulamentação no cenário brasileiro. A contribuição à proteção dos
direitos indígenas se dá pelos possíveis efeitos do contrato na efetividade desses
direitos. Contudo, é preciso um exame rígido de sua validade jurídica, sobretudo
pela inclusão de cláusulas de proteção aos direitos indígenas, que devem ser
expressas no contrato, sob pena de nulidade. O Ministério Público, a FUNAI, as
associações de defesa dos povos indígenas e demais organizações devem analisar
minuciosamente esses contratos atentos a possíveis fraudes e negociações de má-
fé. É imprescindível a presença de cláusulas de consentimento prévio informado e
de proteção do regime de usufruto indígena, com a inclusão da proteção do modo de
vida aliada à conservação ambiental objeto do contrato.
Referências bibliográficas
AMARAL, Madson Anderson C. M. “Titularidade dos créditos de carbono e a celebração de contratos em terras indígenas na Amazônia legal”. In: BENJAMIN, Antônio Herman; LEITE, José Rubens Morato. 19º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, Teses de Estudantes de Graduação. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014, pp.238-251.
ANAYA, James. “Indigenous Peoples’ participatory rights in relation to the decisions about natural resource extraction: the more fundamental issue of what rights
23
indigenous peoples have in lands and resources”. Arizona Journal of International & Comparative Law, vol 22, n. 1, 2005. ARKKAINEN, B.; RADLEY C. "Information-forcing environmental regulation", Florida State University Law Review, vol. 33:861, 2006, p. 861.
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 5. Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2003.
BROUGHTON, Emma ; PIRRARD, Romain. "Instruments de marché pour la biodiversité : la réalité derrière les termes". Analyse, n°03/11, mai 2011, p. 11.
BOUTHINON-DUMAS, Hugues. "Les stratégies juridiques: essai sur les articulations entre droit, économie et management". In: MASSON, Antoine. Les stratégies juridiques des entreprises. Groupe de Boeck s.a., Bruxelles: Éditions Larcier, 2009, p. 12.
BOUTONNET, Mathilde, "L’efficacité environnementale du contrat". In: BOSKOVIC, Olivera. L’efficacité du droit de l’environnement. Paris: Dalloz, 2010.
CALSING, Renata de Assis. Les contrats de droit privé et la realisation de l’intérêt géneral - le cas particulier du mécanisme de developpement propre du Protocole de Kyoto. Tese: Direito, Université de Paris I, 2010.
CAVALCANTE FILHO, João Trindade. “Usufruto exclusivo das terras indígenas: natureza, alcance e objeto”. Jus Navigandi, 2007. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/10804/usufruto-exclusivo-das-terras-indigenas. Acesso em: 5 out. 2014.
CARBONNIER, Jean. “Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur”. 10 ed. Paris: L.G.D.J., 2001.
CIMI. “IHU: Cacique Munduruku esclarece farsa sobre contrato de REDD”, 2012. Disponível em: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=6154. Acesso em: 5 out. 2014.
CIMI. “REDD e as tentativas de criminalização dos povos indígenas”. Disponível em: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&conteudo_id=6136&action=read. Acesso em: 5 out 2014.
COMITÊ REDD Socioambiental. “Princípios e critérios socioambientais de REDD+”, 2010. Disponível em:http://reddsocioambiental.org.br/PC%20Socioambientais%20de%20REDD+_versao%20FINAL_Julho%202010.pdf. Acesso em: 5 out 2014.
24
CURI, Melissa Volpato. Mineração em Terras Indígenas: caso Terra Indígena Roosevelt. Dissertaçãoa presentada no Instituto de Georciências da Universidade Estadual de Campinas, 2005. EMPRESA Celestial Green Ventures e Associação Pusuru. Contrato número 473531-11-PV01. Disponível em: http://apublica.org/wp-content/uploads/2012/03/Contrato-Celestial-com-Mundukuru.docx. Acesso em: 5 out 2014.
FAUSTINO, Cristiane; FURTADO, Fabrina. Mineração e Violações de Direitos: O projeto Ferro Carajás S11D, da Vale S.A. Relatório da Missão de Investigação e Incidência, Açailândia-MA, 2013.
FUNAI. “FUNAI faz recomendações sobre crédito de carbono em terras indígenas”, 2012. Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/729-funai-faz-recomendacoes-sobre-credito-de-carbono-em-terras-indigenas?highlight=WyJjYXJib25vIl0=. Acesso em: 5 out. 2014.
FUNAI. “Terras indígenas – o que é?”. Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas?limitstart=0#. Acesso em: 5 out. 2014.
FUNAI. “COP 16: Povo Suruí lança primeiro fundo de carbono indígena”, 2010. Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/2232-cop-16-povo-surui-lanca-primeiro-fundo-de-carbono-indigena?highlight=WyJjYXJib25vIl0. Acesso em: 5 out 2014.
GARCIA, Leonardo de Mediros; THOMÉ, Romeu. Direito Ambiental. 7ª. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014.
INSTITUTO CARBONO BRASIL. “Rondônia inicia construção de política para REDD+”, 19.08.2014. Disponível em: http://www.institutocarbonobrasil.org.br/redd_/noticia=737966. Acesso em: 5 out. 2014.
KAEB, Caroline. “Emerging Issues of Human Rights Responsibility in the Extractive and Manufacturing Industries: Patterns and Liability Risks”. Northwestern Journal of International Human Rights, vol. 6, issue 2, 2008.
KARSENTY, Alain; WEBER, Jacques. "Les marchés de droit pour la gestion de l'environnement. Introduction générale". Tiers-Monde, 2004, tome 45 n°177. pp. 7-28.
25
KARSENTY, Alain; BLAS, Driss Ezzine de. "Chapitre 5 Du mésusage des métaphores, Les paiements pour services environnementaux sont-ils des instruments de marchandisation de la nature ?". In: CH. HALPERN P. Lascoumes, P. Le Galès (eds). L'instrumentation de l'action publique - Controverses, résistances, effets. Paris: Presses de Sciences Po, 2014, p.178.
LEMOINE, Marion. Le mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto, révélateur des évolutions de la normativité internationale. Tese: Direito, Université d'Aix-Marseille, 2013, p. 19.
LIMA, Gabriela G. B. La compensation en droit de l’environnement: une typologie juridique. Tese: Direito: Université d’Aix-Marseille, Cotutela com o Centro Universitário de Brasília, 2014.
MALJEAN-DUBOIS, Sandrine. "La mise en œuvre du droit international de l’environnement". IDDRI. Analyses, Gouvernance Mondiale, n° 03/2003, p. 23.
Ministério do Meio Ambiente (MMA). Estratégia brasileira de REDD+. Disponível em: http://www.mma.gov.br/redd/index.php/pt/2013-04-01-14-41-18/nacional/eredd. Acesso em: 5 out. 2014.
MORGENSTERN, Richard D. "Economic Incentives versus Command and Control, what’s the best approach for solving environmental problems?". Ressources, Fall/Winter 2004. Disponível em: http://www.rff.org/rff/Documents/RFF_Resources_152_ecoincentives.pdf, p. 17. Acesso em: 5 out. 2014.
NOSSO FUTURO ROUBADO. “Indígenas exigem autonomia em manejo de terras”, 2010. Disponível em: http://www.nossofuturoroubado.com.br/arquivos/novembro_10/1.html. Acesso em: 5 out. 2014.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21ª ed. São paulo: Malheiros, 2013. MOURA, N. S.; MACHADO, N. R. C. “Qual a norma aplicável ao índio no paradigma da interação?”. R. Curso Dir. UNIFOR, Formiga, v. 4, n. 1, p. 33-50, jan./jun. 2013.
MOURA, Márzio Ricardo Gonçalves de. “Uma análise atual da situação da capacidade civil e da culpabilidade penal dos silvícolas brasileiros”, Revista CEJ, Brasília, Ano XIII, n. 45, p. 70-76, abr./jun. 2009.
NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. "Pagamento por serviços ambientais. Do debate de política ambiental à implementação jurídica". In: LAVRATTI, Paula; TEJEIRO, Guillermo (orgs). Direito e Mudanças Climáticas 6: Pagamento por Serviços
26
Ambientais Fundamentos e principais aspectos jurídicos. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2013, p.14.
PEREIRA; Denise de Castro; BECKER, Luzia Costa; WILDHAGEN, Raquel Oliveira. “Comunidades atingidas por mineração e violação dos direitos humanos: cenários em Conceição do Mato Dentro”, Revista Ética e Filosofia Política, nº 16, vol 1, junho de 2013. POMADE, Adélie. La Société Civile et le droit de l´environnement. Contribution à la réflexion sur les sources et la validité des normes juridiques. Tese: Direito, Université d´Orléans, 2009, p. 262.
ROGER, Apolline. "Corégulation et Politique climatique de l´Union Européenne. Le rôle des accords environnementaux". In : MALJEAN-DUBOIS, Sandrine ; ROGER, Appolline. L´implication des entreprises dans les politiques climatiques. Entre corégulation et autorégulation. France – Aix en Provence: CERIC, 2011, p.67.
SADELLER, Nicolas de. "Les approches volontaires en droit de l´environnement, expression d´un droit post-moderne ?". In : HERVÉ-FOURNEREAU, Nathalie (dir.). Les approches volontaires et le droit de l´environnement, Paris: Editions PUR (Presses Universitaires de Rennes), 2008, p. 45-47;
SANTOS, Saint’Clair Honorado. Direito ambiental: Unidades de Conservação – limitações administrativas. Curitiba: Juruá, 2000. SILVEIRA, Edson Damas da. Meio ambiente, terras indígenas e defesa nacional. Curitiba: Juruá, 2010.
STANTON, Marcia Silva. "O papel do direito na proteção dos serviços ecossistêmicos". In: LAVRATTI, Paula; TEIJEIRO, Guillermo (orgs). Direito e Mudanças Climáticas, Pagamentos por serviços ambientais, fundamentos e principais aspectos jurídicos. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2013, p. 103.
TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, Ecological and Economic Foundations. London and Washington: Edited by Pushpam Kumar. Earthscan, 2010.
TEIXEIRA, Wilson Max Costa; BORBA, Alexandra Souza. “O Projeto REDD Carbono Tembé e sua Implantação na Terra Indígena Alto Rio Guamá”. Anais de Congresso, ANPPAS, 2012. Disponível em: http://www.anppas.org.br/encontro6/anais/ARQUIVOS/GT5-113-336-20120730101837.pdf. Acesso em: 1 out. 2014.
UNEP-WCMC. Developing ecosystem service indicators: Experiences and lessons learned from sub-global assessments and other initiatives. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montréal, Canada, 2011, Technical Series n. 58,
27
p.118. Disponível em: http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-58-en.pdf. Acesso em: 1 out. 2014.
UNFCCC. “Warsaw outcomes”. Disponível em: http://unfccc.int/key_steps/warsaw_outcomes/items/8006.php. Acesso em: 1 out. 2014.
VARELLA, Marcelo Dias. "A efetividade do direito internacional ambiental: análise comparativa entre as convenções da CITES, CDB, Quioto e Basiléia no Brasil". In: BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; VARELLA, Marcelo Dias (orgs.). A efetividade do direito internacional ambiental. Brasília: UNICEUB, UNITAR e Unb, 2009, p. 34-35.
WYETH, George B. "Standard" and "Alternative" Environmental Protection: The Changing Role of Environmental Agencies". William & Mary Environmental Law and Policy Review, volume 31, issue 1, article 3, 2006. Disponível em: http://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol31/iss1/3, p. 16. Acesso em: 1 out. 2014.
YOUNG, Oran R. "A eficácia das instituições internacionais: alguns casos difíceis e algumas variáveis críticas". In: ROSENAU, James N.; CZEMPIEL, Ernst-Otto (orgs.). Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Traduction: Sérgio Bath. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000, p. 239.