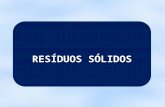Zonamento do potencial à liquefação. Tentativa de aplicação em portugal.
Liquefação de Resíduos - Técnico Lisboa · Liquefação de Resíduos Otimização de Unidade...
Transcript of Liquefação de Resíduos - Técnico Lisboa · Liquefação de Resíduos Otimização de Unidade...

Liquefação de Resíduos
Otimização de Unidade Semi-Industrial e Valorização dos
Seus Produtos
Flávio Miguel Rocha Oliveira
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Engenharia Química
Orientadores: Dr.ª Maria Margarida Pires dos Santos Mateus
Dr. Rui Miguel Galhano dos Santos Lopes
Orientador externo: Eng.ª Ângela Maria Jesus de Sequeira Serra Nunes
Júri Presidente: Professor João Carlos Moura Bordado
Orientador: Eng.ª Ângela Maria Jesus de Sequeira Serra Nunes
Vogal: Professor Francisco Manuel da Silva Lemos
Julho 2016

ii

iii
I. Agradecimentos
Quero agradecer aos meus orientadores Dr.ª Maria Margarida Pires dos Santos Mateus
e Dr. Rui Miguel Galhano dos Santos Lopes, bem como ao Professor Doutor João Carlos Moura
Bordado pela orientação, disponibilidade, comentários e sugestões que me fizeram desenvolver
o melhor trabalho possível.
À Eng.ª Ângela Maria Jesus de Sequeira Serra Nunes o meu muito obrigado por tudo,
desde a oportunidade que me deu de ter estagiado numa grande empresa como a Secil bem
como todo o apoio que me prestou, confiando sempre em mim. Estou-lhe grato por ter tido esta
oportunidade.
À Eng.ª Diana Correia agradeço toda a ajuda que me concedeu. Foi fundamental o seu
contributo no desenvolvimento do meu trabalho.
Uma palavra também para o Eng.º Vítor Vermelhudo, Eng.º Jorge Galvão, bem como
para todo o pessoal do Centro de Desenvolvimento de Aplicações de Cimento e do Laboratório
de Qualidade do Outão pela rápida integração que me proporcionaram e pela disponibilidade
demonstrada.
Agradeço também a todos os meus colegas que me acompanharam durante o percurso
académico, especialmente à Raquel e ao Felipe por todos os momentos que passámos ao longo
do mestrado, os quais nunca esquecerei. Muito obrigado.
Por fim, um enorme obrigado aos meus pais. Sem vocês nada disto teria sido possível.

iv

v
II. Resumo
Neste trabalho estudou-se a otimização e valorização do bio-óleo obtido numa instalação
piloto semi-industrial de liquefação de biomassa, tendo como finalidade a utilização deste produto
como biocombustível no forno de produção de clínquer branco da empresa CMP, pertencente
ao Grupo Secil.
De forma a melhorar a qualidade do produto foram feitos diversos melhoramentos à
instalação piloto tais como um novo agitador, aumento de potência de agitação e nova disposição
das serpentinas no reator. Os resultados destas alterações ainda não são conhecidos.
Com o intuito de legalizar o bio-óleo foram estudados diversos enquadramentos
normativos, sendo a norma ASTM D 7544 e a especificação nacional do fuelóleo presente no
Decreto-Lei Nº142/2010 os mais adequados devido à similaridade de aplicações. Para estes
enquadramentos foi feito um guia de caracterização de propriedades físicas com descrição dos
métodos de ensaio, sendo que o LQLO apenas consegue realizar dois métodos: poder calorífico
(ASTM D 240) e teor de água (ASTM E 203). A nível nacional apenas a especificação do fuelóleo
pode ser satisfeita pelas entidades laboratoriais acreditadas. Foi feito o enquadramento do bio-
óleo industrial (cortiça e CDR) nas normas do fuelóleo nacional, gasóleo (EN 590) e biodiesel
(EN 14214), tendo a do fuelóleo gerado melhores resultados.
Nos ensaios laboratoriais fez-se um estudo da influência das variáveis operatórias,
sendo que o melhor rendimento obtido foi de 72%, considerando como condições ótimas estilha
de pinho seca, maior granulometria e 30 minutos de swelling a quente. Fez-se um pré-tratamento
com solução de Al2(SO4)3, tendo-se obtido melhores resultados utilizando biomassas húmidas.
Palavras-chave: liquefação, bio-óleo, instalação piloto, combustível, normas, enquadramento.

vi

vii
III. Abstract
In this work it was studied the optimization and upgrading of bio-oil obtained in an semi-
industrial pilot plant biomass liquefaction, with the purpose to use this product as biofuel in furnace
for white clinker production from CMP company, which belongs to Secil Group.
In order to improve the quality of the product, several improvements to the pilot plant were
made such as a new stirrer, increased stirring power and new arrangement of the coils in the
reactor. The results of these changes are not yet known.
In order to legalize bio-oil, different regulatory frameworks were studied, with the ASTM
D 7544 and the national specification of fuel oil (Decree 142/2010) proving to be the most suitable
standards due to the similarity of applications. For these standards it was made a guide for
physical property characterization with description of test methods wherein LQLO can only
perform two methods: calorific value (ASTM D 240) and water content (ASTM E 203). Nationally,
only the fuel oil specification can be met by accredited laboratory entities. It was made the
framework of industrial bio-oil (cork and RDF) in the national fuel oil, diesel fuel (EN 590) and
biodiesel (EN 14214) standards, generating better results in the framework of fuel oil standard.
In laboratory tests, a study on the influence of operational variables in the process was
made, in which the best yield was 72%, given as optimal conditions large dried pine chips and 30
minutes of swelling under heat. A pre-treatment with aluminum sulfate solution was made, yielding
best results using wet biomass.
Keywords: liquefaction, bio-oil, pilot plant, fuel, standards, framework.

viii

ix
IV. Índice
I. Agradecimentos ................................................................................................................... iii
II. Resumo ................................................................................................................................ v
III. Abstract ............................................................................................................................... vii
IV. Índice ..................................................................................................................................... ix
V. Índice de Figuras ................................................................................................................. xii
VI. Índice de Tabelas ................................................................................................................ xiv
VII. Abreviaturas ......................................................................................................................... xv
1. Introdução .............................................................................................................................. 1
Energias Renováveis ......................................................................................................... 1
Biomassa ............................................................................................................................ 2
Definição ...................................................................................................................... 2
Tipos de Biomassa ...................................................................................................... 3
Produtos da Biomassa ................................................................................................ 4
Processos de Conversão de Biomassa ............................................................................. 4
Combustão .................................................................................................................. 5
Gaseificação ................................................................................................................ 5
Pirólise ......................................................................................................................... 6
Liquefação ................................................................................................................... 7
Tipos de Liquefação ............................................................................................. 7
Etapas Físico-químicas do Processo de Liquefação Direta ................................ 8
Parâmetros que Influenciam a Performance da Liquefação Direta ..................... 8
Solventes ............................................................................................................ 12
Liquefação versus Pirólise Rápida ................................................................................... 13
2. Projeto Energreen ............................................................................................................... 14
Enquadramento do Projeto .............................................................................................. 14
Revisão Bibliográfica ........................................................................................................ 14
Instalação Piloto Semi-Industrial ...................................................................................... 15
Descrição do Processo .................................................................................................... 16
Alterações Futuras ao Projeto .......................................................................................... 19
3. Enquadramento Normativo do Produto ............................................................................... 20
Processo de Normalização do Bio-óleo ........................................................................... 20
Normas de Combustíveis ................................................................................................. 22
Combustíveis Fósseis ............................................................................................... 22
GPL .................................................................................................................... 23
GPL Carburante ................................................................................................. 23
............................................................................................................ 23
Petróleos ............................................................................................................ 24
Gasóleos ............................................................................................................ 24

x
Gasóleo de Aquecimento ................................................................................... 25
Fuelóleo .............................................................................................................. 25
Jet A-1 ................................................................................................................ 26
Biocombustíveis ........................................................................................................ 26
............................................................................................................. 26
Bioetanol............................................................................................................. 27
Óleos Vegetais ................................................................................................... 27
Bio-óleo de Pirólise (FPBO) ............................................................................... 28
....................................................... 30
Guia de Caracterização de Propriedades Físicas do Bio-óleo Para Enquadramento
Normativo ................................................................................................................................ 32
Homogeneidade e Amostragem ............................................................................... 32
Homogeneização ............................................................................................... 32
Amostragem ....................................................................................................... 33
......................................................................... 33
Homogeneização por Adição de Solvente ......................................................... 34
Métodos de Ensaio .................................................................................................... 35
Entidades Acreditadas a Nível Nacional que Realizam Métodos de Ensaio para os
Enquadramentos Escolhidos ................................................................................................... 40
Bio-óleo de Pirólise (ASTM D 7544) ......................................................................... 41
Fuelóleo (Decreto-Lei Nº142/2010)........................................................................... 42
Resultados do Enquadramento Normativo ...................................................................... 43
Economia Circular ............................................................................................................ 45
4. Atividade Laboratorial .......................................................................................................... 47
Procedimento Experimental ............................................................................................. 47
Materiais .................................................................................................................... 47
....................................................................................... 48
Procedimento ............................................................................................................ 48
Pré-ensaio .......................................................................................................... 48
Determinação da Humidade da Biomassa ......................................................... 48
Pesagem de Reagentes ..................................................................................... 50
Pré-tratamento ................................................................................................... 50
Ensaio Reacional ............................................................................................... 51
Separação .......................................................................................................... 52
Resultados Experimentais................................................................................................ 54
Análise da Influência das Condições Operatórias .................................................... 54
Caracterização dos Liquefeitos e Resíduos .............................................................. 60
5. Conclusões .......................................................................................................................... 62
6. Bibliografia ........................................................................................................................... 65
7. Anexos ................................................................................................................................. 74

xi
Normas de Combustíveis Fósseis ................................................................................... 74
Normas de Biocombustíveis............................................................................................. 86
Entidades Acreditadas ..................................................................................................... 88
Caracterização de Amostras Laboratoriais ...................................................................... 91

xii
V. Índice de Figuras
Figura 1.1 - Procura total de energia primária na União Europeia.4 ............................................. 1
Figura 1.2 – Quotas de consumo de fontes de energia renováveis na União Europeia.6 ............ 2
Figura 1.3 - Produção de energia renovável em Portugal no ano de 2014.7 ................................ 3
Figura 1.4 - Tipos de biomassa produzidos em Portugal para fins energéticos em 2014.7 ......... 4
Figura 1.5 - Processos de conversão de biomassa, produtos e aplicações.11 ............................. 4
Figura 1.6 - Passos reacionais básicos para a liquefação direta de biomassa.24 ........................ 8
Figura 2.1 - Instalação piloto semi-industrial (alçado principal). ................................................. 15
Figura 2.2 - Instalação piloto semi-industrial (conjunto em perspetiva). ..................................... 16
Figura 2.3 – Etapas gerais do processo de liquefação ácida. .................................................... 16
Figura 2.4 – Interior do reator – serpentinas e agitador. ............................................................. 18
Figura 2.5 – Display do processo. ............................................................................................... 19
Figura 3.1 - Princípios base do processo de normalização.51 .................................................... 21
Figura 3.2 – Intervalos de destilação com exemplos de pontos de corte (temperaturas
fronteira).53 ................................................................................................................................... 22
Figura 3.3 – Exemplo de um dispositivo de mistura (Inotec VISCO JET VJ350) adequado para
o líquido de pirólise em contentores de 1m3.86 ........................................................................... 32
Figura 3.4 – Exemplo de amostra de bio-óleo homogéneo (uma fase), observado por
microscopia Leica DM LS.86 ........................................................................................................ 34
Figura 3.5 - Exemplo de amostra de bio-óleo não homogéneo (separação de fases), observado
por microscopia Leica DM LS.86 .................................................................................................. 34
Figura 3.6 - Dissolução do material extrativo na matriz de liquefeito. Note-se que alguns dos
extrativos não se dissolvem em álcoois.86 .................................................................................. 35
Figura 3.7 – Esquema resumo do processo de acreditação.102.................................................. 40
Figura 3.8 – Economia circular.105 ............................................................................................... 45
Figura 4.1 - Montagem laboratorial de ensaio reacional. ............................................................ 52
Figura 4.2 - Montagem de filtração a vácuo. ............................................................................... 52
Figura 4.3 – Efeito do tempo de swelling a quente na conversão de estilha de pinho com
proporção DEG:2EH de 1:3. ....................................................................................................... 54
Figura 4.4 – Estilha de pinho. Granulometria (da esquerda para a direita): grossa, média e
fina… ........................................................................................................................................... 55
Figura 4.5 – Efeito da granulometria na conversão de estilha de pinho, sem swelling e com
proporção DEG:2EH de 1:3. ....................................................................................................... 55
Figura 4.6 – Efeito da humidade na conversão de estilha de pinho, sem swelling e com
proporção DEG:2EH de 1:3. ....................................................................................................... 56
Figura 4.7 – Ensaios com otimização das condições operatórias .............................................. 56
Figura 4.8 – Efeito do tempo de pré-tratamento, com posterior swelling de 30 minutos. ........... 57
Figura 4.9 – Condensado obtido pelo pré-tratamento com solução de Al2(SO4)3 ...................... 57
Figura 4.10 – Efeito do tempo reacional na conversão de estilha de pinho, utilizando pré-
tratamento. .................................................................................................................................. 58
Figura 4.11 – Efeito da humidade na conversão de dregs e grits, sem swelling e com proporção
DEG:2EH de 3:1. ......................................................................................................................... 58

xiii
Figura 4.12 – Efeito da humidade e do pré-tratamento na conversão de biomassa de
desmatamento sem swelling e com proporção DEG:2EH de 1:3. .............................................. 59
Figura 4.13 – Resíduo obtido após liquefação. ........................................................................... 60
Figura 4.14 – Liquefeito de estilha de pinho.. ............................................................................. 60

xiv
VI. Índice de Tabelas
Tabela 1.1 – Tipos de biomassa e seus exemplos.9 ..................................................................... 3
Tabela 1.2 – Parâmetros físicos e químicos que influenciam a performance da liquefação
direta.1,16 ........................................................................................................................................ 9
Tabela 1.3 – Vantagens e desvantagens dos tipos de solventes utilizados na liquefação.24 .... 12
Tabela 3.1 – Processos comerciais de produção de bio-óleo por pirólise rápida.77 ................... 28
Tabela 3.2 - Norma ASTM D 7544-12 para bio óleo produzido a partir de pirólise
rápida.48,79,80,81,82,83 ....................................................................................................................... 28
Tabela 3.3 – Composições do bio-óleo.84,85 ................................................................................ 30
Tabela 3.4 – Lista de normas que não se enquadram nas características do bio-óleo
produzido.. ................................................................................................................................... 30
Tabela 3.5 – Enquadramento final do bio-óleo produzido. ......................................................... 31
Tabela 3.6 – Métodos de ensaio, normas aplicáveis, viabilidade e recomendações para uso em
bio-óleo. ....................................................................................................................................... 35
Tabela 3.7 – Propriedades e condições operatórias do bio-óleo industrial utilizado no
enquadramento. .......................................................................................................................... 43
Tabela 3.8 – Resultado do enquadramento do bio-óleo na norma EN 590 (gasóleo). .............. 43
Tabela 3.9 – Resultado do enquadramento do bio-óleo na norma EN 14214 (biodiesel
FAME)….. .................................................................................................................................... 44
Tabela 3.10 – Resultado do enquadramento do bio-óleo na especificação do fuelóleo nº4 BTE,
presente no DL Nº142/2010. ....................................................................................................... 45
Tabela 4.1 – Caracterização da biomassa (estilha de pinho), liquefeito e seu resíduo. ............ 60
Tabela 7.1 - Norma nacional de especificação do GPL.54 .......................................................... 74
Tabela 7.2 - Norma nacional de especificação do GPL carburante.54 ........................................ 75
Tabela 7.3 - Norma nacional de especificação das gasolinas.54 ................................................ 76
Tabela 7.4 - Norma nacional de especificação dos petróleos.54 ................................................. 78
Tabela 7.5 - Norma nacional de especificação dos gasóleos.54 ................................................. 79
Tabela 7.6 - Norma nacional de especificação do gasóleo de aquecimento.54 .......................... 80
Tabela 7.7 – Norma nacional de especificação dos fuelóleos.48,54 ............................................. 80
Tabela 7.8 - Especificações de combustível para turbinas de gás.66 ......................................... 81
Tabela 7.9 – Especificações para combustíveis navais destilados.67......................................... 82
Tabela 7.10 – Especificações para combustíveis navais residuais.67 ........................................ 83
Tabela 7.11 – Norma de especificação do Jet A-1.70.................................................................. 84
Tabela 7.12 – Norma europeia de especificação do biodiesel (FAME) – EN 14214:2012.72 ..... 86
Tabela 7.13 – Norma europeia de especificação do bioetanol – EN 15376:2014.74 .................. 87
Tabela 7.14 – Norma alemã de especificação do óleo vegetal de colza – DIN 51605:2010.76 .. 87
Tabela 7.15 - Entidades acreditadas em diversas áreas de intervenção que realizam os
mesmos métodos de análise impostos pela norma. ................................................................... 88
Tabela 7.16–Atribuição das entidades a cada propriedade imposta pela norma ASTM D7544 89
Tabela 7.17 – Atribuição das entidades a cada propriedade imposta pelo DL Nº142/2010 para o
fuelóleo. ....................................................................................................................................... 90
Tabela 7.18 – Caracterização de liquefeitos laboratoriais feita no LQLO. ................................. 91

xv
VII. Abreviaturas
(m/m) – Percentagem em massa
(v/v) – Percentagem em volume
2EH – 2-Etilhexanol
5-HMF – Hidroximetilfurfural
Al2(SO4)3 – Sulfato de alumínio
AlCl3 – Cloreto de alumínio
AFQRJOS - Aviation Fuel Quality
Requirements for Jointly Operated Systems
AFNOR – Association Francaise de
Normalisation
ASTM – American Society for Testing and
Materials
ATE – Alto Teor de Enxofre
BtL – Biomass to Liquid
BOCLE - Ball-on-Cyhder Lubricity Evaluator
BTE – Baixo Teor de Enxofre
Cn – Hidrocarbonetos com n átomos de
carbono
Ca – Cálcio
CH4 – Metano
CO – Monóxido de carbono
CO2 – Dióxido de carbono
CDR – Combustíveis Derivados de Resíduos
CE – Comissão Europeia
CEN – European Committee for
Standardization
CENELEC – European Committee for
Electrotechnical Standardization
CFBE – Consumo Final Bruto de Energia
CHN – Carbon, Hydrogen, Nitrogen
CLC – Companhia Logística de
Combustíveis
CMP – Cimentos Maceira e Pataias
DCN - Derived Cetane Number
DEF STAN – United Kngdom Defence
Standard
DEG – Dietilenoglicol
DIN – Deutsche Institut Fur Normung
DL – Decreto-Lei
EG – Etilenoglicol
EIA - Eletrónica Industrial de Alverca
EM | URF - Ensaios e Metrologia | Unidade de
Reação ao Fogo
EMPYRO - Energy & Materials from Pyrolysis
EN – European Standard
ETAR – Estação de Tratamento de Águas
Residuais.
ETSI - European Telecommunications
Standards Institute
FAME – Fatty Acid Methyl Esters
FER – Fontes de Energia Renováveis
FPBO - Fast Pyrolysis Bio-Oil
GPL – Gás de Petróleo Liquefeito
GtL – Gas to Liquid
H/C – Rácio Hidrogénio/Carbono
H2 – Hidrogénio molecular
H2O – Água
HCl – Ácido clorídrico
H2SO4 – Ácido sulfúrico
HTL – Hydrothermal Liquefaction
HTU - Hydrothermal Upgrading
I&D – Investigação e Desenvolvimento
IEA – Internacional Energy Agency
IEC - International Electrotechnical
Commission
INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em
Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
IP – Instalação Piloto
IP – Institute of Petroleum
IPA – Álcool Isopropílico
IPAC - Instituto Português de Acreditação
ISO – International Organization for
Standardization
IST – Instituto Superior Técnico
IT L – Instrução Técnica
JFTOT - Jet Fuel Thermal Oxidation Tester

xvi
JIG - Joint Inspection Group
JIS – Japan Industrial Standards
K – Potássio
K2CO3 – Carbonato de potássio
KF – Karl Fischer
KOH – Hidróxido de potássio
LAB-MI – Laboratório de Materiais Isolantes
LBK - Labcork (Laboratório Central do Grupo
Amorim)
LCE - Laboratório de Calibrações e Ensaios
LFF - Laboratório de Fumo e Fogo
LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia
Civil
LQLO - Laboratório de Qualidade do Outão
LRM - Laboratório da Refinaria de
Matosinhos
LUFAA - Laboratório da Unidade Fabril de
Adubos de Alverca
Mg – Magnésio
MON – Motor Octane Number
MSEP – Micro-Separometer
Mtoe - Million Tonnes of Oil Equivalent
Na – Sódio
Na2CO3 – Carbonato de sódio
NaOH – Hidróxido de sódio
ppm – Partes por milhão
ppmv – Partes por milhão em volume
prEN - Draft European Standard
PCI – Poder Calorífico Inferior
PCS – Poder Calorífico Superior
PEG – Polietilenoglicol
PG – Propilenoglicol
PTSO - Ácido p-toluenosulfónico
PTFE – Politetrafluoretileno
RDF – Residue Derived from Fuel
Rh – Ródio
RON - Research Octane Number
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
S/B – Rácio Solvente/Biomassa
S/S – Rácio Solvente/Solvente
SGS - Sociedade Geral de Superintendência
TAN – Total Acid Number
TS - Technical Specification
TSE - Total Sediment Existent

1
1. Introdução
Energias Renováveis
As reservas de energia primária fóssil encontram-se limitadas, sendo que necessitam de
ser substituídas num futuro muito próximo. É neste contexto que surgem as energias renováveis
que, como o próprio nome indica nunca se esgotam, uma vez que estão constantemente a ser
restabelecidas. Energia eólica, solar, geotérmica, hidráulica e biomassa são alguns exemplos de
fontes de energias renováveis (FER).1,2
O aumento da utilização de energias renováveis é imprescindível, tanto por questões de
natureza ambiental como a diminuição das emissões de CO2 responsável pelo efeito de estufa,
bem como por questões económicas e demográficas como o aumento do preço do petróleo e o
crescimento da população que fazem aumentar a procura de energia e de bens de consumo. 2,3
Figura 1.1 - Procura total de energia primária na União Europeia.4
Conforme se pode ver na Figura 1.1, existe um crescimento significativo da procura e
produção de energia a partir de FER, sendo este uma consequência da evolução do tratamento
legislativo na União Europeia desde o início do século XXI sobre esta temática (Diretivas
2001/77/CE e 2003/30/CE).
A diretiva mais recente (2009/28/CE) pretende estabelecer um objetivo comum para a
promoção de energia proveniente de FER, fixando objetivos nacionais para a quota global de
energia proveniente destas fontes no consumo final bruto de energia (CFBE) e também para a
quota consumida de FER (biocombustíveis) no setor dos transportes. Também estabelece
critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis e biolíquidos usados na produção de calor
e electricidade.5
0 100 200 300 400 500 600 700
Carvão
Petróleo
Gás
Nuclear
Hidro
Bioenergia
Outras renováveis
Mtoe
1990
2013
2030

2
Figura 1.2 – Quotas de consumo de fontes de energia renováveis na União Europeia.6
Em termos nacionais, esta diretiva fixou como objetivo de incorporação a percentagem
de 31% de FER no consumo final bruto de energia (CFBE) até 2020 (Figura 1.2). Este contributo
advém do setor de produção de eletricidade (≈55%), aquecimento e arrefecimento nos setores
da industria, de serviços e doméstico (≈30%) e ainda nos transportes (10%) sendo apenas esta
última vinculativa.6 Em 2014 o peso das FER no CFBE foi de 27%.7
A produção de energia a partir de FER deverá ser sustentável (ambientalmente,
economicamente e socialmente), sendo que as disposições na diretiva promovem:
Formas de produção que reduzam substancialmente as emissões de gases com efeito
de estufa (ambiental);
Produção a partir de resíduos, detritos, material celulósico não alimentar, material
lignocelulósico e algas (ambiental);
Investigação e desenvolvimento de tecnologias de energias renováveis (económico);
Disponibilidade de géneros alimentícios a um preço acessível (social).5
Biomassa
Definição
De acordo com a Diretiva 2001/77/CE de 27 de Setembro de 2001, a biomassa constitui
a fração biodegradável de produtos e resíduos da agricultura (incluindo substâncias vegetais e
animais), da floresta e das indústrias conexas, bem como a fração biodegradável dos resíduos
industriais e urbanos.8
Este tipo de matéria-prima é um promissor substituto das matérias-primas fósseis para
produção sustentável de combustíveis e de produtos químicos, tendo como principais vantagens
o seu baixo custo e ser considerado um recurso natural renovável, contribuindo desta forma para
a diminuição da pegada de carbono.

3
Em Portugal, nos últimos anos, cerca de 50% da produção de energias renováveis
provém da biomassa, sendo que 60% desta foi transformada em outras formas de energia,
nomeadamente em centrais termoelétricas e centrais de cogeração.7
Figura 1.3 - Produção de energia renovável em Portugal no ano de 2014.7
Tipos de Biomassa
Existem vários tipos de biomassa que, devido à sua enorme diversidade têm de ser
tratadas de maneiras específicas para produzirem os mais diversos tipos de produtos. Muitas
fontes de biomassa são produtos sazonais, sendo a madeira lenhocelulósica uma das exceções.9
Os principais tipos de biomassa e respetivos exemplos encontram-se evidenciados na Tabela
1.1, sendo de referir que a biomassa verde não pode ser armazenada.
Tabela 1.1 – Tipos de biomassa e seus exemplos.9
Tipo de Biomassa Exemplos
Lenhocelulósica Madeira e plantas lenhocelulósicas
Oleaginosas Soja e colza
Culturas de açúcar Beterraba sacarina e cana-de-açúcar
Culturas de amido Milho e trigo Biomassa verde Erva, luzerna e trevo
Culturas aquáticas Algas, ervas daninhas aquáticas e
jacinto-de-água
Bio resíduos
Resíduos e subprodutos agrícolas, palha, resíduos urbanos e domésticos, bio lamas,
águas residuais com matéria orgânica, óleos vegetais usados e gorduras animais
Em território nacional, os principais tipos de biomassa utilizados para fins energéticos
são as lenhas e resíduos vegetais/florestais (maior quota), licores sulfitivos (provenientes da
indústria papeleira), pellets e briquetes, biogás e outros tipos de biomassa como frações
renováveis de resíduos sólidos urbanos (RSU).7
44%
5%
49%
2%
Energia eletrica
Biocombustíveis
Biomassa
Outros renováveis (incluisolar térmico e geotermia debaixa entalpia)

4
Figura 1.4 - Tipos de biomassa produzidos em Portugal para fins energéticos em 2014.7
Produtos da Biomassa
Podem ser produzidos três tipos de combustível primário a partir da biomassa:
Líquido (Etanol, biodiesel, metanol, óleo vegetal e bio-óleo);
Gasoso (biogás (CH4, CO2), gás de produção (CO, H2, CH4, CO2), gás de síntese (CO,
H2) e gás natural (CH4));
Sólido (carvão e biomassa torrificada).
Destes, podem ser definidas quatro categorias principais de produtos para aplicação:
Químicos (metanol, fertilizantes e fibras sintéticas);
Energia (calor);
Eletricidade;
Combustível para transporte (gasolina e diesel).10
Processos de Conversão de Biomassa
A biomassa necessita de ser convertida a combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos que
serão usados para gerar eletricidade, fornecer calor ou para mover automóveis. Essa conversão
é feita através de processos termoquímicos, bioquímicos e/ou mecânicos. Na Figura 1.5 são
mostrados os diversos processos de conversão e seus possíveis produtos.
Figura 1.5 - Processos de conversão de biomassa, produtos e aplicações.11
44%
34%
15%
3%
4%Lenhas e resíduosvegetais/florestaisLicores sulfitivos
Pellets e briquetes
Biogás
Outra biomassa

5
Os processos mecânicos não são exatamente um processo de conversão, uma vez que
eles não alteram o estado físico da biomassa, apresentando como exemplos a compactação de
resíduos na forma de pellets, extração mecânica de óleo em filtro prensa e moagem de palha.
Os processos bioquímicos envolvem a utilização de enzimas, bactérias e outros
microrganismos para decompor a biomassa. A fermentação para converter açúcares em etanol
e a digestão anaeróbia para produção de biogás são alguns exemplos deste tipo de processos.11
Os processos termoquímicos utilizam calor para converter a biomassa. Possuem
eficiências maiores face aos processos biológicos em virtude de apresentarem menores tempos
de reação e serem capazes de degradar um maior número de compostos orgânicos, sendo por
isso preferenciais em termos industriais. A combustão, gaseificação, pirólise e liquefação são
considerados os principais processos termoquímicos.11,12
Como exemplo da aplicação de alguns destes processos termoquímicos tem-se a
conversão de biomassa lenhocelulósica em combustíveis líquidos, a produção de etanol obtido
a partir da hidrólise da biomassa, que produz monómeros de açúcar, seguida de fermentação, o
processo BtL (“biomass to liquid”), obtido a partir da gaseificação da biomassa seguida da síntese
de Fischer-Tropsch, e a produção de bio-óleo através de pirólise rápida ou liquefação de
biomassa.13
Combustão
A combustão representa, talvez, a utilização mais antiga da biomassa, uma vez que a
civilização se iniciou com a descoberta do fogo. Quimicamente a combustão é originada por uma
reação química entre oxigénio e matéria orgânica, originando dois compostos muito estáveis:
dióxido de carbono (CO2) e água (H2O).10
Este processo é largamente utilizado na produção de calor para o aquecimento de
ambientes e na geração de vapor em caldeiras que pode ser usado para movimentar turbinas a
vapor com o intuito de gerar eletricidade.14
Tem como principal vantagem a aplicação de tecnologia bem desenvolvida
comercialmente, possuindo inúmeros casos de sucesso na Europa e América do Norte,
utilizando resíduos florestais, agrícolas e industriais. Por outro lado, a queima de combustível
com alto teor de humidade, emissões de monóxido de carbono devido à queima incompleta, o
manuseio de cinzas e dificuldade de fornecer e salvaguardar o fornecimento suficiente de
biomassa para centrais termoelétricas modernas ainda são problemas técnicos passíveis de
serem melhorados.14,15
Gaseificação
A gaseificação é um processo em que um líquido ou sólido à base de carbono, como
biomassa, carvão, bio-óleo ou gasóleo, reage com o ar, oxigénio puro ou vapor, produzindo um
gás intitulado por gás de síntese ou de produção, podendo conter diversos compostos como
monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogénio, metano e azoto nas mais variadas
proporções.13

6
A gaseificação com o ar produz gás de produção, possuindo baixo poder calorífico
(≈5MJ/m3) devido à diluição com azoto, sendo por isso utilizado na queima em turbinas de vapor
para gerar eletricidade ou em caldeiras de vapor.14 A gaseificação com oxigênio puro ou com
vapor origina gás de síntese. Este gás é constituído principalmente por monóxido de carbono e
hidrogénio, possui um poder calorífico médio (12 a 20 MJ/m3 com oxigénio e 15 a 20 MJ/m3 com
vapor), sendo que pode ser convertido em hidrogénio, combustíveis como gasolina, diesel e
outros químicos de valor acrescentado como metanol e fertilizantes.14,16
A gaseificação de biomassa compreende as seguintes etapas sequenciais: secagem
para evaporação da humidade; pirólise para obtenção de gases, vapores do alcatrão ou óleos e
resíduos sólidos de carvão; gaseificação ou oxidação parcial do carvão, alcatrão e gases gerados
na pirólise.
As tecnologias de gaseificação de biomassa têm sido demonstradas com sucesso em
larga escala e em vários projetos, contudo, o seu custo ainda é elevado quando comparado com
a energia produzida a partir dos combustíveis fósseis. A integração da gaseificação com outros
sistemas processuais como por exemplo, uma biorrefinaria, é fundamental para viabilizar
economicamente este processo termoquímico.14
Pirólise
A pirólise é um processo que envolve a decomposição térmica de matéria na ausência
de oxigénio. Trata-se da primeira etapa dos processos de combustão e gaseificação. A pirólise
da biomassa produz gás, líquido e sólido em várias proporções, dependendo do tipo e das
condições do processo de pirólise. O gás é constituído por monóxido de carbono, dióxido de
carbono e hidrocarbonetos leves. O líquido de coloração escura é denominado de bio-óleo e o
sólido de carvão vegetal.14
Dependendo das condições operatórias utilizadas, o processo de pirólise da biomassa
pode operar em condições rápidas ou lentas. Na pirólise lenta são utilizados longos tempos de
residência, favorecendo a produção de carvão vegetal ou de gases conforme se opere a baixas
ou altas temperaturas respetivamente. Temperaturas moderadas e baixos tempos de residência
favorecem a produção de bio-óleo através de reações homogéneas que ocorrem na fase gasosa,
sendo este designado por processo de pirólise rápida.14,16
As principais características do processo de pirólise rápida são:
Elevadas taxas de aquecimento e de transferência de calor, requerendo uma biomassa
finamente moída;
Temperatura de reação controlada em torno de 500°C na fase de vapor, com tempos de
residência curtos, tipicamente menores que 2 segundos;
Rápido arrefecimento e condensação dos vapores (quenching) de forma a originar o bio-
óleo.17

7
Liquefação
Neste processo termoquímico, a biomassa é convertida em produtos liquefeitos através
de uma complexa sequência de estruturas físicas e mudanças químicas, resultando em
moléculas mais pequenas. Estas pequenas moléculas são instáveis e reativas e podem
repolimerizar em compostos oleosos (bio-óleo) com uma vasta gama de distribuição molecular.
No caso da liquefação, as macromoléculas presentes na matéria-prima são decompostas em
fragmentos de moléculas leves na presença de um catalisador adequado. As mudanças durante
o processo de liquefação envolvem vários tipos de reações tais como solvólise,
despolimerização, descarboxilação, hidrogenólise, hidrogenação entre outras.18
A matéria lenhocelulósica é o tipo de biomassa mais utilizado para a produção de bio-
óleo através do processo de liquefação.19
Tipos de Liquefação
Existem dois principais tipos de liquefação:
Liquefação Indireta (GtL) – A biomassa é gaseificada, obtendo-se gás de síntese que
posteriormente é convertido em combustíveis líquidos pelo processo de Fischer-Tropsch
com consequente refinação.1,20
Liquefação Direta – Conversão completa da biomassa em combustíveis líquidos sem a
existência do passo de gaseificação.1
Dependendo do tipo de condições operatórias empregues, existem duas variantes
principais para o processo de liquefação direta, nomeadamente:
Liquefação Hidrotérmica (HTL) - utiliza água ou solvente em estado aquoso a
temperaturas entre 180 e 370°C e pressões elevadas variando entre 4 e 25 MPa.16 Uma
das variantes mais conhecidas deste processo, chegando mesmo à fase de
demonstração comercial é o método Hydrothermal Upgrading (HTU), que utiliza
pressões elevadas (120 a 180 bar), temperaturas entre 300 e 350ºC e tempos de
residência entre 5 e 20 min.13
Solvólise – Processo que dissolve a biomassa em solventes orgânicos reativos tais como
fenol, álcoois polihídricos, carbonato de etileno, entre outros. São aplicadas
temperaturas moderadas (100 a 250ºC), podendo ser utilizado com e sem catalisador.21
Este processo tem atraído uma atenção considerável devido a não ser necessário impor
elevadas pressões nem processos de secagem, sendo realizado a temperaturas
moderadas.22

8
Etapas Físico-químicas do Processo de Liquefação Direta
A conversão de biomassa lenhocelulósica em hidrocarbonetos líquidos compreende os
seguintes passos básicos:
1. Preparação da matéria-prima com adequado teor de humidade e tamanho de partícula
(tipicamente <0,5mm);
2. Envolver a matéria-prima com um solvente (reciclo de bio-óleo, solvente em específico
ou simplesmente um sistema aquoso);
3. Aquecer a mistura até às condições reacionais;
4. Adição de gás redutor (H2 ou H2/CO a pressões elevadas com o objetivo de aumentar o
rácio hidrogénio/carbono e diminuição do teor em oxigénio);
5. Reação principal;
6. Separação do produto (equilíbrio líquido-vapor usado para separar os condensados dos
gases não condensáveis);
7. Separação sólido-líquido (por destilação, centrifugação e/ou extração) e recuperação do
solvente.1,20
A biomassa é composta por diferentes componentes, gerando por liquefação direta
inúmeros tipos de espécies químicas. Apesar desta variedade, as etapas reacionais podem ser
descritas brevemente como um mecanismo composto por três fases: despolimerização da
biomassa originando monómeros (glucose, entre outros), decomposição dos monómeros da
biomassa produzindo fragmentos instáveis e por último rearranjo dos fragmentos reativos (Figura
1.6).23
Figura 1.6 - Passos reacionais básicos para a liquefação direta de biomassa.24
Parâmetros que Influenciam a Performance da Liquefação Direta
A performance deste processo termoquímico pode ser caracterizada através da análise
de diversos fatores como rendimento em bio-óleo, formação de carvão, propriedades físico-
químicas do bio-óleo como a sua composição, valor de pH, rácio H/C, teor de oxigénio e poder
calorífico superior.
Existem diversos parâmetros físicos e químicos ou condições operatórias que
influenciam a performance da liquefação direta, nomeadamente o seu rendimento, estando
explicitado os principais na Tabela 1.2.

9
Tabela 1.2 – Parâmetros físicos e químicos que influenciam a performance da liquefação direta.1,16
Parâmetros Físicos Parâmetros Químicos
Temperatura Pressão
Rácio mássico solvente/biomassa (S/B) Concentração de catalisador
Tempo de residência
Tipo/composição da biomassa Solvente
Catalisador Atmosfera
De seguida são explicitados alguns aspetos e recomendações a utilizar em relação a
cada um destes parâmetros, baseados em diversos artigos científicos publicados nesta área.
Tipo/composição da biomassa
Biomassa com elevados teores de celulose e hemicelulose favorece altos rendimentos
em bio-óleo.19 Pelo contrário, altos teores de lenhina fazem decrescer o rendimento em bio-óleo
e aumentam a formação de carvão. Isto deve-se ao facto de a lenhina ser uma macromolécula
com uma estrutura complexa, que por decomposição térmica acima de 252°C forma radicais
livres de fenol através de reações de condensação e repolimerização, formando desta forma
resíduos sólidos.25
A quantidade de celulose e hemicelulose não é muito relevante visto que são compostos
com estruturas relativamente mais simples face à lenhina e, são por isso, mais facilmente
despolimerizados (hemicelulose 120 a 180°C, celulose > 240°C).1
Os compostos aromáticos presentes na biomassa são relevantes no que toca ao
aumento da densidade e viscosidade do bio-óleo.26
Alguns tipos de biomassa como algas e desperdícios animais são constituídos por
lípidos, proteínas e hidratos de carbono. A eficiência da conversão deste tipo de compostos em
bio-óleo é exibida na ordem de lípidos > proteínas > hidratos de carbono, levando a que maiores
teores de lípidos e proteínas originem maiores rendimentos em bio-óleo.27,28
Solvente
Existe menos resíduo sólido utilizando álcoois simples, tais como metanol e etanol. Têm
como principal desvantagem o seu baixo ponto de ebulição, evaporando-se antes da biomassa
ser liquefeita.1
Os álcoois polihídricos (poliálcoois) promovem a formação de produtos de elevado peso
molecular, bem como de uma maior formação de resíduos. Isto deve-se ao facto de uma única
molécula de poliálcool poder-se combinar com diversos fragmentos intermediários resultantes
decomposição da biomassa, originando assim produtos de maior peso molecular, promovendo
a formação de resíduos.29
Solventes quimicamente semelhantes tais como propilenoglicol (PG), etilenoglicol (EG)
e dietilenoglicol (DEG) apresentam distintos comportamentos na liquefação, pelo que o
rendimento pode variar significativamente (entre 16 e 32% (m/m)).1

10
O uso de polietilenoglicol (PEG) na liquefação promove reações de recondensação dos
produtos líquidos, aumentando desta forma o teor de resíduos sólidos.30
A adição de glicóis de baixo peso molecular (10 a 30% de glicerol) previne as reações
de recondensação, só sendo estas observadas aquando da presença de celulose e lenhina na
mistura reacional.31
Catalisador
São utilizados normalmente catalisadores ácidos, orgânicos ou inorgânicos na liquefação
por solvólise.
A adição de catalisador em baixas concentrações acelera as reações de degradação da
biomassa. Para concentrações acima da concentração crítica, as reações de condensação e de
repolimerização são favorecidas, implicando uma diminuição do rendimento da liquefação.1
Na liquefação por solvólise (glicerol/EG) de resíduos de madeira utilizou-se ácido
sulfúrico como catalisador, sendo que a concentração ótima alcançada foi de 3%.32
A adição de catalisadores alcalinos como K2CO3, KOH, Na2CO3 e NaOH podem melhorar
o rendimento, suprimindo a formação de carvão.23
Catalisadores ácidos, incluindo ácidos inorgânicos (HCl e H2SO4) e sais ácidos (AlCl3)
podem aumentar a formação de compostos solúveis em água, tais como ácidos carboxílicos e
hidroximetilfurfural (5-HMF).33
Catalisadores homogéneos exibem maior atividade catalítica face aos heterogéneos.
Ácidos orgânicos levam a menores resíduos e sais como fosfatos, sulfatos e carbonatos exibem
menor atividade catalítica face ao NaOH. São utilizados usualmente como catalisadores diversos
metais como cobre, níquel, cloreto de zinco e hidróxido de ferro, alguns carbonatos e
bicarbonatos como carbonato de sódio, e catalisadores heterogéneos de níquel e ruténio que
auxiliam na hidrogenação preferencial.13
Atmosfera
Tem um menor impacto em termos de capacidade redutora face ao uso de solventes,
pois foram obtidos resultados similares tanto na presença de hidrogénio como de azoto.34
Menores proporções entre solvente e biomassa podem tornar o tipo de gás usado mais
relevante.1
Temperatura
Uma temperatura intermédia é a mais recomendada. A desfragmentação dos polímeros
aumenta com o incremento de temperatura até atingir um ponto crítico, sendo este diferente
consoante o tipo de biomassa utilizada.1 A partir deste ponto a competição entre as reações de
hidrólise e de repolimerização é mais evidente, sendo que a biomassa é decomposta e
despolimerizada (hidrólise) em fragmentos mais pequenos que, ao subir em demasia a
temperatura os leva a repolimerizar e à formação de resíduo, diminuindo assim a conversão.25

11
A temperatura também influencia outras propriedades do bio-óleo tais como a
viscosidade, valores hidroxilo e ácido.35
Pressão
Quanto maior for a pressão no sistema, menor a probabilidade de componentes do
liquefeito serem gaseificados (como os solventes empregues).1
A pressão influencia a densidade do solvente, modificando a sua densidade. Em região
subcrítica, com o aumento de pressão a densidade do solvente (água) aumenta, podendo
penetrar na estrutura da biomassa de forma mais eficiente, o que aumenta a sua degradação e
consequente produção de bio-óleo.36
Rácio Solvente/Biomassa (S/B) e Solvente/Solvente (S/S)
Com a utilização de maiores rácios S/B obtém-se menos resíduo sólido, o que pode ser
explicado pela maior facilidade de despolimerização da biomassa em virtude de uma maior
quantidade de solvente.1 O aumento da quantidade de biomassa (diminuição do rácio S/B)
conduz a um aumento da viscosidade do bio-óleo, dificultando a agitação, mistura, limitando
assim a velocidade da reação.35
A mudança no rácio S/S influencia propriedades como a viscosidade do bio-óleo. Numa
mistura de solventes DEG/glicerol, o aumento de concentração de DEG diminui a viscosidade,
permitindo o uso do bio-óleo em motores de pistão ou de turbina de combustão interna. Maiores
quantidades de glicerol aumentam a viscosidade do bio-óleo, podendo este ser apenas usado
em motores de combustão externa com maior tolerância à baixa qualidade do combustível.37
Concentração do catalisador homogéneo
O aumento da concentração privilegia a menor formação de resíduo sólido, pois acelera
a reação de degradação da biomassa, mas apenas até um certo valor (concentração crítica).
Acima da concentração crítica, as reações de condensação e repolimerização são favorecidas,
levando a um decréscimo da conversão.1
Tempo de residência
Tal como a concentração do catalisador, também existe um limite de tempo reacional
para o qual o rendimento da liquefação é máximo. Passando desse tempo, o rendimento diminui
devido à ocorrência de reações de condensação e repolimerização decorrentes de um maior
grau de fragmentação da biomassa em compostos gasosos, sendo repolimerizados de seguida
para formação de resíduo sólido.1
O impacto dos parâmetros físico-químicos no rendimento da liquefação direta só pode
ser analisado em termos qualitativos, uma vez que existem grandes dificuldades em obter
comparações quantitativas entre diferentes experiências de liquefação direta devido a fatores
como:

12
Definições de rendimento sólido e líquido podem variar;
A pressão do sistema durante a liquefação muitas vezes não se encontra documentada;
O tratamento do produto antes da sua análise difere significativamente entre os
diferentes grupos de pesquisa (diferentes tipos de separações sólido-líquido, extração
com diferentes solventes, entre outros).1
Solventes
A principal diferença entre a tecnologia de liquefação e os restantes processos de
conversão termoquímicos reside na utilização de solventes como meio reacional durante o
processo de liquefação, sendo considerado um dos parâmetros-chave que determinam o
rendimento e a composição do bio-óleo, o que faz com que se torne necessário abordar este
tema.24
Em meio orgânico, a química da liquefação irá depender da natureza das interações
substrato-solvente. Como primeiro passo para a liquefação, a solvatação ocorre por via de
aceitação/doação de pares de eletrões entre o solvente e substrato, sendo que em sistemas
aquosos é necessária uma boa penetração do solvente na estrutura microfibrilar das cadeias
celulósicas para alcançar uma boa solvatação.20
Visto que a celulose é o principal componente da biomassa, os solventes devem ser
escolhidos com base na sua capacidade de interagir com a celulose, facilitando a sua
solubilização, promovendo assim as reações de solvólise, hidratações que ajudam a alcançar
uma melhor fragmentação da biomassa bem como reforçar a dissolução dos intermediários
reativos.20,24
De acordo com a sua polaridade, os solventes podem ser classificados em três
categorias: polares próticos, dipolares apróticos e apolares. Geralmente, e neste processo
termoquímico específico, os solventes podem ser divididos em duas classes principais, água e
solventes orgânicos, apresentando cada uma delas vantagens e desvantagens (Tabela 1.3).24
Tabela 1.3 – Vantagens e desvantagens dos tipos de solventes utilizados na liquefação.24
Tipos de Solventes
Vantagens Desvantagens
Água
- Recurso natural, fácil de obtenção e baixo custo; - Evita o passo de secagem da biomassa; - Facilita a recuperação de inorgânicos contidos na biomassa.
- Pontos críticos elevados, provocando condições reacionais severas; - Baixos rendimentos em bio-óleo insolúvel em água; - Bio-óleo com teor elevado em oxigénio e baixo poder calorífico (a água promove a repolimerização do bio-óleo, tornando-o instável).
Solventes Orgânicos
- Baixo ponto crítico, permitindo condições reacionais mais suaves; - Altos rendimentos em bio-óleo insolúvel em água; - Bio-óleo com baixo teor em oxigénio e elevado poder calorífico.
- São materiais sintéticos, implicando custos de aquisição elevados se comparados com a água; - Pode resultar em alguns problemas ambientais quando não é reciclado.

13
Na liquefação por solvólise, são utilizados preferencialmente solventes que possam ser
reciclados e, por conseguinte, provavelmente estes encontram-se limitados aos derivados de
hidratos de carbono ou lenhina. Nesta categoria foram encontrados fenóis, derivados fenólicos,
álcoois simples e poliálcoois.20
Liquefação versus Pirólise Rápida
Os dois processos termoquímicos mais relevantes para obter bio-óleo a partir de
biomassa são a liquefação hidrotérmica e a pirólise rápida. Contudo, existem diferenças entre
ambos os processos que influenciam a qualidade do produto final. Algumas dessas diferenças
são:
Pirólise Rápida
Como vantagem, o processo de pirólise rápida é realizado com tempos de residência
baixos (30ms a 1,5s), elevadas taxas de transferência de calor (1000 a 10.000ºC/s),
originando bio-óleos com baixa viscosidade, baixos teores de cinzas e de enxofre devido
a ser utilizado apenas calor para decompor a biomassa.13,16,38
Como desvantagem necessita de passo de secagem da biomassa (devido ao calor de
vaporização da água).13 Requer temperaturas operatórias elevadas (450 a 550ºC).16 O
elevado teor em oxigénio concede ao bio-óleo menor poder calorífico, má estabilidade
térmica, menor volatilidade, maior corrosividade e tendência de polimerização ao longo
do tempo, originando problemas de armazenamento e transporte.39 O bio-óleo é miscível
em água.40
Liquefação Hidrotérmica
O bio-óleo produzido por liquefação hidrotérmica não necessita do passo de secagem
da biomassa, apresenta maior poder calorífico, menor teor de humidade e de oxigénio e
não é miscível em água. Temperaturas operatórias relativamente baixas (250 a 450°C).
39,40
As condições operatórias implicam altas pressões (50 a 200 atm) e tempos de residência
elevados.13,39 O bio-óleo apresenta maiores viscosidades.13 Os custos de capitais
associados a este processo são maiores.39
Em alternativa a estes dois processos, os trabalhos de (Kunaver et. al., 2012) propõem
um método alternativo de liquefação de biomassa na presença de poliálcoois (solvólise), sendo
realizado a temperaturas entre 160 e 200ºC, à pressão atmosférica e na presença de um
catalisador ácido.37,38
Estas condições operatórias suaves acabam por simplificar este processo em
comparação com os outros acima mencionados, servindo como base ao processo industrial e
laboratorial de produção do bio-óleo, descritos nesta tese nos capítulos que se seguem.

14
2. Projeto Energreen
Enquadramento do Projeto
A CMP (Cimentos Maceira e Pataias), pertencente ao Grupo Secil, é uma empresa
produtora de cimento e, como tal, preocupa-se não só com a qualidade dos seus produtos, bem
como a forma como a consegue.
Entre os objetivos estratégicos da empresa destacam-se a qualidade e a maximização
da utilização de combustíveis alternativos (resíduos sólidos) nos fornos de cimentos. Contudo,
esta combinação não tem sido possível de conciliar na fábrica CMP de Pataias no que diz
respeito à linha de produção de cimento branco (clínquer), pois tratando-se de um processo com
um grau de complexidade superior face à produção de clínquer cinzento, o clínquer branco sofre
facilmente contaminações de cor, nomeadamente pela presença de cinzas provenientes da
queima, alterando desta forma os índices de brancura impostos bem como a qualidade do
produto final, não sendo por isso utilizado qualquer combustível alternativo sólido nesta linha.
É neste âmbito que surge o Projeto Energreen. Situado na fábrica CMP de Pataias, este
projeto consiste na obtenção de um novo biocombustível (bio-óleo) através de um processo de
liquefação ácida de diversos tipos de biomassa para ser posteriormente utilizado somente no
forno de produção de clínquer branco.
Este biocombustível destaca-se por ser limpo (líquido e com baixo teor de cinzas),
estável quimicamente (baixo teor em oxigénio) e apresentar maior poder calorífico face à
utilização de resíduos sólidos, aumentando assim a eficiência de combustão, resultando numa
minimização de eventuais alterações na qualidade do produto, nomeadamente de cor.
Assim sendo, a possibilidade de utilizar um combustível processado quimicamente a
partir de resíduos, normalmente não utilizáveis neste processo, económicos, permite minimizar
efetivamente as emissões de CO2, bem como a utilização de combustíveis fósseis, contribuindo
assim para uma redução significativa da pegada ecológica deste tipo de cimento.
Revisão Bibliográfica
Aproximadamente metade do CO2 resultante da produção de cimento resulta das
reações químicas que convertem a pedra calcária em clínquer, o ingrediente ativo no cimento.41
Esta reação química é responsável por cerca de 540 kg de CO2 por tonelada de clínquer.42 Cerca
de 40% das emissões resultam da queima de combustível e os restantes 10% são devido ao
transporte e eletricidade.43
O clínquer é feito por aquecimento do calcário, argila, bauxite e ferro a temperaturas de
mais de 1400ºC em fornos rotativos que requerem grandes quantidades de energia. O
combustível utilizado nos fornos é responsável por cerca de 86% de toda a energia necessária
no processo produtivo. Neste processo, os combustíveis mais utilizados são o carvão e o coque
de petróleo, e a sua combustão é responsável pela maioria das emissões, sendo crucial a curto
prazo a sua substituição por combustíveis alternativos para diminuição das emissões.

15
Os produtores de cimento na União Europeia obtêm 66% da energia térmica a partir de
combustíveis fósseis, com taxas baixas em países como a Áustria (34%) e na Alemanha (38%).
Nos Estados Unidos, a média em 2011 foi de 84%.41
De acordo com relatórios da Agência Internacional de Energia (IEA) e da Comissão
Europeia (CE), os combustíveis alternativos típicos usados na indústria do cimento incluem
resíduos municipais e industriais pré-tratados, óleos residuais, solventes, plásticos não-
recicláveis, resíduos de papel e têxteis, bem como biomassa como farinhas de origem animal,
resíduos de madeira, casca de arroz, serradura, lodo de esgoto, pneus não recicláveis e resíduos
de construção e demolição.44
Devido aos controlos de fabrico requeridos ao produzir cimento, nem todos os materiais
são adequados para substituição do combustível. Combustíveis adequados são aqueles com
elevado poder calorífico, com constituição química consistente e conhecida, e com
disponibilidade previsível. Os riscos e os impactos no transporte, descarregamento, e
armazenamento dos combustíveis são também considerações relevantes. Os impactos dos
combustíveis sobre a produção do clínquer e as emissões das instalações devem ser avaliados.45
Instalação Piloto Semi-Industrial
A instalação piloto semi-industrial de liquefação encontra-se atualmente nas instalações
da CMP de Pataias, apresentando-se tal como na Figura 2.1.
Figura 2.1 - Instalação piloto semi-industrial (alçado principal).
Esta instalação encontra-se dentro de um contentor com 12,24 metros de comprimento,
sendo que apenas uma parte se encontra protegida pelo toldo, nomeadamente a zona de
abastecimento de matérias-primas e retenção de condensados de forma a evitar ao máximo a
interferência de humidade provocada pelas águas pluviais. Existem diversos equipamentos que
integram esta instalação, sendo descritos pela Figura 2.2.

16
Figura 2.2 - Instalação piloto semi-industrial (conjunto em perspetiva).
Legenda:
1. Caldeira (utiliza óleo Transcal N como fluido para transferência de calor);
2. Reator (volume útil de 5 m3);
3. Parafuso sem fim (caudal volúmico de 3,2 m3/h);
4. Tremonha de alimentação de biomassa – tremonha 1 (caudal volúmico até 2,5 m3/h);
5. Tremonha de alimentação de catalisador – tremonha 2 (caudal volúmico de 0,018 m3/h);
6. Reservatório de solventes (volume útil de 3,6 m3);
7. Condensador (volume útil de 0,05 m3);
8. Tanque de condensados (volume útil de 1m3).
Como descrito anteriormente, o objetivo central deste projeto reside na obtenção de um
combustível líquido para substituição dos combustíveis fósseis atualmente utilizados na
produção de clínquer branco, matéria-prima central da produção de cimento branco. Com este
objetivo em mente, durante os últimos anos as entidades participantes no projeto Energreen
(CMP/SECIL e IST), têm vindo a desenvolver um novo processo de liquefação ácida de diversos
tipos de biomassa lenhocelulósica sobre a forma de materiais residuais, pelo que todos os
equipamentos da instalação foram dimensionados com base neste propósito.
Nestas condições e tendo em consideração os volumes estimados para cada
equipamento, pretende-se produzir cerca de 8 toneladas de bio-óleo por 8 horas de trabalho,
considerando resíduos com baixo teor em humidade.
Descrição do Processo
O esquema global de liquefação ácida desenvolvido durante o projeto pode ser descrito
segundo as seguintes etapas gerais:
Figura 2.3 – Etapas gerais do processo de liquefação ácida.
Resíduo com componente
lignocelulósico
Resíduo pré-tratado
Combustível líquido em
crude
Pré-tratamento Liquefação Filtração Combustível líquido

17
Alimentação do resíduo
Nesta instalação piloto, o processo será iniciado com a descarga e armazenamento dos
resíduos previamente à sua valorização.
Os resíduos utilizados atualmente são “resíduos florestais”, pó de cortiça, combustíveis
derivados de resíduos (CDR), estando também previsto a utilização de lamas de suinicultura,
lamas secundárias provenientes da produção de papel e lamas de ETAR.
Posteriormente os resíduos, com granulometria máxima de 30 mm, serão alimentados à
tremonha 1 que alimenta um desagregador em parafuso. Em simultâneo, é acrescentado o
catalisador ácido na tremonha 2.
Pré-tratamento
Através de uma válvula rotativa, o catalisador é doseado e acrescentado ao resíduo na
proporção pretendida. De seguida, a mistura resíduo/catalisador é alimentada ao parafuso sem
fim principal, onde lhe é injetada uma mistura de solventes.
O parafuso sem fim é uma peça de equipamento muito relevante porque é a responsável
pelo transporte da mistura reacional até ao reator, ocorrendo em simultâneo um pré-aquecimento
da mesma através da passagem em contracorrente dos vapores formados na reação (água
maioritariamente). Após a injeção de solventes no parafuso sem fim é também efetuado neste o
pré-tratamento da mistura designado por swelling, consistindo na pulverização do resíduo
(maioritariamente de origem lenhocelulósica) com o solvente para que este o absorva,
provocando um aumento de volume das células, quebrando assim a estrutura (principalmente
da lenhina) para facilitar o acesso do catalisador a todos os componentes do resíduo.
Para ocorrer a injeção de solventes no parafuso sem fim principal, é necessário ter um
tanque de solventes e uma serie de injetores capazes de introduzir a mistura de através de um
sistema de common-rail para que a pulverização seja feita de forma automática.
Liquefação
No parafuso, a mistura reacional é encaminhada para o reator. O reator é fabricado em
aço inox 316L para resistir à corrosão provocada pela presença do catalisador ácido. É de cabeça
torisférica e de fundo duplamente copado ou auto-limpante. Este tipo de fundo prende-se com a
necessidade de evitar a acumulação de matéria sólida ao longo da reação, promovendo a sua
constante movimentação através da utilização de um agitador. O agitador usado é mecânico do
tipo turbina de 6 pás em aço inox, permitindo uma boa homogeneização da mistura reacional.
(Figura 2.4).
Sendo que a reação é endotérmica, existe a necessidade de fornecer calor para que ela
ocorra, por isso existe no interior do reator um sistema de serpentinas onde passa óleo térmico,
proveniente de uma unidade de fornecimento de calor (caldeira).

18
Figura 2.4 – Interior do reator – serpentinas e agitador.
Para um maior aproveitamento do calor proveniente da caldeira, o reator tem uma camisa
externa onde circulam os gases de combustão antes de serem enviados para atmosfera.
Este processo ocorre sempre à pressão atmosférica, por isso existem válvulas de
segurança de alívio de pressão no reator que serão acionadas sempre que exista aumento de
pressão.
Dependendo do teor em humidade dos resíduos, vai ocorrer a libertação de vapor, sendo
este utilizado para pré-aquecer a alimentação no parafuso antes de ser adicionada ao reator.
Consoante esta humidade, existe um condensador que utiliza água industrial com um caudal
máximo de 5 m3/h para condensação do restante vapor.
Filtração
Para remoção do conteúdo no reator, no fundo deste existe uma válvula de cogumelo,
sendo que a sua abertura é feita com a tampa a abrir para o interior do reator, por forma a evitar
que o peso do conteúdo dificulte o manuseamento da válvula. Após a abertura desta válvula, o
conteúdo do reator passa por um filtro de partículas, do tipo cestas auto-limpantes. Este filtro é
um equipamento fundamental, não só para separar o material que ainda não foi liquefeito do seio
reacional, mas também porque permite dar indicações acerca da extensão da reação, isto é, se
ainda existir muito material sólido significa que a conversão de liquefação ainda não ocorreu
totalmente. Neste caso, o resíduo que ainda não está liquefeito é realimentado ao reator,
enquanto a fase líquida é injetada no parafuso, de forma a provocar o swelling do resíduo
entretanto adicionado.
Quando a liquefação do resíduo sólido atingir a conversão pretendida (reação completa),
o bio-óleo obtido é bombeado para cubas de 1 m3, para posterior caracterização física e química
(avaliação do potencial como combustível). As cubas são armazenadas em local coberto e
pavimentado (com meios de contenção de eventuais derrames).

19
Controlo do processo
Todo o controlo de variáveis operatórias associadas ao processo tais como caudais,
temperaturas, potência de agitação, é feito através de um display, que se encontra no
compartimento da caldeira (Figura 2.5).
Figura 2.5 – Display do processo.
Alterações Futuras ao Projeto
Tal como foi projetada e construída, esta instalação piloto consegue realizar a liquefação
de resíduos, mas, nos diversos ensaios efetuados, houve diversas dificuldades associadas à
obtenção de bio-óleo como produto final para armazenamento. Algumas dessas dificuldades são:
Bio-óleo muito espesso e viscoso, contendo elevado teor de sólidos, provocando a
colmatação imediata do filtro;
Fraca potência de agitação, provocando encravamentos frequentes do agitador;
Acumulação de resíduos entre as serpentinas e a parede do reator, afetando a sua
agitação e liquefação;
Temperatura de reação controlada através da temperatura dos gases de saída.
Face a todas estas dificuldades, nos últimos meses foram planeadas e efetuadas
diversas intervenções na instalação piloto com vista à melhoria do processo. Algumas das
alterações efetuadas foram:
Alteração do modelo do agitador para um do tipo helicoidal com vista à melhoria do
processo de mistura;
Aumento do nível de potência de agitação;
Alteração da posição das serpentinas no reator, estando agora dispostas junto à parede
do reator para evitar a acumulação de resíduo;
Colocação de sonda de temperatura para medição da temperatura de reação.
Todas estas alterações ainda não tiveram efeitos práticos pois ainda não foram
efetuados quaisquer ensaios, estando previsto serem feitos num futuro próximo.

20
3. Enquadramento Normativo do Produto
Processo de Normalização do Bio-óleo
O Projeto Energreen embora se trate apenas de uma unidade piloto industrial de
investigação e desenvolvimento (I&D), esta carece de vários licenciamentos, nomeadamente ao
nível do produto obtido (bio-óleo).
Este produto pode ser usado diretamente nos fornos de produção de clínquer cinzento,
mas não no de clínquer branco (aplicação principal) pois, sendo considerado um produto
inovador, este apresenta diferentes propriedades face aos combustíveis líquidos convencionais
(usados na produção de clínquer branco) e até mesmo aos biocombustíveis presentes no
mercado. Posto isto, para este bio-óleo ser utilizado no forno de produção de clínquer branco,
seria necessária uma alteração da sua licença de queima (não possui licença para queimar
resíduos), pois o bio-óleo produzido é, para todos os efeitos, considerado um resíduo. Como a
alteração de licença de queima é inviável devido a diversos fatores tais como a morosidade do
processo, é necessário encontrar alternativas tais como o licenciamento do produto.
Tanto para a finalidade proposta, bem como para uma subsequente comercialização,
(implementação no mercado como um novo biocombustível), é necessário licenciar o bio-óleo.
Este processo é iniciado através da uniformização da sua qualidade, sendo por isso necessário
adotar especificações e métodos de análise adequados que culminam na formulação de normas
técnicas.
As normas técnicas incluem-se na definição de documento normativo, que se designa
por todo o documento que fornece regras, linhas de orientação ou disposições para a realização
de ensaios, calibrações ou exames, incluindo-se nesta definição, nomeadamente normas,
especificações técnicas, regulamentos, diplomas legais ou procedimentos internos.46 O seu
desenvolvimento inclui as seguintes etapas:
Recolha de feedback dos produtores e dos utilizadores finais sobre a qualidade do bio-
óleo;
Definição de qualidade e das especificações para o bio-óleo;
Definição de normas e padrões para métodos de amostragem e de análise;
Normalização do bio-óleo como combustível.47
O desenvolvimento e publicação de normas técnicas é feito por organismos de
normalização reconhecidos. Estes organismos podem ser internacionais, como a ISO
(Organização Internacional para Padronização), ASTM (Sociedade Americana de Testes e
Materiais), EN (Normas Europeias) ou nacionais como a IP no Reino Unido, AFNOR em França,
DIN na Alemanha e JIS no Japão.48
As normas EN são documentos que foram ratificados por um dos três Organismos
Europeus de Normalização (OEN): CEN (Comité Europeu de Normalização), CENELEC (Comité
Europeu de Normalização Eletrotécnica) ou ETSI (Instituto Europeu de Normas de
Telecomunicações), organismos esses que são reconhecidos como competentes na área da

21
normalização técnica voluntária, como descrito pelo regulamento sobre normalização Europeia
Nº1025/2012.49,50
Para determinação de uma dada propriedade podem existir diversas normas
equivalentes entre si (como por exemplo a ASTM D 240 e ISO 1716 para determinação do calor
de combustão por bomba calorimétrica), sendo indiferente a que se aplicar pois, mesmo que
difiram em algum detalhe é de esperar que, se forem adequadamente seguidas, ambas
produzam resultados equivalentes.
Ultimamente as normas nacionais estão sendo integradas nas normas ISO (mais
especificamente EN-ISO), isto porque existe uma exigência legal da União Europeia em publicar
todas as normas EN como sendo padrões nacionais, retirando assim todas as normas
conflitantes existentes.48
Em suma, para um processo de normalização ser bem-sucedido tem que existir o
contributo de quatro fatores. A normalização tem que ter a aprovação por unanimidade dos
membros do grupo de trabalho (consenso), todas as partes interessadas podem participar na
tarefa (democracia), o organismo de normalização sinaliza as etapas do processo de aprovação,
dividindo o projeto em si com as partes interessadas (transparência) e os padrões são a
referência que todas as partes assumem espontaneamente (voluntariedade).51
Figura 3.1 - Princípios base do processo de normalização.51
Embora existam algumas tecnologias de liquefação direta com instalações piloto
implantadas (processo HTU), as suas variáveis operatórias diferem significativamente no que
toca ao Projeto Energreen (solventes, pressão), o que faz com que este seja um projeto pioneiro
nas suas condições atuais, estando por isso sujeito a limitações de implantação e
desenvolvimento da sua tecnologia produtiva.
Devido a todas estas restrições não existem, presentemente, dados empíricos
suficientes para permitir o desenvolvimento de normas específicas para este tipo de
biocombustível, tendo que ser enquadrado normativamente noutro tipo de combustível líquido
existente no mercado para poder ser utilizado para o propósito que foi concebido: utilização como
combustível nos fornos de produção de clínquer branco.

22
Normas de Combustíveis
Existem diversos tipos de combustíveis fósseis e biocombustíveis cujas normas foram
equacionadas para fazer o enquadramento do bio-óleo produzido, tendo sido considerados
diversos parâmetros para a sua escolha, nomeadamente:
Campo de aplicação (combustíveis);
Tipo de produto (combustíveis fósseis e biocombustíveis);
Estado físico (combustíveis líquidos);
Legislação nacional (prioritário);
Legislação internacional (no caso de inexistência de legislação nacional).
Combustíveis Fósseis
Nesta secção apresentam-se as normas dos combustíveis produzidos em refinarias a
partir do petróleo bruto, formado lentamente durante milhões de anos através da decomposição
a alta pressão de matéria vegetal, sendo estes combustíveis considerados fontes de energia
não-renováveis tendo em conta o período da humanidade.52
Os tipos de produtos obtidos são ordenados e classificados em função do seu intervalo
de destilação.
Figura 3.2 – Intervalos de destilação com exemplos de pontos de corte (temperaturas fronteira).53

23
Quase todos os combustíveis fósseis líquidos possuem legislação nacional, estando
compiladas todas as suas especificações no Decreto-Lei N°142/2010. Este Decreto-Lei (DL)
reúne as especificações técnicas dos combustíveis, nomeadamente de gases de petróleo
liquefeitos (GPL), GPL carburante, gasolinas, petróleo de iluminação e carburante), gasóleos,
gasóleo de aquecimento e fuelóleo1.54
GPL
Os gases de petróleo liquefeitos (GPL) são misturas derivadas do petróleo bruto,
constituídas por hidrocarbonetos C3 e C4 (principalmente propano, n-butano, isobutano, propileno
e butilenos), gasosos à temperatura ambiente, mas que são facilmente liquefeitos através da
aplicação de pressões moderadas, normalmente até à sua pressão de vapor (entre 200 e 900
kPa). O GPL é obtido nas refinarias através de processos de destilação, craqueamento e
reforming, sendo armazenados e distribuídos em recipientes sob pressão.52,55
A principal aplicação do GPL a nível mundial é na cozedura de alimentos, sendo também
utilizado no setor petroquímico (fabrico de borracha, polímeros, álcoois e éteres), como
combustível industrial (nas etapas de secagem na indústria do papel e da cerâmica), siderúrgico
(na fundição, corte e solda de metais) e agropecuário (na secagem de grãos, controle de pragas
e queima ervas daninhas, aquecimento e esterilização de ambiente de criação de animais).56
As especificações do GPL a nível nacional são dadas em anexo pela Tabela 7.1. Estas
especificações envolvem a determinação de propriedades como a composição (compostos C3,
C4 ou de mercaptanos), podendo este fator constituir um entrave ao enquadramento do bio-óleo
segundo esta norma.
GPL Carburante
O GPL carburante é uma variante do GPL, tendo como principal aplicação o seu uso
como combustível automóvel, sendo a mistura entre propano (C3) e butano (C4) feitas em
percentagens variáveis consoante o clima do país (maior percentagem de propano em países
frios e de butano em países quentes) e também para que o índice de octano (indicador de
resistência à detonação) seja sempre superior ao valor presente na norma. 52,57
Devido à sua limitada aplicabilidade, todos os limites de especificação presentes na
norma (dada em anexo pela Tabela 7.2) foram pensados de forma a cumprir com os requisitos
em termos de combustível automóvel, podendo não ser satisfeitos pelo bio-óleo (nomeadamente
índice de octano) em virtude do seu distinto uso.
Gasolinas
É a primeira fração líquida a ser destilada do petróleo bruto à pressão atmosférica (entre
20 a 210ºC), tendo composições de hidrocarbonetos entre C4 a C12.58
1 Algumas normas possuem notas associadas, pelo que podem ser consultadas no respetivo documento normativo.

24
Tem como principal aplicação o uso em motores de combustão interna de ignição por
faísca.59
Os tipos de gasolinas comercializadas na Europa são designados por Euro super e
Super plus (anexo Tabela 7.3). Diferenciam-se entre si principalmente pelo valor de RON
(Research Octane Number), parâmetro importante nos motores de ignição por faísca, uma vez
que dá a medida da resistência à autoignição por parte do combustível (maior valor, melhor
resistência, melhor qualidade do combustível), fundamental no processo de compressão do
mesmo antes da sua ignição.53
Tal como o GPL carburante, o seu uso encontra-se limitado aos motores de combustão
internos, podendo ser inviável o enquadramento do bio-óleo neste tipo de combustível.
Petróleos
É uma fração estilada do petróleo bruto, mais pesada em relação às gasolinas, sendo
comercializada em Portugal sob a forma de petróleo carburante e queroseno.
Petróleo Carburante
Também designado por Tratol, este combustível líquido, de cor vermelho-rosada
apresenta um índice inferior de octanas face à gasolina e uma menor capacidade de vaporização
e queima. É principalmente utilizado como carburante na agricultura, em alguns motores de
combustão interna.60
Queroseno
É um combustível líquido de cor vermelho-rosada obtido entre 180 e 250ºC durante a
destilação fracionada do petróleo bruto. Os uso mais comum do queroseno é em iluminação,
sendo também usado em combustível para aviões após outras etapas de tratamento/upgrading
do queroseno. Apresenta a particularidade da característica ponto de fumo estar limitada a um
valor mínimo (25 mm).59,60
As especificações dos petróleos destinados ao mercado interno nacional estão
presentes em anexo na Tabela 7.4, não existindo diferenciação entre petróleo carburante e
queroseno.
O aspeto visual pode ser um dos fatores limitantes ao enquadramento do bio-óleo
segundo esta norma.
Gasóleos
O gasóleo, vulgarmente também conhecido por diesel, é obtido entre 180 a 370ºC
durante a destilação fracionada do petróleo bruto, contendo hidrocarbonetos entre C12 e C24.58
Tem como principal aplicação o uso em motores de combustão interna de ignição por
compressão, que requerem pressões de injeção muito altas e baixas temperaturas de
autoignição e respetivo atraso, dado pelo índice de cetano (maiores valores, menor atraso,
melhor qualidade do combustível).59

25
As suas especificações encontram-se em anexo (Tabela 7.5). Devido a requerer o teste de
propriedades específicas para o uso nos motores de combustão internos como ponto de
congelamento (temperatura limite de filtrabilidade), índice de cetano, pode não ser fácil o
enquadramento normativo nestas especificações.
Gasóleo de Aquecimento
Este tipo de gasóleo, similar ao diesel, distingue-se pela sua coloração vermelha
conferida pela adição de corante e marcador. As suas características definidas para o mercado
nacional (anexo, Tabela 7.6) não permitem a sua utilização em motores de combustão interna,
destinando-se por isso exclusivamente a equipamentos de aquecimento industrial, comercial e
doméstico.61,62
Algumas das suas vantagens são melhor combustão, promovendo a eficiência
energética (preserva o meio ambiente e reduz custos), maior limpeza do sistema de aquecimento
(devido ao seu poder dispersante, funcionando também como detergente), melhor prevenção
contra a corrosão no sistema de alimentação e restante equipamento, maior economia de
manutenção, o que faz com que prolongue o tempo de vida da instalação que o utiliza.63
Este tipo de combustível pode resultar num bom enquadramento do bio-óleo, pois não
existem qualquer tipo de restrições a características como a aparência e composição, muitas
vezes limitativas do bio-óleo.
Fuelóleo
O fuelóleo constitui das frações mais pesadas a serem destiladas do petróleo bruto,
podendo também ser obtido sob a forma de fuelóleo residual, existindo muitas vezes uma mistura
de ambos os tipos para obter a viscosidade pretendida. Embora seja um combustível de
qualidade constante, económico (mais barato que o diesel) e de elevado poder calorífico, apenas
é usado para aplicações industriais e marinhas devido ao seu difícil manuseamento (precisam
de ser decantados, pré-aquecidos e filtrados, deixando uma lama no fundo dos tanques).52,64
Existem vários tipos de fuelóleo, diferenciados pelo nível de viscosidade requerido por
cada uma das aplicações destinadas ao uso deste combustível. Assim sendo, para o uso do
fuelóleo como combustível destinado à marinha existem as categorias de fuelóleos destilados e
residuais, especificados pela norma ISO 8217. Para produção de energia elétrica a partir de
motores estacionários de cogeração (turbinas de gás) utiliza-se fuelóleo de cogeração
especificado pela norma ASTM D 2880. Para instalações de queima em fornos ou caldeiras para
produção de água quente ou vapor utilizam-se os fuelóleos nº3 - Thin Fuel e nº 4 ATE e BTE,
dados pela norma nacional presente em anexo (Tabela 7.7).65
O campo de aplicação deste combustível bem como as suas características (aspeto
irrelevante, elevada viscosidade) são similares às do bio-óleo produzido, constituindo por isso
uma boa possibilidade de enquadramento.
As especificações referentes à aplicação do fuelóleo como combustível destinado à
marinha e em turbinas de gás encontram-se em anexo (Tabelas 7.8, 7.9 e 7.10).66,67 Como estas

26
normas apresentam aplicações diferentes é de esperar um enquadramento mais difícil de se
obter, mas a variedade de classes existentes em cada uma destas normas permite alargar o
leque de opções, diminuindo a probabilidade de não adaptação.
Jet A-1
O Jet A-1 é um combustível de aviação utilizado em aeronaves comerciais com motor a
jato. É composto essencialmente por queroseno (compreendendo cadeias de hidrocarbonetos
entre C9 e C15), além de conter também alguns aditivos especiais que lhe conferem uma
qualidade superior tais como inibidores de corrosão, anticongelantes, anti-incrustantes e
antiestáticos.52
Os combustíveis para aviação obedecem às mais rigorosas especificações
internacionais, entre elas as previstas pelo Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly
Operated Systems (AFQRJOS).68 Esta é uma lista conjunta emitida pelo grupo de inspeção
conjunto (JIG), responsável pelo estabelecimento de padrões para o manuseamento seguro e
controlo da qualidade dos combustíveis de aviação a nível global, sendo reconhecidos e
aprovados por todas as partes com participação na indústria.69
A lista conjunta AFQRJOS para o Jet A-1 incorpora as exigências conjuntas da norma
britânica DEF STAN 91-91 e da norma americana ASTM 1655-15, estando especificada na
Tabela 7.11 presente em anexo.70 Os aditivos e as propriedades que apenas necessitam de
reportar o valor obtido não foram inseridos nesta tabela.
Devido à sua aplicação, ao número elevado de ensaios a realizar e a algumas
propriedades como o aspeto, não é de esperar que o enquadramento do bio-óleo nesta norma
seja algo provável e fácil de ocorrer.
Biocombustíveis
Os biocombustíveis são definidos como sendo qualquer combustível sólido, líquido ou
gasoso produzido partir de matéria orgânica, quer diretamente a partir de material vegetal ou
indiretamente a partir de resíduos industriais, comerciais, urbanos, agrícolas ou florestais. Desta
forma, os biocombustíveis podem ser derivados de uma ampla variedade de matérias-primas e
produzidos de diversas formas, sendo a energia proveniente destes combustíveis (bioenergia)
geralmente considerada como uma série de muitas combinações de matéria-prima/tecnologia
diferentes.71
Para o enquadramento normativo, recorreu-se a alguns dos biocombustíveis líquidos
mais relevantes presentes no mercado, tais como biodiesel, bioetanol, óleos vegetais e bio-óleo
de pirólise.
Biodiesel
O biodiesel é um combustível derivado da biomassa, sendo mais seguro, limpo,
renovável, não tóxico, e biodegradável face ao diesel fóssil, sendo o seu substituto direto nos
motores de combustão interna de ignição por compressão. É composto por uma mistura de

27
ésteres monoalquílicos obtida a partir de óleos naturais (triglicéridos), sendo atualmente
produzida por um processo chamado transesterificação.52
As especificações presentes na norma europeia EN 14214:2012 (anexo Tabela 7.12)
adequam-se ao biodiesel FAME (ésteres metílicos de ácidos gordos), obtido usando metanol
como álcool na reação de transesterificação. Estas especificações adequam-se ao uso do
biodiesel FAME como combustível nos motores diesel e para aquecimento, quer numa
concentração de 100% (usada em equipamentos projetados ou adaptados para o efeito), quer
em misturas com combustível para motores diesel (até 7% em volume em território nacional
como descrito na especificação do gasóleo – Tabela 7.5).72
Prevê-se difícil o enquadramento do bio-óleo nestas especificações, dado que é
necessária uma composição em ésteres muito elevada.
Bioetanol
O etanol obtido a partir de biomassa é designado por bioetanol. É preferencialmente
produzido a partir de biomassa lenhocelulósica em detrimento de matéria-prima tradicional mais
cara como as culturas de amido.52
O bioetanol é usado em diversas aplicações tais como matéria-prima química, solvente
e biocombustível, sendo utilizado neste último caso como substituto da gasolina como mistura
parcial, sendo a prática mais comum a adição de, até 20% (v/v) à gasolina para evitar a
modificação dos motores.52,71
As especificações europeias para o etanol dadas pela norma EN 15376:2014 (anexo
Tabela 7.13) definem os requisitos para a utilização deste composto como um extensor para
combustível automóvel com motor a gasolina, tornando-o utilizável em teores até 85% em
volume.73,74
Devido ao elevado teor em etanol requerido, apresenta-se inviável o enquadramento
deste combustível no bio-óleo obtido.
Óleos Vegetais
Os óleos vegetais são geralmente produzidos por extração mecânica de óleo a partir de
biomassas oleaginosas (sementes), provenientes principalmente de culturas dedicadas como
girassol, colza, soja, entre outros. São compostos na maior parte dos casos por 95% de
triglicéridos e 5% de ácidos gordos livres, esteróis, ceras e várias impurezas.
Têm como aplicações principais o uso como combustível alternativo para motores diesel
(como mistura) e para aplicações estacionárias no campo da agricultura, geração de energia e
indústria (como óleo de aquecimento em queimadores).75
Devido ao renovado interesse em usar óleos vegetais como combustível, foi formulada
em 2006 pelo Instituto Alemão de Normalização (DIN) uma norma que determina a qualidade do
óleo vegetal de colza para uso específico em motores de combustão (anexo, Tabela 7.14).76 Na
realidade, trata-se de uma pré-norma, uma vez que não existe nenhuma norma genérica para os

28
óleos vegetais qualquer que seja a natureza do óleo, necessitando por isso que esta pré-norma
sofra alguns ajustamentos para ser aplicável a qualquer tipo de óleo vegetal.
Esta norma apresenta potencial para o enquadramento no bio-óleo visto que ambos os
combustíveis podem servir o mesmo propósito (uso em queimadores industriais). Contudo, o
facto de ser uma norma concebida para o uso exclusivo em motores de combustão interna, fez
com que a sua elaboração fosse baseada na norma do gasóleo, sendo de esperar
incompatibilidades com outro tipo de aplicações. Aguarda-se o surgimento de uma nova versão
ou outro documento normativo similar que abranja para além de diversos tipos de óleos vegetais,
também outras aplicações.
Bio-óleo de Pirólise (FPBO)
Este tipo de combustível é produzido pelo processo termoquímico de pirólise rápida,
descrito no Capítulo 1. Trata-se de um novo combustível líquido que está a entrar no mercado,
estando em fase de comissionamento as primeiras instalações de tamanho comercial na
Finlândia e na Holanda, e em fase de projeto no Brasil (Tabela 3.1).77
Tabela 3.1 – Processos comerciais de produção de bio-óleo por pirólise rápida.77
Organização País Tecnologia Capacidade
(kg biomassa seca/h)
Capacidade (kg FPBO/h)
Aplicações
Ensyn/Fibria Brasil Leito
fluidizado circulante
16 667 11 470 Combustível
Fortrum Finlândia Leito
fluidizado 10 000 6 313 Combustível
BTG BioLiquids/ EMPYRO
Holanda Cone rotativo 5 000 3 200 Combustível
Após duas décadas de pesquisa na análise das propriedades físicas dos líquidos obtidos
por pirólise (testes de Round Robin)78, surgiu, em 2009, uma norma para bio-óleo produzido a
partir de pirólise, a norma ASTM D 7544 (Tabela 3.2).
Tabela 3.2 - Norma ASTM D 7544-12 para bio óleo produzido a partir de pirólise rápida.48,79,80,81,82,83
Propriedade Unidade Gama típica
Métodos de Ensaio Classe G Classe D
Poder Calorífico Superior
MJ/kg 15 min. 15 min. ASTM D 240 / IP 12 / ISO
1716/ DIN 51900 / AFNOR M07-030
Teor de Água % (m/m) 30 máx. 30 máx. ASTM E 203 / ISO 760
Teor de Sólidos % (m/m) 2,5 máx. 0,25 máx. ASTM D 7579
Viscosidade Cinemática a 40ºC
mm2/s 125 máx. 125 máx.
ASTM D 445 / IP 71-1 / ISO 3104 / DIN 51562 /
JIS K 2283 / AFNOR T60-100

29
Propriedade Unidade Gama típica
Métodos de Ensaio Classe G Classe D
Densidade a 20ºC kg/dm3 1,1-1,3 1,1-1,3
ASTM D 4052 / IP 365 /
ISO 12185 / DIN 51757D /
JIS K 2249D / AFNOR
T60-172
Teor de Enxofre % (m/m) 0,05 máx. 0,05 máx. ASTM D 4294 / IP 336 /
ISO 8754 / AFNOR M07-053
Teor de Cinzas % (m/m) 0,25 máx. 0,15 máx. ASTM D 482 / IP 4 / ISO
6245 / JIS K 2272 / AFNOR M07-045
pH - Reportar Reportar ASTM E 70-07
Alternativa: ISO 10523
Ponto de Inflamação ᵒC 45 min. 45 min. ASTM D 93B / IP 34 / ISO 2719 / DIN 51758 / JIS K 2265 / AFNOR M07-019
Ponto de Escoamento ᵒC -9 máx. -9 máx. ASTM D 97 / IP 15 / ISO 3016 / DIN 51597 / JIS K 2269 / AFNOR T60-105
Esta norma, atualizada em 2012, adequa-se ao bio-óleo produzido ser utilizado como
combustível em queimadores comerciais e industriais, possuindo duas classes distintas para o
efeito, substituindo desta forma o fuelóleo utilizado convencionalmente.
Classe G - Usada em queimadores industriais, equipados para lidar com biocombustíveis
líquidos de pirólise que cumpram os requerimentos listados na Tabela 3.2. Este biocombustível
não se destina ao uso em aquecedores residenciais, pequenas caldeiras comerciais, motores ou
aplicações marítimas.
Classe D - Projetada para uso em queimadores comerciais/industriais que necessitem
de baixo teor de sólidos e cinzas, e que estão equipados para lidar com biocombustíveis líquidos
de pirólise que cumpram os requerimentos listados na Tabela 3.2. Este biocombustível não se
destina ao uso em aquecedores residenciais, pequenas caldeiras comerciais, motores ou
aplicações marítimas que não estejam modificados para lidar com este tipo de combustíveis.79
Uma vez que os limites legais de emissão e de legislação são díspares entre a América
do Norte e a Europa, é necessária uma normalização a nível europeu para que cada estado
membro implemente a sua respetiva legislação nacional. Em 2013 o CEN recebeu um mandato
da CE para o desenvolvimento de normas para bio-óleo produzido através de pirólise. Foi criado
em inícios de 2014 um grupo de trabalho, tendo como objetivo, entre outros, a elaboração de
uma norma europeia para o bio-óleo de pirólise, tendo em vista a substituição do fuelóleo pesado.
A norma europeia está prevista ser posta em prática em 2017.77
Em virtude do já referido, é de relevo interesse efetuar análises ao bio-óleo obtido pela
instalação piloto para os métodos impostos pela norma ASTM D 7544, pois mesmo que não seja
uma norma aprovada pelo CEN e não dar para ser utilizada diretamente para o liquefeito da IP

30
por se tratar de pirólise, é relevante fazer a comparação com um produto produzido por uma via
termoquímica que apresenta características físico-químicas similares (propriedades como a
aparência deixam de ser relevantes) e têm propósitos comuns como a utilização em queimadores
industriais.
Análise Comparativa das Normas de Combustíveis
O bio-óleo resultante é uma mistura de vários compostos orgânicos, podendo apresentar
aspeto castanho, vermelho escuro ou preto.39 As suas propriedades físicas variam
significativamente consoante o tipo de biomassa utilizado (Tabela 3.3), resultando em diferentes
composições químicas face aos combustíveis presentes no mercado.
Tabela 3.3 – Composições do bio-óleo.84,85
Matéria-prima Composição do bio-óleo
Monossacáridos (glucose, frutose, galactose, etc.)
5-Hidroximetilfurfural, 2-furaldeído glicoladeído, dihidroxiacetona, gliceraldeídos, 1,2,4-benzenotriol,
piruvaldeído, ácido láctico, ácido acrílico, acetaldeído, ácido fórmico, ácido acético, ácido glicólico e acetona
Celulose Ácidos, celobiose, eritrose, 1-6 anidroglucose e
5-Hidroximetilfurfural
Geral Ácidos, álcoois, aldeídos, ésteres, cetonas, fenóis e oligómeros derivados de lenhina
Após a análise a cada um dos parâmetros requeridos pelas normas, lista-se abaixo
(Tabela 3.4) as principais razões pelas quais algumas normas de combustíveis fósseis e
biocombustíveis nunca poderão ser satisfeitas pelo bio-óleo produzido.
Tabela 3.4 – Lista de normas que não se enquadram nas características do bio-óleo produzido.
Combustível e Norma
Propriedade Motivo de não cumprimento
FAME EN 14214:2012
Teor em ésteres
Tendo em conta a variedade de produtos obtidos (Tabela 3.14), é pouco provável que o bio-óleo produzido tenha
um teor de ésteres mínimo de 96,5% (m/m).
Bioetanol EN 15376:2014
Etanol + teor de álcoois
muito saturados
Face à grande variedade de produtos obtidos (Tabela 3.14), é muito improvável que o bio-óleo produzido tenha
um teor de álcoois mínimo de 98,7% (m/m).
Aparência O bioetanol tem que se encontrar limpo e incolor, o que não acontece no caso do bio-óleo, sendo um líquido de
aparência negra.
Óleos Vegetais DIN 51605:2010
Inspeção visual
Os óleos vegetais têm que se encontrar limpos, sem água nem contaminantes visíveis, o que não acontece no caso do bio-óleo, pois sendo um líquido negro com algum teor
de sólidos não é sinónimo de ser “limpo”.
GPL DL Nᵒ142/10
Composição C3 e C4
É necessária uma concentração elevada em termos de propano e butano, algo impensável de ocorrer no bio-óleo
devido à sua grande diversidade de produtos (Tabela 3.14).

31
Combustível e Norma
Propriedade Motivo de não cumprimento
Gasolinas DL Nᵒ142/10
Aspeto Cor
É necessário ter aspeto claro e límpido, e cores específicas consoante o tipo de gasolina, algo que não é
possível obter no bio-óleo.
Petróleos DL Nᵒ142/10
Aspeto Necessita de ser límpido e isento de matérias em
suspensão, o que não é possível de obter em virtude das características físicas do bio-óleo
Jet A1 ASTM D 1655
Aspeto visual Necessita de ser claro, brilhante e visivelmente livre de
matéria sólida, características que o bio-óleo normalmente não acompanha.
Verifica-se que, devido principalmente a parâmetros como a composição e o aspeto, o
bio-óleo não pode ser enquadrado na maior parte dos combustíveis fósseis e biocombustíveis
presentes no mercado. Contudo, existem dois tipos de combustível fóssil que, devido às suas
características e similaridade de aplicações, podem ser dados como aptos a testar o
enquadramento do bio-óleo nas suas normas, como é o caso do gasóleo de aquecimento e o
fuelóleo.
No entanto, o uso de gasóleo de aquecimento requer baixos valores de viscosidade (7
mm2/s máximo) e, visto que o valor limite no caso do fuelóleo é bem mais elevado (cerca de
40mm2/s máximo) e comparando com o valor máximo da norma ASTM D 7544 (125 mm2/s) dá
a indicação que o bio-óleo tende a ser um produto viscoso, pelo que seria provável o não
cumprimento deste requisito imposto pelo gasóleo de aquecimento, sendo assim descartado em
detrimento do fuelóleo.
Para além dos aspetos referidos, muitas destas normas que apresentam parâmetros que
inviabilizam o enquadramento do bio-óleo podem também não se enquadrar noutros parâmetros
não mencionados na Tabela 3.4. Isto deve-se sobretudo ao facto destas normas, nomeadamente
GPL carburante, gasolina, gasóleo, óleos vegetais e jet A-1 terem sido elaboradas com base
numa aplicação em específico (uso em motores de combustão interna e jato no caso do jet A-1),
tendo por isso que ser analisadas propriedades que se consideram irrelevantes considerando o
uso do bio-óleo em queimadores industriais, tais como índices de cetano, octano, aditivos, entre
outras.
Posto isto, os melhores enquadramentos previstos para o bio-óleo serão os dados pelo
Decreto-Lei N°142/2010 referente à especificação do fuelóleo e o documento normativo ASTM
D 7544 referente ao bio-óleo de pirólise.
Tabela 3.5 – Enquadramento final do bio-óleo produzido.
Produto Tipo de
Combustível Documento Normativo
Local de aplicação
Fuelóleo Combustível
fóssil Decreto-Lei N°142/2010
Nacional
Bio-óleo de pirólise
Biocombustível ASTM D 7544-12 Internacional (América)

32
Guia de Caracterização de Propriedades Físicas do Bio-óleo Para
Enquadramento Normativo
Existem uma variedade de parâmetros que o bio-óleo produzido necessita de cumprir
para se enquadrar segundo as normas definidas como as que melhor enquadramento suscitam,
nomeadamente o bio-óleo produzido a partir do processo de pirólise rápida (ASTM D 7544-12) e
o fuelóleo (DL Nº142/2010).
Algumas das considerações que irão ser feitas nos subcapítulos seguintes foram
indicadas para o bio-óleo produzido a partir de pirólise rápida. No entanto faz sentido adaptá-las
ao bio-óleo obtido por liquefação, pois apesar de algumas diferenças que possam apresentar
entre si (Capítulo 1.4), trata-se de um produto enquadrado na mesma categoria (biomassa
liquefeita), e tipo de aplicação (queima), e estando na iminência a sua colocação no mercado, as
recomendações para o seu tratamento e métodos de análise podem ser consideradas uma
referência na área.
Homogeneidade e Amostragem
Normalmente o bio-óleo encontra-se numa única fase. Contudo, as diferentes
composições químicas da biomassa (alto teor de extrativos (ácidos gordos, resinas ácidas,
poliálcoois, esteróis), de lenhina, substâncias neutras), as condições de processamento e o seu
armazenamento podem causar separação de fases em etapas, podendo originar problemas na
sua combustão.
Para minimizar este tipo de problemas e antes de se efetuar a caracterização do bio-
óleo, é necessário avaliar a qualidade do mesmo, realizando algumas etapas prévias,
nomeadamente uma homogeneização e amostragem adequadas, evitando também desta forma
eventuais erros de análise nos métodos de ensaio a realizar.86
Homogeneização
As amostras de bio-óleo de pequeno volume são homogeneizadas em agitadores de
laboratório durante cerca de uma hora à temperatura ambiente.
Bio-óleos armazenados em barris ou grandes contentores como é o caso do Projeto
Energreen (>1m3) podem ser homogeneizados montando na parte superior um agitador de
hélice, recomendado para misturas muito viscosas e não homogéneas (Figura 3.3).86
Figura 3.3 – Exemplo de um dispositivo de mistura (Inotec VISCO JET VJ350) adequado para o
líquido de pirólise em contentores de 1m3.86

33
Se existir circulação, a bomba (ex.: bomba pistão ou centrífuga de baixa velocidade) é
conectada por mangueiras desde o fundo até ao topo do contentor, sendo acoplada uma válvula
de amostragem na abertura de fundo. O bio-óleo é bombeado a partir do fundo do contentor e
permanece em circulação durante um dia. Se a viscosidade do bio-óleo for demasiado elevada
para permitir o correto bombeamento pode ser aplicada circulação de água quente (30 a 40ºC)
na descarga do contentor.86
Amostragem
As amostras de bio-óleo podem ser recolhidas à temperatura ambiente através de uma
bomba pistão de boca larga, ou utilizando uma seringa grande, recolhendo na parte superior (10
a 20% em volume abaixo da superfície) e inferior (10 a 20% em volume acima do fundo) do bio-
óleo.
O bio-óleo recolhido pode ser armazenado em recipientes de polipropileno, polietileno
de alta densidade, PTFE, outros materiais poliméricos resistentes, aço inoxidável e vidro.86
Verificação da Homogeneidade
A verificação da homogeneidade é assegurada pela análise do teor de sólidos e água
existentes no topo e fundo da amostra. Estas análises são feitas por microscopia e titulação de
Karl Fischer (KF).
Na análise por microscopia retiram-se amostras de várias camadas do bio-óleo
homogeneizado (superfície, 5% em volume abaixo da superfície, meio, 5% em volume acima do
fundo e fundo), sendo analisadas de seguida cada uma destas camadas. A superfície e o fundo
da amostra (sólidos) podem ser diferentes do resto do líquido, o que é aceitável.
Para a análise do teor de água, o bio-óleo homogeneizado é colocado em garrafas de
100 ml, selado e deixado à temperatura ambiente cerca de 7 dias (teste de permanência 7 dias).
Decorrido esse tempo, é analisado o teor de água por titulação de KF a partir da camada de topo,
intermédia e fundo. Se a diferença no teor de água entre a camada de topo e fundo for superior
a 5% prolonga-se a homogeneização. Caso contrário a amostra é aceite.
Considera-se que o bio-óleo é de boa qualidade (homogéneo) se a análise por
microscopia feita às diversas camadas revelar que o bio-óleo está numa única fase (Figura 3.4)
e se a diferença no teor de água após o teste de 7 dias for inferior a 5% em massa. Prossegue-
se com o teste de permanência de 7 dias até à sua utilização final (para fazer ensaios, etc.),
fazendo uma nova verificação da homogeneidade antes do seu uso.86

34
Figura 3.4 – Exemplo de amostra de bio-óleo homogéneo (uma fase), observado por
microscopia Leica DM LS.86
Considera-se que o bio-óleo é de má qualidade (não homogéneo) se a diferença no teor
de água encontrado no teste de 7 dias for superior a 5% em massa e se for observada separação
de fases por microscopia (Figura 3.5). O bio-óleo não pode ser armazenado, prosseguindo-se
com a homogeneização. Se a separação de fases for observada visualmente o bio-óleo é
prontamente rejeitado.86
Figura 3.5 - Exemplo de amostra de bio-óleo não homogéneo (separação de fases), observado
por microscopia Leica DM LS.86
Homogeneização por Adição de Solvente
Para se efetuar a homogeneização de bio-óleos difíceis de homogeneizar podem ser
adicionados solventes polares como por exemplo álcoois (IPA).86

35
Figura 3.6 - Dissolução do material extrativo na matriz de liquefeito. Note-se que alguns dos
extrativos não se dissolvem em álcoois.86
Métodos de Ensaio
Nesta secção são apresentados em forma de tabela os métodos de ensaio realizados
para o enquadramento do produto.
É especificado a norma do combustível a que se destina, a viabilidade da sua realização
na Secil (no Laboratório de Qualidade do Outão (LQLO), com o objetivo de reduzir custos de
análise em entidades externas) e algumas recomendações na aplicação destes métodos de
ensaio ao bio-óleo, visando a minimização de eventuais erros de análise passíveis de ocorrer
em virtude das propriedades invulgares que o bio-óleo possa apresentar (não aparentes nos
combustíveis líquidos convencionais que serviram de base ao desenvolvimento da maioria
destes métodos).
Todas as recomendações em termos de tamanho da amostra referem-se à quantidade
mínima de bio-óleo necessário para realizar a análise, incluindo duplicados.80,86
Tabela 3.6 – Métodos de ensaio, normas aplicáveis, viabilidade e recomendações para uso em
bio-óleo.
Método de Ensaio
Norma aplicável
Viabilidade88 Recomendações
ASTM D 240 - Método de Teste
Padrão para Determinação do
Calor de Combustão de Combustíveis
Líquidos Hidrocarbonados
por Bomba Calorimétrica 87
ASTM D 7544-12 Bio-óleo de pirólise
Pode ser realizado no LQLO. Ensaio acreditado.
Utilizar amostras de 1 ml.
Se o teor de água for elevado (problemas de ignição) usar fio de algodão fino como pavio para a ignição, sendo subtraído do resultado final o calor do fio.80,86

36
Método de Ensaio
Norma aplicável
Viabilidade88 Recomendações
ASTM E 203 -Método de Teste
Padrão para Determinação do
Teor de Água Usando uma
Titulação Volumétrica de Karl Fischer 89
ASTM D 7544-12 (Bio-óleo de pirólise)
O LQLO utiliza a norma ASTM D 5530 (ensaio acreditado), que é semelhante à requerida para determinação do teor de água em bio-óleo de pirólise (ASTM E 203) pois ambos utilizam uma titulação volumétrica de KF, sendo a única diferença a utilização de um sistema automático de titulação na ASTM E 203 ao invés do sistema manual utilizado na ASTM D 5530. Em princípio pode-se efetuar este ensaio no LQLO.
Utilizar amostras de 1g (0,25g se o teor de água for superior a 20% em massa).
Usar metanol:clorofórmio como solvente (3:1), utilizando na totalidade 50mL para duas determinações.
Realizar previamente o método de adição de água para calibração.
Se a titulação estiver a desvanecer (ponto final de difícil visualização) usar o reagente Hydranal K (“Composite 5K” e “Working Medium K”), prevenindo desta forma reações entre aldeídos e cetonas com álcoois que originam cetais, acetais e água responsáveis pelo desvanecimento.
Reservar 30 segundos de tempo de estabilização.
Assegurar que a amostra é representativa e que se encontra homogénea.
Usar agentes de secagem e solventes secos e evitar fugas de ar para a célula de titulação por forma a evitar o desvanecimento do ponto final da titulação.80,86
ASTM D 7579 -Método de Teste
Padrão para Determinação do Teor de Sólidos em Líquidos de
Pirólise por Filtração de Sólidos em
Metanol
É um método de ensaio elaborado recentemente, utilizado apenas para análise de bio-óleo produzido a partir de pirólise. Mesmo não sendo realizado no LQLO, pode ser efetuado sem grandes custos económicos.88
Utilizar sistemas de filtração múltiplos, com filtros de 1µm devido à presença de partículas finas residuais no bio-óleo.
Amostras de 1 a 15 g por forma a obter 10 a 20 mg de resíduo.
Recomenda-se um rácio amostra:solvente de 1:10, efetuando diversas lavagens.
Usar etanol como solvente polar para bio-óleos provenientes de palha, madeira macia e dura.
Usar uma mistura de metanol:diclorometano (1:1) como solvente para bio-óleo proveniente de resíduos florestais e de casca de árvore, sendo também usado como solvente padrão, pois foi o que se revelou mais eficiente para diferentes tipos de bio-óleo testados.80,86,91

37
Método de Ensaio
Norma aplicável Viabilidade88 Recomendações
ASTM D 445 Método de Teste
Padrão para Determinação da
Viscosidade Cinemática de
Líquidos Transparentes e
Opacos 92 ASTM D 7544-12
(Bio-óleo de pirólise)
Decreto-Lei N°142/2010
(especificações do fuelóleo)
No LQLO não fazem este tipo de ensaio, contudo, é relativamente simples de se efetuar, embora seja um pouco dispendioso a aquisição de um viscosímetro.
Fazer amostras de 80 ml.
Aconselha-se o uso de viscosímetros Cannon-Fenske, pois a direção do fluxo nestes tubos comparada com os tubos Ubbelohde
garante resultados mais precisos com líquidos de tonalidade escura como o bio-óleo.
Não é necessário pré-filtração se a amostra estiver homogénea.
Eliminar as bolhas de ar antes da realização da amostragem.
Tempo de equilíbrio de 15 minutos.80,86
ASTM D 4052 Método de Teste
Padrão para Determinação da Densidade e da
Densidade Relativa de Líquidos por
Medidor de Densidade Digital 93
No LQLO não fazem este tipo de ensaio. Contudo, é relativamente simples de se efetuar e o densímetro digital é de fácil aquisição.
Fazer amostras de 4 ml.
Realizar com cuidado a agitação/rotação de bio-óleos de origem florestal que sejam propensos a formar espuma, a fim de evitar a formação de bolhas de ar (mais suscetível de ocorrer à temperatura ambiente, sendo as bolhas facilmente evitadas a temperaturas mais elevadas (50ºC)).80,86
ASTM D 4294 Método de Teste
Padrão para Determinação do
Teor de Enxofre em Produtos Petrolíferos por Espectroscopia de Fluorescência de
Raios X por Dispersão de
Energia 94
ASTM D 7544-12 (Bio-óleo de pirólise)
Ensaio não realizável no LQLO. É utilizado um método distinto para a análise desta propriedade (ASTM D 1552). Necessita de um espectrômetro de fluorescência de raios X por dispersão de energia, que é uma variante do espectrômetro de fluorescência de raios X utilizado em análise química quantitativa (IT L 04 74 03). Em princípio deve-se recorrer a laboratório externo acreditado.
-

38
Método de Ensaio
Norma aplicável Viabilidade88 Recomendações
ASTM D 482 Método de Teste
Padrão para Determinação do
Teor de Cinzas de Produtos Petrolíferos
95
ASTM D 7544-12 (Bio-óleo de pirólise)
Decreto-Lei N°142/2010
(especificações do fuelóleo)
No LQLO só se efetuam análise de cinzas a combustíveis sólidos.
No entanto pode-se efetuar esta análise sem grandes custos.
Fazer amostras de 40 ml.
A presença de quantidades significativas de água na amostra pode provocar a formação de espuma e salpicos durante o aquecimento, originando resultados errados.
Fazer inicialmente evaporação controlada da água e de outros componentes voláteis por intermédio de placa de aquecimento ou banho de areia para evitar formação de espuma.
Para evitar salpicos, adicionar isopropanol ou papel de filtro sem cinzas para absorver a água.80,86
ASTM E 70-07 Método de Teste
Padrão para Determinação do pH de Soluções Aquosas com
Elétrodo de Vidro 96
ASTM D 7544-12 (Bio-óleo de pirólise)
Método de ensaio não realizado no LQLO.88
Contudo pode ser feito recorrendo a um simples medidor de pH, uma vez que não existe, segundo a norma ASTM D 7544, um valor atribuído especificamente para o pH, tendo este apenas que ser reportado e ter em conta se o material que entrar em contacto com o bio-óleo for suscetível a corrosão.77
Fazer amostras de 50 ml.
O pH fornece apenas nível de acidez (o quão corrosivo o bio-óleo consegue ser), não indicando a concentração dos compostos ácidos.
O Número de Acidez Total (TAN) fornece valores mais precisos para a acidez, fazendo a determinação da totalidade de compostos ácidos.
Frequentemente fazer a calibração do medidor de pH.
Em alternativa pode-se efetuar a medição com um simples medidor de pH.86
Selecionar materiais resistentes à corrosão devido ao valor baixo de pH normalmente apresentado pelo bio-óleo.79
ASTM D 93B Método de Teste
Padrão para Determinação do
Ponto de Inflamação por Medidor de
Pensky-Martens de Copo Fechado 97
ASTM D 7544-12 (Bio-óleo de pirólise)
Decreto-Lei N°142/2010
(especificações do fuelóleo)
É necessário um medidor automático Pensky-Martens
de copo fechado, equipamento esse que o LQLO não tem, pois não efetua este método de ensaio. Seria recomendado efetuar esta análise em laboratório externo acreditado.
Fazer amostras de 150 ml.
Eliminar as bolhas de ar antes de se efetuar a amostragem.86

39
Método de Ensaio
Norma aplicável Viabilidade88 Recomendações
ASTM D 97 Método de Teste
Padrão para Determinação do
Ponto de Escoamento de
Produtos Petrolíferos 98
ASTM D 7544-12 (Bio-óleo de pirólise)
Ensaio não realizável no LQLO.
Necessário equipamento adequado para medição do ponto de escoamento. Seria recomendado efetuar esta análise em laboratório externo acreditado.
Fazer amostras de 80 ml.
Sem pré-aquecimento da amostra.86
ASTM D 2622 Método de Teste
Padrão para Determinação do
Teor de Enxofre em Produtos Petrolíferos por Espectroscopia de Fluorescência de
Raios X com Dispersão por
Comprimento de Onda
Decreto-Lei N°142/2010
(especificações do fuelóleo)
Comparando com outros métodos de ensaio para a determinação do teor de enxofre, o método ASTM D 2622 apresenta alto rendimento, preparação mínima da amostra e excelente precisão, sendo capaz de determinar teores de enxofre numa vasta gama de concentrações. Contudo, o equipamento especificado para este teste tende a ser mais caro do que o exigido para os métodos de ensaio alternativos (ASTM D 4294), sendo este o método abordado preferencialmente.99 Ensaio não realizável no LQLO. É utilizado um método distinto para a análise desta propriedade (ASTM D 1552). Necessita de um espectrômetro de fluorescência de raios X com dispersão por comprimento de onda. Deve-se recorrer a laboratório externo acreditado.
-
ASTM D 95 Método de Teste
Padrão para Determinação do Teor de Água em
Produtos Petrolíferos e Materiais
Betuminosos por Destilação 100
Ensaio não realizável no LQLO.88
É utilizado um método distinto para a análise desta propriedade (ASTM D 5530). No entanto, face ao equipamento necessário, é possível fazer esta análise sem grandes custos.
-
ISO 10307-1 Produtos petrolíferos -- Sedimentos totais
em óleos combustíveis
residuais -- Parte 1: Determinação por
filtração a quente101
Ensaio não realizável no LQLO.
Montagem algo complexa de ser realizada, sendo recomendado recorrer a laboratório externo acreditado.
-

40
Entidades Acreditadas a Nível Nacional que Realizam Métodos de
Ensaio para os Enquadramentos Escolhidos
A legalização do bio-óleo produzido implica a necessidade de fazer a avaliação da sua
conformidade, de forma a cumprir com os requisitos que lhe são aplicáveis, neste caso por
intermédio de normas. Esta avaliação de conformidade passa pela realização de ensaios em
entidades competentes para os efetuar, designadas por entidades acreditadas.
A atividade de acreditação consiste na avaliação e reconhecimento da competência
técnica de entidades para efetuar atividades específicas de avaliação da conformidade (ensaios,
calibrações, certificações e inspeções), estando sujeita a legislação comunitária que obriga a um
funcionamento harmonizado, que é dado pela norma EN ISO/IEC 17011.
Em Portugal, o organismo nacional de acreditação é designado por Instituto Português
de Acreditação (IPAC), estando assim em conformidade com o regulamento (CE) Nº765/2008
que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do mercado relativos à
comercialização de produtos.102
Figura 3.7 – Esquema resumo do processo de acreditação.102
O esquema de acreditação abrange 3 tipos de entidades ou de laboratórios: de ensaio,
de calibração e clínicos. Para o caso em análise, os laboratórios de ensaio são os mais
relevantes, uma vez que são responsáveis pela determinação de parâmetros ou características
num produto, realizada de acordo com um método descrito num documento normativo.
Para fins de harmonização e sistematização, os laboratórios de ensaios encontram-se
divididos em 3 setores de acreditação, diferenciando-se entre si pelas nuances aplicadas no
produto a analisar, tipo de ensaio e método adotado. Estes setores são:
Descrição Fixa – implica a designação do produto a ensaiar (tendo em conta o campo
de aplicação do documento normativo), a identificação do parâmetro a ensaiar e método de
ensaio contendo a identificação do documento normativo e respetiva versão.
Descrição Flexível Intermédia – admite a capacidade do laboratório para implementar
novas versões do documento normativo. Omite a indicação da data de emissão do método de
ensaio.

41
Descrição Flexível Global – Não existe discriminação dos ensaios de forma individual
(como acontece na descrição fixa), sendo reconhecidas competências técnicas ao laboratório de
atuação numa larga gama de tipos de ensaios e produtos. Esta pode ser de dois tipos:
Tipo A – capacidade para implementar métodos normalizados.
Tipo B – capacidade para implementar métodos desenvolvidos internamente ou
adaptados pelo laboratório.
Este tipo de descrição permite diversas vantagens, incluindo a flexibilidade no produto,
permitindo a sua alteração dentro do mesmo setor (de natureza equivalente); inclusão de novos
parâmetros a determinar dentro de um mesmo tipo de ensaios e a possibilidade de adicionar ou
alterar os documentos normativos em causa, isto tudo desde que não se altere a técnica de
medição.46
Efetuou-se uma pesquisa na IPAC sobre laboratórios de ensaios a nível nacional nas
áreas que se considerou serem as mais adequadas ao enquadramento do produto nas normas
do bio-óleo de pirólise e do fuelóleo, sendo o principal critério de seleção a escolha de entidades
que apliquem métodos de ensaio idênticos aos impostos pela norma de enquadramento para as
diversas propriedades a analisar.
Bio-óleo de Pirólise (ASTM D 7544)
Tratando-se de um padrão americano, a aplicabilidade da norma ASTM D 7544 em
território nacional é praticamente desconhecida e, podendo o bio-óleo apresentar distintos
aspetos e aplicações para além do seu uso como combustível, foi alargada a base de pesquisa
para esta norma a outros setores de acreditação além da área dos combustíveis, evidenciados
de seguida.
Asfalto, betume, alcatrão, piche e materiais betuminosos
Em diversas ocasiões o bio-óleo produzido apresenta más propriedades filtrantes, sendo
muito viscoso e contendo um teor de sólidos elevado, assemelhando-se, por isso, em aspeto
visual a betumes e alcatrões. Contudo não existem entidades nesta área com métodos de análise
que sejam compatíveis com os pretendidos.
Combustíveis, óleos e lubrificantes
Nesta área encontram-se diversas entidades com métodos de análise similares aos
praticados pela norma. Isto deve-se ao facto de esta ser a área de aplicação principal do bio-óleo
(combustíveis fósseis e biocombustíveis), sendo por isso a mais adequada ao enquadramento na
norma. Existem entidades acreditadas na área dos combustíveis que apenas realizam métodos de
análise para combustíveis sólidos, tendo por isso optado pela sua omissão.

42
Efluentes líquidos
Como só foi possível encontrar uma entidade para realizar testes de pH de acordo com
o método de ensaio indicado na norma, procurou-se por um método alternativo (ISO 10523),
tendo sido descobertas várias entidades nesta área para realizar os testes segundo este método.
A aplicação de métodos alternativos para medição do pH pode ser realizada, visto que apenas é
necessário reportar o valor obtido.
Fertilizantes e fitofármacos
Nesta área foi possível encontrar uma entidade com o método adequado ao
enquadramento do produto na referida norma em termos de teor de água.
Químicos e produtos químicos
O bio-óleo, para além da sua aplicação como combustível, também é considerado um
produto químico, podendo deste serem extraídos compostos químicos de valor acrescentado
como ácido levulínico, furfural, açúcares, entre outros. Nesta área foi possível encontrar uma
entidade com o método adequado ao enquadramento do produto na referida norma em termos
de viscosidade cinemática.
Resistência e reação ao fogo
Nesta área foi possível encontrar entidades com o método adequado ao enquadramento
do produto na referida norma em termos de poder calorífico superior.
Em anexo encontram-se todas as entidades acreditadas que realizam os métodos de
análise referentes à norma ASTM D 7544, estando estas organizadas por área de intervenção e
por propriedade a analisar (Tabelas 7.15 e 7.16).
Verificou-se que não existem entidades a nível nacional que realizem a totalidade dos
métodos de ensaio impostos pela norma, evidenciando mesmo a falta de entidades para a
realização de ensaios acreditados na determinação do teor de sólidos suspensos, pois o seu
método de análise foi especificamente elaborado para o uso nesta norma, dificultando assim a
obtenção de enquadramento do produto em Portugal com base nesta norma.
Importante frisar que as entidades com descrição flexível global, como o caso da SGS,
podem ser uma mais valia, tanto a nível nacional como internacional, no sentido de oferecerem
maiores possibilidades de realização dos ensaios que se pretende devido à sua flexibilidade.
Fuelóleo (Decreto-Lei Nº142/2010)
Tratando-se de um combustível largamente usado e testado em território nacional
(produzido pela GALP e comercializado também pela mesma e também pela REPSOL,
Petroibérica entre outras), para o enquadramento do bio-óleo nas especificações do fuelóleo
recorreu-se apenas a entidades na área dos combustíveis, óleos e lubrificantes que conseguem
realizar os mesmos métodos de ensaio impostos pela norma nacional do fuelóleo (anexo, Tabela
7.17).

43
Verificou-se que a Petrogal (com os seus laboratórios Galp de Lubrificantes e o da
refinaria de Sines) é a única entidade nacional que consegue realizar todos os métodos de ensaio
presentes na norma.
Resultados do Enquadramento Normativo
Foram efetuados diversos ensaios de liquefação na instalação piloto, com diferentes
tipos de resíduos, tendo sido escolhidas algumas amostras para testar o enquadramento legal
do bio-óleo produzido em diversas normas de combustíveis líquidos presentes no mercado, de
forma a cumprir com a legislação em vigor. Optou-se pelo uso de bio-óleos resultantes da
liquefação de cortiça e de CDR, apresentando as características dadas pela Tabela 3.7.
Tabela 3.7 – Propriedades e condições operatórias do bio-óleo industrial utilizado no enquadramento.
Condições operatórias ou Propriedades
Tipo de resíduo
Cortiça CDR
Humidade do resíduo (%) 8,4 24,6
Teor de resíduo (% m/m) 20 20
Rácio de solventes (Dietilenoglicol:2-etil-hexanol)
~3:1 ~3:1
Teor de catalisador (% m/m) ~1-3 ~1-3
Tempo de reação (h) ~8 ~8
Temperatura de reação (°C) ~160 ~160
As análises ao bio-óleo foram realizadas num laboratório de ensaios externo
especializado (Saybolt). As amostras de bio-óleo foram misturadas com gasóleo (blending),
tendo sido testado o seu enquadramento em três documentos normativos de combustíveis
líquidos: gasóleo (EN 590), biodiesel FAME (EN 14214) e fuelóleo (DL Nº142/2010).
Tabela 3.8 – Resultado do enquadramento do bio-óleo na norma EN 590 (gasóleo).
Propriedade Método de
Ensaio Unidade
Limites Resultados do
Bio-óleo
Mínimo Máximo Cortiça CDR
Índice de cetano EN ISO 5165 - 51,0 - 51,1 49,8
Índice de cetano calculado
EN ISO 4264 - 46,0 - 52,3 52.1
Massa volúmica a 15ºC
EN ISO 12185
kg/m3 820,0 845,0 834,5 834,3
Viscosidade cinemática a 40 °C
EN ISO 3104 mm2/s 2,0 4,50 2,844 2,773
Destilação: - Recuperado a 250ºC - Recuperado a 350ºC - 95% de Recuperado
EN ISO 3405
% (v/v)
% (v/v)
°C
-
85 -
65
-
360,0
36.1
92.3
361.6
36,9
92,8
359,1
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
EN 12916 % (m/m) - 8,0 1,8 1,8

44
Propriedade Método de
Ensaio Unidade
Limites Resultados do
Bio-óleo
Mínimo Máximo Cortiça CDR
Teor de enxofre ISO 13032 mg/kg - 10,0 92,6 36,4
Temperatura limite de
filtrabilidade
EN 116 °C - 0 -15 -8
Ponto de inflamação
EN ISO 2719 °C 55 - 64,0 64,0
Resíduo carbonoso
(no resíduo 10% da destilação)
ASTM D 4530 / D 86
% (m/m) - 0,30 <0,1 <0,1
Teor de cinzas EN ISO 6245 % (m/m) - 0,01 0,027 <0,001
Teor de água EN ISO 12937
% (m/m) - 0,02 0,173 0,088
Contaminação total
EN 12662 mg/kg - 24 Filtração
incompleta Filtração
incompleta
Corrosão da lâmina de cobre
(3h a 50ºC) EN ISO 2160 - Classe 1 1ª 1a
Estabilidade oxidativa a 95ºC
- Total de Insolúveis
EN ISO 12205
g/m3 - 25 Não filtra Não filtra
Lubricidade EN ISO 12156-1
µm - 460 339 286
Teor de FAME (gama B)
EN 14078 % (v/v) - 7,0 0,12 0,12
Tabela 3.9 – Resultado do enquadramento do bio-óleo na norma EN 14214 (biodiesel FAME).
Propriedade Método de
Ensaio Unidade
Limites Resultados do
Bio-óleo
Mínimo Máximo Cortiça CDR
Densidade a 15ºC EN ISO 12185
kg/m3 860 900 1141,2 1101,8
Viscosidade cinemática a 40ºC
EN ISO 3104 mm2/s 3,5 5,0 31,83 16,10
Ponto de inflamação EN ISO 2719 °C 101 - 96,0 89,0
Teor de enxofre ISO 8754 % (m/m) 0,001 0,47 0,51
Corrosão de banda de cobre
EN ISO 2160 - Classe 1 1a 1a
Estabilidade oxidativa a 110ºC
EN 14112 h 8,0 - 2,8 2,4
Valor ácido EN 14104 mg KOH/g - 0,50 16,4 11,2
Valor de iodo EN 14111 g I2/100g - 120 6 5
Teor de metanol EN 14110 % (m/m) - 0,20 0,01 0,01
Metais do grupo I (Na+K)
EN 14538 mg/kg - 5,0 >200 >200
Metais do grupo II (Ca+Mg)
EN 14538 mg/kg - 5,0 >200 >200
Teor de fosfatos EN 14107 mg/kg - 4,0 <1 <1

45
Tabela 3.10 – Resultado do enquadramento do bio-óleo na especificação do fuelóleo nº4 BTE,
presente no DL Nº142/2010.
Propriedade Métodos de
Ensaio Unidade
Limites Resultados do
Bio-óleo
Mínimo Máximo Cortiça CDR
Massa volúmica a 15ºC
EN ISO 12185
kg/m3 A relatar 1141,2 1101,8
Viscosidade cinemática a 40ºC
EN ISO 3104 mm2/s - 40 31,83 16,1
Ponto de inflamação EN ISO 2719 °C 65 - 96,0 89,0
Teor de água ASTM D 95 % (v/v) - 1,0 16,0 10,0
Sedimento total ISO 10307-1 % (m/m) - 0,25 1,27 -
Teor de enxofre ISO 8754 % (m/m) - 1,0 0,47 0,51
Teor de cinzas EN ISO 6245 % (m/m) - 0,20 1,59 1,60
Nos testes realizados até ao momento, chegou-se à conclusão que a norma que se
enquadra melhor a este tipo de produto é a do fuelóleo e, embora não cumprindo com alguns
limites impostos pela norma, prevê-se que se possam enquadrar brevemente em futuros ensaios
em virtude das várias alterações a serem implementadas na unidade piloto industrial.
Economia Circular
A legalização do bio-óleo por intermédio do enquadramento normativo não é certa, sendo
necessário promover alternativas que o aceitem como produto.
Ao longo dos tempos, a economia mundial tem sido construída com base num modelo
linear de negócios (extrair-fabricar-descartar), levando a que esteja nos dias de hoje sob ameaça
em virtude da disponibilidade limitada de recursos naturais. Face à necessidade de utilizar os
recursos de uma forma mais inteligente e sustentável (ambiental e economicamente), foi criado
o modelo de economia circular.103,104
A economia circular trata-se de um novo modelo de desenvolvimento económico que
garante que o valor dos produtos e materiais é mantido durante o maior tempo possível,
diminuindo a produção de resíduos e a utilização de recursos, e quando os produtos atingem o
final da sua vida útil os recursos mantêm-se na economia para serem reutilizados e voltarem a
gerar valor.103
Figura 3.8 – Economia circular.105

46
Este modelo de desenvolvimento económico é assente em diversos conceitos tais como
o “cradle to cradle” que defende que a inovação é o caminho para transformar os resíduos de
uma cadeia produtiva em componentes e materiais para outra, e o conceito de ecologia industrial
que visa a criação de processos de ciclo fechado, desenhando sistemas de produção adaptados
aos ecossistemas locais.105
É neste tipo de conceitos que se enquadra o bio-óleo produzido, pois os diversos tipos
de matéria-prima que lhe dão origem são resíduos provenientes de outras indústrias, constituindo
assim uma excelente oportunidade de fechar ciclos produtivos de diversas industrias.
Para estimular a transição da Europa para um modelo de economia circular, a CE
apresentou recentemente um plano de ação que contém um pacote de medidas destinadas a
“fechar o ciclo” e diversas ações incidentes nos obstáculos de mercado em setores específicos.
Algumas dessas medidas e ações influenciam diretamente produtos como bio-óleo, tais como:
Mercado das matérias-primas secundarias (conversão de resíduos em recursos),
existindo obstáculos na sua integração na economia devido à incerteza da sua
composição, sendo uma das medidas a elaboração de normas de qualidade aplicáveis
às matérias-primas secundárias.
Promoção de uma utilização eficiente dos recursos de base biológica por meio de uma
série de medidas como a orientação e a divulgação das melhores práticas da utilização
de biomassa em cascata (dar prioridade a usos de maior valor) e o apoio à inovação na
bioeconomia (potencial de inovação para novos materiais, produtos químicos e
processos tais como o bio-óleo).103
É um modelo com bastante potencial para ser adaptado ao bio-óleo. Contudo, apesar
das variadas vantagens inerentes a este modelo de negócio são necessárias mudanças ao nível
dos vários setores das sociedades, desde governos, sociedade civil, empresas, ou seja, uma
mudança de mentalidade das pessoas, com pessoas e para as pessoas, pelo que poderá
demorar algum tempo até à existência de um modelo sólido que favoreça todas as partes.104

47
4. Atividade Laboratorial
Paralelamente à instalação piloto industrial, efetuou-se uma operação de montagem laboratorial
de liquefação, servindo de apoio às atividades de arranque e otimização do processo.
Procedimento Experimental
Materiais
Geral
Balança técnica (capacidade de leitura até 0,1 g);
Balança analítica (capacidade de leitura até 0,0001 g);
Estufa;
Funis;
Copos;
Erlenmeyers de 250mL;
Cadinhos de porcelana ou vidros de relógio;
Espátulas.
Ensaio reacional
Placa de aquecimento com agitação magnética:
Agitador magnético;
Vaso reacional - Balão de fundo redondo de 500mL com 3 bocas;
Tacho de alumínio;
Óleo de silicone - Momentive Element 14 PDMS 350;
Suporte universal;
Garras e nozes;
Mangueiras;
Água de refrigeração;
Equipamento de retenção de condensados, Dean-Stark;
Condensador;
Parafilm/rolhas de borracha/tampas;
Termómetros de mercúrio - gama de temperaturas de -10 a 200ºC.
Separação
Bomba de vácuo;
Mangueira;
Kitasato;
Funil de Büchner de 75mL.

48
Matéria-prima e Reagentes
Biomassa
Estilha de madeira de pinho (humidade média de 18%);
Biomassa de desmatamento (humidade média de 36%);
Grits (humidade média de 55%);
Dregs (humidade média de 63%).
Pré-tratamento
Solução de sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) - Sapec Química, 43,4 g Al/kg solução;
Solventes
2-Etilhexanol (2EH) - Brenntag Portugal, ≥99,5% de pureza;
Dietilenoglicol (DEG) - Sapec Química, ≥99,5% de pureza;
Catalisador
Ácido p-toluenosulfónico (PTSO) - SAFC, ≥98% de pureza.
Lavagem
Acetona - Carlo Erba, 99,8% de pureza.
Procedimento
Pré-ensaio
1. Seleção prévia do tipo de biomassa, solventes, catalisador e respetivas razões e/ou
percentagens.
2. Estipulação das condições reacionais (tempo de residência, temperatura, tipo de reator
e de aquecimento).
Para seleção do tipo de reator, ter em conta que os reatores de 500mL utilizam
agitadores magnéticos, pelo que não é aconselhável utilizar volumes de mistura superiores a
200mL).
Determinação da Humidade da Biomassa
1. Pesar um recipiente (cadinho ou vidro de relógio) numa balança técnica. Registar o peso.
2. Tarar a balança e colocar biomassa no recipiente. Registar o peso.
3. Secar o recipiente + biomassa numa estufa a 100ºC durante 1 hora.
4. Findado o tempo de secagem, retirar a amostra da estufa e pesar. Registar o peso.
5. Obter os pesos de biomassa seca e do teor de água pelas seguintes expressões:

49
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎+𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑚𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 Equação 1
𝑚á𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 − 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 Equação 2
Onde,
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 – Massa de biomassa seca (g);
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎+𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 – Massa do recipiente com a biomassa seca (g);
𝑚𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 – Massa do recipiente (g);
𝑚á𝑔𝑢𝑎 – Massa de água (g);
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 – Massa de biomassa inicial (g).
A humidade média da biomassa é dada por:
𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑚á𝑔𝑢𝑎
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 Equação 3
Onde,
𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 – Humidade média da biomassa (%).
A humidade calculada pela Equação 3 tem como referência a massa de biomassa seca
(𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎) e, em ensaios subsequentes em que não seja necessário secar a amostra, para
o mesmo tipo de biomassa pretende-se aplicar o teor de humidade calculado num ensaio anterior
à massa de biomassa pesada inicialmente (𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎), tendo como objetivo a determinação da
massa de biomassa seca (𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎) e da massa de água presente na amostra (𝑚á𝑔𝑢𝑎),
valores esses que servirão de base nas pesagens dos reagentes (solventes + catalisador).
Contudo, não é possível aplicar este valor de humidade diretamente pois foi calculado
numa base diferente à qual se pretende aplicar (𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 ≠ 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎). Existem 2 hipóteses
para o cálculo da 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 e da 𝑚á𝑔𝑢𝑎:
a. No ensaio em que se fizer o cálculo da humidade, fazê-lo em relação à 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎:
𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑚á𝑔𝑢𝑎
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 Equação 4
Onde,
𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 – Valor de humidade para facilitação de cálculos (%).
No ensaio a realizar, calcular a 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 pela Equação 5:
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = (1 − 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎) × 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 Equação 5
Por último calcular a 𝑚á𝑔𝑢𝑎 pela equação 2.
b. Fazer um sistema de equações com a humidade “real” calculada anteriormente
(𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒), para obtenção direta da 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 e da 𝑚á𝑔𝑢𝑎 :
{𝑚á𝑔𝑢𝑎 + 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
𝑚á𝑔𝑢𝑎
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
Equação 6

50
Para os ensaios em que se tenha que humedecer a biomassa até determinado alvo,
utilizar o seguinte sistema de equações:
{
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 + 𝑚á𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑚á𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑚á𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −(𝑚á𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑚á𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 )= 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑣𝑜 Equação 7
Onde,
𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑣𝑜 – Humidade que se pretende alcançar (%);
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 – Valor de biomassa com a água que se pretende adicionar (g);
𝑚á𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 – Massa de água a adicionar (g);
𝑚á𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 – Massa de água inicial presente na biomassa (g).
Pesagem de Reagentes
1. Pesar os solventes em copos de acordo com a massa de biomassa seca obtida,
aplicando a proporção selecionada previamente, recorrendo à seguinte equação:
𝑅𝑎𝑧ã𝑜 = 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 Equação 8
Onde,
𝑅𝑎𝑧ã𝑜 – Proporção entre massa de solvente e biomassa seca;
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 – Massa de solvente (g).
2. Recorrendo a uma espátula, pesar a quantidade de catalisador a adicionar à mistura,
tendo em conta a percentagem estipulada anteriormente. A massa de catalisador pode
ser obtida recorrendo à seguinte equação:
% 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑚𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎+𝑚𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠× 100 Equação 9
Onde,
% 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 – Percentagem de catalisador utilizado;
𝑚𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 – Massa de catalisador (g);
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 – Massa total de solventes (g).
3. Adicionar todos os reagentes ao vaso reacional, juntando também um agitador
magnético.
Sugere-se o uso de um funil para facilitar a adição dos reagentes ao vaso reacional.
Adicionar o catalisador juntamente com os solventes para evitar perdas. Adicionar todos os
reagentes diretamente no vaso reacional para minimizar perdas, bastando para isso ter um
suporte para colocar o reator sobre uma balança técnica.
Pré-tratamento
Previamente à reação, pode-se fazer dois tipos de tratamento: swelling ou tratamento
com outro tipo de composto (solução de Al2(SO4)3).

51
Nos ensaios em que se fizer o processo de swelling, deixar a biomassa em contacto com
os solventes durante um certo período de tempo antes de efetuar o ensaio reacional. Simulando
as condições da instalação piloto (nomeadamente no parafuso), o swelling deve ser feito a quente
(entre 60 a 80°C), com agitação e na presença de catalisador, sendo que desta forma o tempo
reacional conta a partir do instante em que é introduzido o catalisador, pois este promove reações
mesmo a baixas temperaturas.
O pré-tratamento com solução de Al2(SO4)3 é feito com o objetivo de desidratar a
biomassa, funcionando como absorvente de humidade. Este tratamento é feito à temperatura
ambiente.
Ensaio Reacional
1. Introduzir óleo num tacho de alumínio até determinado nível para que a mistura reacional
esteja sempre em contacto com o óleo e também para fazer com que este não
transborde. Ao utilizar óleo convencional, este dura à volta de uns 3 a 4 ensaios (começa
a ficar com aspeto/cor escuro), sendo depois recomendado substituí-lo. Ligar a hotte
devido ao odor do óleo (“cheiro a fritos”). Se for utilizado óleo de silicone não é necessário
fazer a sua substituição.
2. Colocar o tacho sob uma placa de agitação e aquecimento. Opcionalmente pode-se
colocar um termómetro no banho térmico.
3. Com a ajuda de um suporte universal, noz e garra, prender o vaso reacional e mergulhá-
lo no óleo para que toda a mistura reacional fique em contacto com o banho térmico.
4. Afixar um termómetro numa das tubuladuras laterais do vaso reacional, de forma a estar
em contacto direto com a mistura reacional. Colocar uma rolha, tampa ou parafilm em
redor da tubuladura para prender o sensor e evitar a libertação de vapor. Tapar da
mesma forma a outra tubuladura lateral.
5. Acoplar o Dean-Stark, na tubuladura central do vaso reacional e prendê-lo recorrendo a
uma noz e garra. Colocar um Erlenmeyer por baixo da válvula de saída de condensados
do Dean-Stark.
6. Juntar um condensador ao encaixe superior do Dean-Stark. Prendê-lo, se necessário.
7. Adaptar mangueiras aos encaixes laterias do condensador e ligar uma delas à rede de
água e a outra deixar no lavatório para saída de água.
8. Ligar a agitação da placa e regular o seu valor para que a agitação seja eficiente
(agitação homogénea ou constante).
9. Ligar o aquecimento da placa. Aquecer a mistura em intervalos de temperatura definidos
(ex.: 80ºC; 100ºC (evaporação da água); 115ºC; 130ºC; 145ºC; 160ºC), por forma a evitar
um rápido aquecimento, podendo provocar a formação de reações secundárias
indesejáveis.
10. Após atingida a temperatura alvo no reator, iniciar a contagem do tempo de reação.
Tentar estabilizar ao máximo a temperatura da mistura reacional com diferenças entre

52
±5ºC. Fazer o controlo variando o regulador de temperatura da placa de aquecimento
tendo como referência a temperatura do óleo.
11. Após decorrido o tempo reacional, desligar o aquecimento e deixar arrefecer a mistura
reacional até aos 100ºC. Manter a agitação ligada.
Legenda:
1 – Vaso reacional de 500mL (balão de fundo redondo
com 3 bocas paralelas);
2 – Placa de aquecimento e agitação magnética;
3 – Termómetro;
4 – Dean Stark;
5 – Erlenmeyer;
6 – Condensador.
Figura 4.1 - Montagem laboratorial de ensaio reacional.
Separação
1. Preparar uma montagem de filtração a vácuo (Figura 4.2), recorrendo a uma bomba de
vácuo, que por sua vez liga a um kitasato acoplado com um funil de Büchner. Se o funil
de Büchner não for de leito poroso, acrescentar um papel de filtro.
Legenda:
1 – Bomba de vácuo;
2 – Mangueira;
3 – Funil de Büchner de leito poroso;
4 – Kitasato.
Figura 4.2 - Montagem de filtração a vácuo.

53
2. Desmontar a instalação de liquefação com cuidado para remoção do vaso reacional,
começando por desmontar o condensador, de seguida o Dean Stark, e por último o
reator, desligando também a agitação da placa.
3. Ligar a bomba de vácuo e verter o conteúdo do vaso reacional para o funil de Büchner.
Tentar retirar o máximo de liquefeito e resíduo do vaso reacional, recorrendo a espátulas.
4. Desligar a bomba de vácuo quando já não se verificar a queda de liquefeito para o
kitasato. Para efeitos de quantificação, pode-se pesar previamente o kitasato para o qual
irá verter o filtrado (liquefeito), e pesar após o final da filtração. A massa de liquefeito é
obtida pela subtração das duas pesagens mencionadas.
5. Retirar o funil de Büchner com cuidado (pois contém o resíduo), coloca-lo num suporte
seguro (reator por exemplo) e verter o liquefeito (que se encontra no kitasato) para um
recipiente de vidro, sendo devidamente fechado e rotulado. Este liquefeito serve para
efeitos de caracterização de parâmetros físico-químicos.
6. Acoplar de novo o funil de Büchner ao kitasato, ligar a bomba de vácuo e retirar com
acetona e auxílio de uma espátula, o remanescente dos resíduos que se encontrem nas
paredes do vaso reacional e de acessórios como termómetro, Dean-Stark, e introduzir
no funil de Büchner. Lavar também com acetona o resíduo presente no funil de Büchner,
agitando com uma espátula até verificar uma coloração mais clara do filtrado (incolor –
lavagem bastante eficiente).
7. Pesar um recipiente (cadinho ou vidro de relógio) e colocar com o auxílio de uma espátula
o resíduo presente no funil de Büchner. Se o funil de Büchner não tiver leito poroso, fazer
uma pesagem prévia do papel de filtro que irá conter o resíduo, antes de efetuar a
filtração por vácuo. Pesar também um recorte de folha de alumínio. Neste caso, a massa
do recipiente vai ser o peso do papel de filtro mais o da folha de alumínio.
8. Secar o resíduo numa estufa a 100ºC até ao dia seguinte. No caso do resíduo se
encontrar num papel de filtro, colocar o recorte de folha de alumínio por baixo deste, e
de seguida levar à estufa.
9. Remover o filtrado contido no kitasato e lavar todo o material utilizado no ensaio
laboratorial, recorrendo para isso a etanol e/ou acetona, água, escovilhões e/ou
esfregões.
10. No dia seguinte retirar o resíduo seco da estufa e efetuar a respetiva pesagem.
11. Obter o rendimento de bio-óleo através das seguintes expressões:
𝑚𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝑚𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜+𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑚𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 Equação 10
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎− 𝑚𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎× 100 Equação 11
Onde,
𝑚𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 – Massa de resíduo seco (g);

54
𝑚𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜+𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 – Massa do recipiente com o resíduo seco (g);
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 – Percentagem de conversão de biomassa seca em bio-óleo (%).
O rendimento calculado pela Equação 11 encontra-se presente em diversos artigos
científicos22,25,29,32,40, mas este não entra em linha de conta com a quantidade de matéria
inorgânica inicial (cinzas). Assim, para elevadas quantidades de cinzas, o rendimento pode ser
corrigido pela aplicação da Equação 12:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = (𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎−𝑚𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠)−(𝑚𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜−𝑚𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠)
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎−𝑚𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠× 100 Equação 12
Onde,
𝑚𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 – Massa de cinzas ou de matéria inorgânica;
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 - Percentagem de conversão de biomassa seca em bio-
-óleo, descontando as cinzas (%).
Resultados Experimentais
Análise da Influência das Condições Operatórias
Nos ensaios laboratoriais levados a cabo, foram testados diversos tipos de condições
operatórias que podem ter influência no rendimento e no funcionamento da instalação piloto
semi-industrial. Contudo, existem outras variáveis que se mantiveram praticamente inalteradas
em todos os ensaios por serem as normalmente utilizadas na instalação piloto, tais como:
20% de biomassa;
Temperatura reacional de 160ºC e 90 min de reação;
3% de catalisador;
Mesmos solventes (DEG e 2EH) e catalisador.
Influência do Swelling
Como descrito anteriormente, efetuou-se o swelling a quente de estilha de pinho para
simular as condições no parafuso da instalação piloto, tendo sido efetuados ensaios para
diferentes tempos (30, 90, 720 min), comparando também com um ensaio sem swelling.
Figura 4.3 – Efeito do tempo de swelling a quente na conversão de estilha de pinho com
proporção DEG:2EH de 1:3.
55
57
59
61
63
65
67
0 200 400 600
Ren
dim
en
to d
a
Liq
uefa
ção
(%
)
Tempo (min)

55
Na Figura 4.3 observa-se que o tempo de swelling a quente influencia o rendimento da
reação, sendo que não existem grandes melhorias a partir dos 30 minutos, sendo este
considerado o tempo ótimo de swelling.
Influência da Granulometria
Na instalação piloto semi-industrial, os resíduos alimentados à tremonha não devem
exceder os 30 mm de granulometria. Posto isto, foram testados diferentes tamanhos de biomassa
(Figura 4.4), de forma a saber se a granulometria pode afetar o rendimento da liquefação.
Figura 4.4 – Estilha de pinho. Granulometria (da esquerda para a direita): grossa, média e fina.
Figura 4.5 – Efeito da granulometria na conversão de estilha de pinho, sem swelling e com
proporção DEG:2EH de 1:3.
Pode-se comprovar pela Figura 4.5 que existe uma diferença significativa entre baixas e
altas granulometrias, sendo de evitar a estas condições o uso de finos, pelo que o baixo
rendimento pode-se dever à presença de material inorgânico (areia). Tanto a estilha média como
a grossa têm rendimentos semelhantes, sendo que a média pode ser uma melhor opção, pois
sendo pouco provável a necessidade de moagem é assim mais fácil a sua alimentação.
Influência da Humidade
Em virtude das diferentes condições atmosféricas ao longo do ano, a humidade presente
na biomassa sofre alterações. Foram feitos ensaios para estilha de pinho seca (0%), humidade
nas suas condições atuais (18%) e para 40% de humidade, de forma a simular condições de
Inverno.
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Fina Média Grossa
Ren
dim
en
to d
a
Liq
uefa
ção
(%
)
Tamanho

56
Figura 4.6 – Efeito da humidade na conversão de estilha de pinho, sem swelling e com
proporção DEG:2EH de 1:3.
Como se pode ver pela Figura 4.6, a biomassa com 0% de humidade é a que apresenta
melhores rendimentos, sendo também a que necessita de menos tempo de aquecimento (40
minutos) até atingir a temperatura alvo, sendo mais de uma hora nos restantes ensaios.
Ensaios com Otimização das Condições Operatórias
Foram efetuados dois ensaios tendo em conta as condições experimentais daqueles com
melhores rendimentos registados até aqui: estilha de pinho com granulometria normal, 0% de
humidade e 30 minutos de swelling a quente. Variou-se apenas as proporções entre os solventes
utilizados.
Figura 4.7 – Ensaios com otimização das condições operatórias
A Figura 4.7 demonstra que as combinações dos melhores ensaios produzem
rendimentos superiores, sendo semelhantes entre as proporções de solventes utilizadas (72 e
70%). É de referir a maior viscosidade do bio-óleo quando se utiliza a proporção 3:1,
apresentando este uma densidade de 0,94 g/mL, enquanto a proporção 1:3 apresenta 0,81 g/mL.
Este facto encontra-se relacionado com a quantidade de DEG utilizada, pois tratando-se de um
poliálcool, pode dar origem a uma maior quantidade de compostos de elevado peso molecular
(maior densidade) se este solvente estiver presente em grande quantidade na mistura reacional.
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
0 10 20 30 40
Ren
dim
en
to d
a
Liq
uefa
ção
(%
)
Humidade (%)
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
1:3 3:1
Ren
dim
en
to d
a
Liq
uefa
ção
(%
)
Proporção DEG:2EH

57
Pré-tratamento com Solução de Al2(SO4)3
Foram efetuados alguns ensaios utilizando como pré-tratamento uma solução de
Al2(SO4)3, usando estilha de pinho como biomassa. Num primeiro ensaio utilizou-se uma
proporção 3:1 entre a solução e a biomassa, sendo os restantes feitos com 10% (m/m).
Figura 4.8 – Efeito do tempo de pré-tratamento, com posterior swelling de 30 minutos.
No ensaio em que se efetuou pré-tratamento por 17 horas não se obteve qualquer
rendimento (sem liquefeito), sendo que nos restantes dois ensaios os rendimentos já foram
aceitáveis, sendo o melhor registado para a proporção DEG:2EH de 3:1 com uma conversão de
70%. De frisar a formação de alguma espuma no início da reação, bem como de alguma
carbonização nas paredes do reator. O condensado obtido apresenta 2 fases (Figura 4.9).
Figura 4.9 – Condensado obtido pelo pré-tratamento com solução de Al2(SO4)3 .
Com o intuito de verificar a funcionalidade do alumínio como catalisador, foram utilizadas
as condições de pré-tratamento com melhor rendimento (verificado na Figura 4.8) para a mesma
biomassa, mas com 0% de humidade, sendo a variável o tempo de reação.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
17 h (1:3) 15 min (1:3) 15 min (3:1)
Ren
dim
en
to d
a
Liq
uefa
ção
(%
)
Tempo de pré-tratamento e proporção DEG:2EH

58
Figura 4.10 – Efeito do tempo reacional na conversão de estilha de pinho, utilizando pré-
tratamento.
Como se pode observar pela Figura 4.10, existe uma nítida oscilação entre os valores
obtidos, tendo sido obtidos melhores rendimentos para tempos reacionais mais baixos. A menor
conversão para tempos reacionais maiores pode ser explicada pela formação de um produto
sólido que deriva, provavelmente, da caramelização dos açúcares por exposição dos reagentes
reacionais durante largos períodos de tempo a temperaturas superiores a 120ºC e/ou também à
repolimerização de monómeros formados aquando da despolimerização. Nenhum dos ensaios
efetuados chega próximo do rendimento observado no ensaio com biomassa húmida (70%),
dando a entender que este tipo de pré-tratamento funciona melhor em condições de maior
humidade.
Dregs e Grits
O processo de obtenção de pasta de papel utilizando a madeira como matéria-prima
gera uma grande variedade de resíduos sólidos, sendo os grits e dregs dos mais importantes a
nível quantitativo e de impacto ambiental.106 Foram feitos alguns ensaios com estes tipos de
resíduos com 0% de humidade e com a que apresentam inicialmente.
Figura 4.11 – Efeito da humidade na conversão de dregs e grits, sem swelling e com proporção
DEG:2EH de 3:1.
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
0 20 40 60 80
Ren
dim
en
to d
a
Liq
uefa
ção
(%
)
Tempo (min)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Dregs 0% Dregs 63% Grits 0% Grits 55%
Ren
dim
en
to d
a
Liq
uefa
ção
(%
)
Humidade (%)

59
Pela análise da Figura 4.11 verifica-se que os rendimentos são muito baixos, sendo
melhores com os resíduos em estado seco. Estas reduzidas conversões podem ser explicadas
pela pouca quantidade de matéria orgânica presente nestes resíduos, sendo constituídos
maioritariamente por sais como carbonatos, sulfatos, silicatos e outros minerais não-
reativos.106,107
Biomassa de Desmatamento
Este tipo de biomassa é proveniente da zona envolvente da pedreira de Pataias, sendo
composta por uma mistura de matéria vegetal contendo cascas de árvores, folhas, ramos, entre
outros. Foi analisada a influência da humidade (0% e a humidade do material (36%)), bem como
o pré-tratamento com solução de Al2(SO4)3.
Figura 4.12 – Efeito da humidade e do pré-tratamento na conversão de biomassa de
desmatamento sem swelling e com proporção DEG:2EH de 1:3.
Pela visualização da Figura 4.12 verifica-se que os rendimentos são mais baixos face
aos de estilha de pinho, podendo ser explicado pelo aumento do teor de lenhina neste tipo de
biomassa. Tal como visto em ensaios anteriores, a secagem da biomassa apresenta melhores
resultados, mas neste caso é superada pelo ensaio em que se efetuou pré-tratamento, realçando
assim a importância deste tipo de tratamento em biomassas com teores de humidade elevados.
Todos os ensaios realizados apresentam rendimentos um pouco mais baixos face ao
que seria expectável tendo em conta alguns ensaios previamente realizados.108 Fatores como a
inexistência de um controlador de temperatura (controlado de forma manual, provocando por
vezes maiores oscilações de aquecimento/arrefecimento em torno do valor ótimo) e agitação
ineficiente (agitação magnética é inferior à mecânica) podem contribuir para a oscilação e
decréscimo dos valores de conversão, considerando a agitação a principal limitação da
instalação piloto laboratorial.
Para além da realização de novos ensaios, um outro objetivo é fazer o scale-up para um
reator de 2 litros, fazendo ciclos reacionais com incrementos de biomassa de forma a ocupar o
máximo de volume útil do reator, tal como é o objetivo na instalação piloto semi-industrial.
0
10
20
30
40
50
60
0% 36% 36% com Pré-tratamento e swelling
Ren
dim
en
to d
a
Liq
uefa
ção
(%
)
Humidade (%)

60
A aquisição de um controlador de temperatura, bem como de um agitador mecânico e
respetiva pá de agitação representam o próximo passo a ser dado para fazer o scale-up, bem
como para ajudar na obtenção de valores mais fiáveis à escala laboratorial e, com isto, serem
passíveis de reproduzir sem grandes desvios na instalação piloto semi-industrial.
Caracterização dos Liquefeitos e Resíduos
Face à capacidade do LQLO de realizar métodos de ensaio para diversos tipos de
materiais (incluindo hidrocarbonetos líquidos e biomassas), foram pedidas diversas solicitações
de ensaio para as biomassas, liquefeitos e resíduos obtidos nos ensaios laboratoriais. São
apresentados na Tabela 4.1 alguns dos resultados obtidos utilizando estilha de pinho.
Figura 4.13 – Resíduo obtido após liquefação. Figura 4.14 – Liquefeito de estilha de pinho.
Tabela 4.1 – Caracterização da biomassa (estilha de pinho), liquefeito e seu resíduo.
Propriedade Método de Ensaio Unidade Biomassa Liquefeito* Resíduo
Humidade total CEN/TS 15414-2:2010 % (m/m) 31,1 - 3,3
Teor em água ASTM D 5530-15 % (m/m) - 3,1 -
Teor em cinza (s) EN 15403:2011 % (m/m) 1,1 - 2,2
Carbono EN 15407:2011
ASTM D 5291-10*
% (m/m) 51,1 62,29 62
Hidrogénio % (m/m) 6,2 11,35 5,7
Azoto % (m/m) <0,84(LQ) <1,70(LQ) <1,11(LQ)
Enxofre EN 15408:2011
ASTM D 5291-10* % (m/m) <0,07(LQ) 0,52 1,3
PCS (V,tq)* (V,s) EN 15400:2011 ASTM D 240-09*
J/g 22390 33690 28480
PCI (P,tq)* (V,s) J/g 21110 31280 27310
Como se pode verificar pela Tabela 4.1, o resíduo apresenta propriedades similares à
biomassa que lhe deu origem em termos de CHN e teor de cinzas, indicando que pode ainda ser
liquefeito mediante, talvez, de outro tipo de condições operatórias.
A caracterização do liquefeito foi obtida nas condições apresentadas na Figura 4.3
referente ao rendimento de 64%, sendo de realçar o seu baixo teor de água, contribuindo desta
forma para um aumento do conteúdo energético face ao material de origem.
*Utilizado para caracterização do liquefeito. Todos os ensaios estão fora do âmbito de acreditação.
(V,tq) – A volume constante e base tal e qual (P,tq) – A pressão constante e base tal e qual (V,s) - A volume constante e base seca (s) – Base seca (LQ) – Limite de quantificação

61
Tanto o liquefeito como o resíduo apresentam teores de enxofre superiores à biomassa.
Este facto está diretamente relacionado com a utilização no meio reacional de um catalisador
que tem enxofre na sua constituição. Nos ensaios realizados com Al2(SO4)3 também é de esperar
um incremento desta propriedade.
Foram efetuadas outras caracterizações para outro tipo de liquefeitos tais como de
biomassa de desmatamento, grits, dregs, modificando diversas variáveis operatórias,
encontrando-se os seus resultados no capítulo Anexos, na Tabela 7.4. Foi também caracterizado
os resíduos destes liquefeitos, contudo não foi possível obter os seus resultados em tempo útil
de entrega desta tese.

62
5. Conclusões
O objetivo deste trabalho consistiu na otimização e valorização de um biocombustível
produzido numa instalação piloto semi-industrial através da liquefação de resíduos, instalação
essa desenvolvida no âmbito do projeto Energreen.
Em virtude desta instalação piloto se encontrar parada há alguns meses não foi possível
efetuar melhorias ao seu funcionamento, estando previstas, neste período de inatividade,
diversas intervenções de forma a melhorar a qualidade do bio-óleo produzido, tornando-o menos
espesso, viscoso e com menor teor de sólidos que permita, entre outros, menos problemas de
entupimento, bombeamento e colmatação do filtro de partículas. De entre as alterações
salientam-se a mudança de agitador (helicoidal), aumento de potência de agitação e a disposição
das serpentinas no reator, sendo que irão ser feitos ensaios a breve prazo para avaliar o impacto
destas alterações, nomeadamente na qualidade do bio-óleo final.
Um dos aspetos pouco abordados no decurso deste projeto foi o licenciamento do bio-
óleo produzido, o que tornou impossível de poder ser testado e utilizado na linha industrial de
produção de clínquer branco, acabando por desvalorizar o produto. Em virtude deste facto, foi
feita uma análise da viabilidade de enquadramento normativo do bio-óleo noutros tipos de
combustíveis existentes no mercado, tendo sido comparadas as diversas especificações de entre
todos os combustíveis considerados.
A grande dificuldade em enquadrar o bio-óleo encontra-se deste não se englobar em
nenhum ponto da pauta aduaneira nem do Decreto-Lei nº 142-2010. Em termos de propriedades
físico-químicas, verifica-se que as principais limitações ao enquadramento normativo do bio-óleo
são parâmetros como a composição e o aspeto, presentes na maioria das normas analisadas.
Isto deve-se principalmente ao tipo de aplicação a que se destinam a maioria dos combustíveis,
sendo que, para aplicações similares (queima em fornos industriais) foram encontradas normas
que não apresentam qualquer parâmetro que seja um impedimento imediato ao enquadramento
como é o caso do fuelóleo (DL Nº142/2010) e do bio-óleo de pirólise (ASTM D 7544),
considerando-se estas como as principais alternativas à adequação do bio-óleo como
combustível.
Com o intuito de efetuar análises ao bio-óleo, foi feito um guia de caracterização para
todas as propriedades físicas requeridas pelas normas de enquadramento escolhidas, avaliando
a possibilidade de serem efetuados ensaios no LQLO a fim de minimizar custos. No caso da
norma ASTM D 7544, os ensaios de poder calorífico e teor de água podem ser realizados no
LQLO, sendo que a análise de propriedades como a densidade, viscosidade, teor de cinzas,
sólidos e pH pode ser feita sem grandes dificuldades (equipamento fácil de obter e/ou execução
simples), tendo como única desvantagem estes ensaios não poderem ser acreditados.
Propriedades que requerem equipamento mais especializado como a determinação do ponto de
inflamação, ponto de escoamento e teor de enxofre é aconselhável efetuar em laboratório
externo. De realçar que, em virtude das distintas condições de produção (como diferentes
biomassas), irão ser obtidos bio-óleos com diferentes propriedades, sendo que a realização de

63
um bom pré-tratamento (homogeneização e amostragem) antes de serem feitos os ensaios é
muito importante de forma a reduzir eventuais erros de análise.
Para a realização do enquadramento normativo é necessário cumprir com os limites de
especificação dos parâmetros requeridos pelas normas, recorrendo por isso a métodos de
ensaio. Para fins de legalização do bio-óleo, estes métodos de ensaio têm de ser realizados em
entidades competentes para os efetuar (entidades acreditadas), tendo sido feita uma pesquisa a
nível nacional com o intuito de averiguar a disponibilidade das diversas entidades laboratoriais
acreditadas de efetuarem os métodos de ensaio requeridos pelas normas ASTM D 7544 e
fuelóleo (DL Nº142/2010).
Em relação à norma ASTM D 7544 não existe em Portugal nenhuma entidade acreditada
que realize o ensaio relativamente à determinação do teor de sólidos suspensos, sendo explicado
pelo facto do seu método de ensaio ter sido exclusivamente elaborado para esta norma que,
tratando-se de uma norma americana e relativamente recente, ainda não existe uma norma
equivalente europeia, estando previsto para 2017 o aparecimento do primeiro documento
normativo europeu. As especificações relativas ao fuelóleo podem ser todas obtidas em diversas
entidades espalhadas pelo país, sendo que a única que realiza na totalidade todos os ensaios
acreditados é a Petrogal nos seus laboratórios Galp de Lubrificantes e da refinaria de Sines.
Posto isto, neste momento o fuelóleo é o único combustível adequado para o qual se pode
efetuar um enquadramento acreditado a nível nacional, tendo em vista a legalização do bio-óleo
como combustível.
Foram efetuados em laboratório externo algumas análises a bio-óleo obtido a partir de
cortiça e de CDR com vista ao seu enquadramento nas normas EN 590 (gasóleo), EN 14214
(FAME) e Decreto-Lei Nº142/2010 (fuelóleo nº4 BTE). Tal como previsto anteriormente, foi
verificado um melhor enquadramento dos bio-óleos na norma do fuelóleo nº4 BTE (menos
parâmetros fora de especificação face às outras normas analisadas) e, mesmo que ainda não
cumpra com alguns parâmetros como teor de água, cinzas e sedimento total, é de esperar que
estes parâmetros se possam enquadrar futuramente em virtude das várias alterações feitas na
instalação piloto semi-industrial.
Como alternativa ao enquadramento normativo do bio-óleo existe o modelo de economia
circular. Trata-se de um modelo de desenvolvimento económico bastante ambicioso, mas que
para ser implementado de forma eficiente são necessárias diversas mudanças ao nível de vários
setores das sociedades, sendo que pode servir de incentivo o facto de a CE ter adotado
recentemente um pacote de medidas para estimular a Europa para uma economia circular. Este
tipo de incentivos pode ajudar num futuro próximo produtos inovadores produzidos a partir de
resíduos de outras indústrias (como o bio-óleo) de entrar mais facilmente no mercado como
novos produtos, não necessitando assim de qualquer tipo de enquadramento normativo.
Foi efetuada uma operação de montagem laboratorial de liquefação, tendo sido
efetuados diversos ensaios com o objetivo de servir de apoio às atividades de arranque e
otimização do processo industrial. Em termos de influência das condições operatórias do

64
processo de liquefação conclui-se que biomassas como a estilha de pinho que estejam secas,
pouco moídas e se forem submetidas a 30 minutos de swelling a quente favorece o rendimento
da liquefação. A conjugação de todas estas condições resultou nos melhores rendimentos
registados, sendo de 72% utilizando a proporção 1:3 entre DEG e 2EH, e de 70% usando a
proporção inversa.
Para além da estilha de pinho, utilizou-se outros tipos de resíduos tais como dregs e grits
provenientes da indústria da pasta e do papel (Portucel), apresentando rendimentos muito
reduzidos (entre 7 e 12%). Estas baixas conversões são justificadas pelo facto deste tipo de
resíduos apresentarem baixos teores de matéria orgânica. O último tipo de biomassa testado foi
a de desmatação, proveniente da vegetação em redor da pedreira de Pataias, apresentando
rendimentos mais baixos face à estilha de pinho, o que pode ser explicado pela sua maior
composição em termos de lenhina, necessitando, pelo menos, de temperaturas mais elevadas
para provocar a sua liquefação.
Por último, foi efetuado um tratamento pioneiro com uma solução de Al2(SO4)3, tendo
sido verificados melhores rendimentos nos ensaios onde a biomassa se encontra húmida, sendo
de salientar o rendimento obtido com a biomassa de desmatamento (55%), que foi o melhor
obtido para este tipo de biomassa. Este facto demonstra o porquê deste composto ter sido
proposto para este processo, pois atua como absorvente de humidade, podendo simular em
parte as condições de swelling, facilitando desta forma todo o restante processo reacional. Foi
testada também a sua capacidade como catalisador, nomeadamente do alumínio, utilizando
biomassa seca e diferentes tempos de reação, tendo sido obtido o melhor rendimento para 30
minutos de reação (63%).
Trabalho Futuro
Existem diversos caminhos e aspetos que podem ser melhorados de forma a maximizar
todo o potencial da instalação piloto semi-industrial, nomeadamente:
Dar início aos ensaios na instalação piloto semi-industrial, fazendo a otimização in situ.
Aquisição de equipamento laboratorial com vista à melhoria dos rendimentos.
Explorar a utilização do Al2(SO4)3 não só como agente de secagem, mas também como
catalisador.
Fazer o scale-up a nível laboratorial para assemelhar às condições industriais
Fazer o enquadramento do bio-óleo industrial na norma ASTM D 7544-12.
Upgrade da instalação piloto semi-industrial, que permita a extração de compostos do
bio-óleo com valor acrescentado – Projeto AlfaGreen.
Mesmo fazendo todas as otimizações possíveis, é fulcral para melhorar o licenciamento
que o CEN elabore ou modifique alguma norma para que inclua o bio-óleo de liquefação como
biocombustível a ser utilizado para queima, tal como acontece com o bio-óleo de pirólise.

65
6. Bibliografia
[1] - Behrendt F, Neubauer Y, Oevermann M, Wilmes B, Zobel N. Direct liquefaction of biomass.
Chem Eng Technol. 2008;31(5):667-677. doi:10.1002/ceat.200800077.
[2] - Brás AM, Miranda F, Hipólito L, Dias LS. Biomassa e produção de energia. Terra.
2006;(Direcção Regional de Agricultura de Entre o Douro e Minho):23-30.
[3] - Octave, S.; Thomas, D. 2009. Biorefinery: Toward an industrial metabolism. Biochimie 91,
659–664.
[4] - IEA. Energy and Climate Change 2015, France. Int Energy Agency. 2013:551 pp.
doi:10.1787/20725302.
[5] - Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009.
[6] - Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013 PARTE II - Estratégia para as Energias
Renováveis - PNAER 2020 - Diário da República, 1.ª série — N.º 70 — 10 de abril de 2013.
[7] - DGEG, D. G. d. E. e. G. -., 2016. Renováveis - estatísticas rápidas.
[8] - Diretiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro de 2001.
[9] - Schlosser S, Blahusiak M. Biorefinery for production of chemicals, energy and fuels.
Elektroenergetika. 2011;4(2):8-15.
[10] - Basu P. Biomass Gasification and Pyrolysis: Practical Design and Theory.; 2010.
[11] - Bridgwater T. Journal of the Science of Food and Agriculture. Biomass for energy.
2006;87(6):1132-1139. doi:10.1002/jsfa.
[12] - Zhang L, Xu C (Charles), Champagne P. Overview of recent advances in thermo-chemical
conversion of biomass. Energy Convers Manag. 2010;51(5):969-982.
doi:10.1016/j.enconman.2009.11.038.
[13] - Huber G, Iborra S, Corma A. Synthesis of transportation fuels from biomass: chemistry,
catalysts, and engineering. Chem Rev. 2006;2:4044-4098. doi:10.1021/cr068360d.

66
[14] - a.V. Bridgwater. Renewable fuels and chemicals by thermal processing of biomass. Chem
Eng J. 2003;91(2-3):87-102. doi:10.1016/S1385-8947(02)00142-0.
[15] - Brown RC. Thermochemical Processing of Biomass. (Brown RC, ed.). Wiley; 2011.
doi:10.1002/9781119990840.
[16] - Strezov V, Evans TJ. Biomass Processing Technologies.; 2015.
[17] - a.V. Bridgwater, Meier D, Radlein D. An overview of fast pyrolysis of biomass. Org
Geochem. 1999;30(12):1479-1493. doi:10.1016/S0146-6380(99)00120-5.
[18] - Demirbas, A. 2000. Mechanisms of liquefaction and pyrolysis reactions of biomass. Energy
Convers Manage 41:633-646.
[19] - Stöcker M. RECENT ADVANCES IN THERMOCHEMICAL CONVERSION OF BIOMASS.;
2015. doi:10.1016/j.enconman.2009.11.038.
[20] - E. Chornet, R. P. Overend, Biomass Liquefaction: An Overview, in Fundamentals of
thermochemical biomass conversion, Elsevier,London 1985.
[21] - Pan, H., 2011. Synthesis of polymers from organic solvent liquefied biomass: A review.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, pp. 3454-3463, Volume 15.
[22] - Briones R, Serrano L, Llano-Ponte R, Labidi J. Polyols obtained from solvolysis liquefaction
of biodiesel production solid residues. Chem Eng J. 2011;175(1):169-175.
doi:10.1016/j.cej.2011.09.090.
[23] - Toor SS, Rosendahl L, Rudolf A. Hydrothermal liquefaction of biomass: A review of
subcritical water technologies. Energy.2011;36(5):2328-2342. doi:10.1016/j.energy.2011.03.013.
[24] - Huang H, Yuan X. Recent progress in the direct liquefaction of typical biomass. Prog Energy
Combust Sci. 2015;49:59-80. doi:10.1016/j.pecs.2015.01.003.
[25] - Zhong, C. & Wei, X., (2004). A comparative experimental study on the liquefaction of
wood. 29: 1731 -1741.
[26] - Yin, S. D., R. Dolan et al. (2010). Subcritical hydrothermal liquefaction of cattle manure to
bio-oil: Effects of conversion parameters on bio-oil yield and characterization of bio-oil.
Bioresource Technology 101(10): 3657–3664.

67
[27] - Biller, P. and A. B. Ross (2011). Potential yields and properties of oil from the hydrothermal
liquefaction of microalgae with different biochemical content. Bioresource Technology 102(1):
215–225.
[28] - Vardon, D. R., B. K. Sharma et al. (2011). Chemical properties of biocrude oil from the
hydrothermal liquefaction of Spirulina algae, swine manure, and digested anaerobic sludge.
Bioresource Technology 102(17): 8295–8303.
[29] - Zou, X. et al.,(2009). Mechanisms and Main Regularities of Biomass Liquefaction with
Alcoholic Solvents. Energy & Fuels, 23: 5213-5218.
[30] - Balat, M., (2008). Mechanisms of Thermochemical Biomass Conversion Processes. Part
3:Reactions of Liquefaction. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and
Environmental Effects, 30: 649-659.
[31] - Kržan, A., Kunaver, M. & Tišler, V., (2005). Wood liquefaction using dibasic organic acids
and glycols. Acta Chimica Slovenica, 52: 253-258.
[32] - Zhang, H. et al., (2011). Investigation of Liquefied Wood Residues Based on Cellulose ,
Hemicellulose and Lignin. Journal of Applied Polymer Science, 123: 850-856.
[33] - Pavlovic, I., Z. Knez et al. (2013). Hydrothermal reactions of agricultural and food processing
wastes in sub- and supercritical water: A review of fundamentals, mechanisms, and state of
research. Journal of Agricultural and Food Chemistry 61(34): 8003–8025.
[34] - Araya, P.E., Droguett, S. E. Neuberg, H.J. and Badilla-Ohlbaum, R., Catalytic wood
liquefaction using a hydrogen donor solvent, Can. J. Chem. Eng., 1986, 64(5), 775-80.
[35] - Hu, S., Wan, C. & Li, Y., (2012). Production and characterization of biopolyols and
polyurethane foams from crude glycerol based liquefaction of soybean straw. Bioresource
Technology, 103: 227-233.
[36] - Akhtar, J. and N. A. S. Amin (2011). A review on process conditions for optimum bio-oil
yield in hydrothermal liquefaction of biomass. Renewable & Sustainable Energy Reviews 15(3):
1615–1624.
[37] - Kunaver M., Čuk N., Jasiukaityte E., KovaČ F., Opresnik S., KatraŠnik S., (2012) Cellulose
treatment by using a mixture containing glycole, glycerole and p-toluene sulfonic acid.
WO 2012150043.

68
[38] - Seljak T, Rodman Oprešnik S, Kunaver M, Katrašnik T. Wood, liquefied in polyhydroxy
alcohols as a fuel for gas turbines. Appl Energy. 2012;99:40-49.
doi:10.1016/j.apenergy.2012.04.043.
[39] - Demirbas A. Competitive liquid biofuels from biomass. Appl Energy. 2011;88(1):17-28.
doi:10.1016/j.apenergy.2010.07.016.
[40] - Zhang B, Von Keitz M, Valentas K. Thermal effects on hydrothermal biomass liquefaction.
Appl Biochem Biotechnol. 2008;147(May 2007):143-150. doi:10.1007/s12010-008-8131-5.
[41] - The Pembina Institute and Environmental Defence, Alternative Fuel Use in Cement
Manufacturing: Implications, opportunities and barriers in Ontario (Pembina Institute, 2014).
[42] - Initiative, C.S., Cement industry energy and CO2 performance: getting the numbers right.
2009, Geneva: World Business Council for Sustainable Development.
[43] - Cement Sustainability Initiative, Guidelines for the Selection and Use of Fuels and Raw
Materials in the Cement Manufacturing Process (World Business Council for Sustainable
Development, 2005).
[44] - Directorate General Environment, Refuse Derived Fuel, Current Practice and Perspectives
(European Comission, 2003).
[45] - GTZ–Holcim Public Private Partnership, Guidelines on Co-Processing Waste Materials in
Cement Production (2006).
[46] - Procedimento Para Acreditação de Laboratórios (Instituto Português de Acreditação -
IPAC) - DRC005, 2012-04-10.
[47] - Peacocke, G. V. C.; Meier, D.; Gust, S.; Webster, A.; Oasmaa, A.; McLellan, R.
Determination of norms and standards for biomass derived fast pyrolysis biooils. EU Contract No.
4.1030/C/00-015/2000, Final report, 2003.
[48] - Nadkarni, R. A. K. (2000). Guide to ASTM Test Methods for the Analysis of Petroleum
Products and Lubricants. doi:10.1520/MNL44-EB.
[49] - http://www.cencenelec.eu/standards/DefEN/Pages/default.aspx, consultado pela última
vez no dia 2 de Julho de 2016.

69
[50] - Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October
2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and
Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC,
2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing
Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of
the Council.
[51] - Tourism and standards, mimmo Squillance, Digital Venice 9 July 2014.
[52] - Martinez, I. (2015). Fuel Properties. [online] Disponível em :
http://webserver.dmt.upm.es/~isidoro/bk3/c15/Fuel%20properties.pdf, consultado pela última
vez no dia 2 de Julho de 2016.
[53] - Ribeiro F. Slides de Refinação de Petróleos e Petroquímica, 2015.
[54] - Decreto-Lei n.º 142/2010, de 31 de Dezembro.
[55] – Williams. D.A. and Jones, J., Liquid Fuels, Pergamon Press, 1963.
[56] – Gás Liquefeito de Petróleo – Informações Técnicas. [online] Disponível em:
http://sites.petrobras.com.br/minisite/assistenciatecnica/public/downloads/manual-tecnico-gas-
liquefeito-petrobras-assistencia-tecnica-petrobras.pdf, consultado pela última vez no dia 2 de
Julho de 2016.
[57] - Decreto-Lei n° 89/2008 de 30 de Maio.
[58] - Groysman A. Corrosion in Systems for Storage and Transportation of Petroleum Products
and Biofuels Identification, Monitoring and Solutions, DOI 10.1007/978-94-007-7884-9 Springer
Dordrecht Heidelberg, New York, 2014.
[59] - Martinez, I. (2015). Fuels . [online]. Disponível em: http://webserver.dmt.upm.es/~isidoro/
bk3/c15/Fuels.pdf, consultado pela última vez no dia 2 de Julho de 2016.
[60] - http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/Produtos/Paginas/Petroleos.aspx,
consultado pela última vez no dia 2 de Julho de 2016.
[61] - http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/Produtos/Paginas/Gasoleo-aqueciment
o.aspx, consultado pela última vez no dia 2 de Julho de 2016.

70
[62] - http://www.bp.com/pt_pt/portugal/produtoseservicos/comerciacombustiveisliquidos/
gasoleoaquecimento.html, consultado pela última vez no dia 2 de Julho de 2016.
[63] - http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/Servicos/EntregaGasoleoAquecimento
Colorido/Paginas/Produtos.aspx, consultado pela última vez no dia 2 de Julho de 2016.
[64] - http://www.bp.com/pt_pt/portugal/produtoseservicos/comerciacombustiveisliquidos/
combustiveisempresa.html, consultado pela última vez no dia 2 de Julho de 2016.
[65] - http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/Produtos/FueloleosIndustriais/ Paginas/
FueloleosIndustriais.aspx, consultado pela última vez no dia 2 de Julho de 2016.
[66] – ASTM D 2880. 2015. Standard Specification for Gas Turbine Fuel Oils. Easton, MD:
American Society for Testing and Materials.
[67] – ISO 8217. 2012. Petroleum products — Fuels (class F) — Specifications of marine fuels.
Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization.
[68] - http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/Produtos/Paginas/Combustiveis
Aviacao.aspx, consultado pela última vez no dia 2 de Julho de 2016.
[69] - http://www.jigonline.com/, consultado pela última vez no dia 2 de Julho de 2016.
[70] - JIG, Joint Inspection Group, (Março 2015) Bulletin No. 76, “Aviation Fuel Quality
Requirements for Jointly Operated Systems, (AFQRJOS),” p. 1-7, Joint Inspection Group. 2015.
[71] - Baskar, C., Baskar, S., Dhillion, R.s. Biomass Conversion: The Interface of Biotechnology,
Chemistry and Materials Science. Springer, Berlin. 2012.
[72] - EN 14214. 2012. Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in
diesel engines and heating applications - Requirements and test methods
[73] - http://www.innovhub-ssi.it/c/document_library/get_file?uuid=ea339c44-8774-4140-b8d6-
bd4996ef255c&groupId=11648, consultado pela última vez no dia 2 de Julho de 2016.
[74] - EN 15376. 2014. Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol -
Requirements and test methods.

71
[75] - Blin, J., et al., Characteristics of vegetable oils for use as fuel in stationary diesel engines -
Towards specifications for a standard in West Africa. Renewable and Sustainable Energy
Reviews, 2013.
[76] - DIN 51605. 2010. Fuels for vegetable oil compatible combustion engines - Fuel from
rapeseed oil - Requirements and test methods.
[77] - Oasmaa A, B van de Beld, P Saari, DC Elliott, and Y Solantausta. 2015. "Norms, Standards,
and Legislation for Fast Pyrolysis Bio-oils from Lignocellulosic Biomass." Energy and Fuels 29
(4):2471-2484.
[78] - Oasmaa, A. & Meier, D. 2005. Norms and standards for fast pyrolysis liquids 1. Round robin
test. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Vol. 73, 2, pp. 323–334.
doi:10.1016/j.jaap.2005.03.003.
[79] - ASTM D 7544. 2012. Standard Specification for Pyrolysis Liquid Biofuel. Easton, MD:
American Society for Testing and Materials.
[80] - Oasmaa, A.; Elliott, D. C.; Muller, S. Quality Control in Fast Pyrolysis Bio-Oil Production and
Use. Environ. Progress Sustainable Energy 2009, 28 (3), 404−409.
[81] - http://www.lin-tech.ch/pdf/mb206000eng.pdf, consultado pela última vez no dia 13 de Julho
de 2016.
[82] - http://www.kyoto-kem.com/en/pdf/industry/Petroleum/EKVX-01521.pdf, consultado pela
última vez no dia 13 de Julho de 2016.
[83] - http://www.standard.no/en/webshop/productcatalog/productpresentation/?ProductID=297
467, consultado pela última vez no dia 13 de Julho de 2016.
[84] - J. Akhtar and N. Saidina Amin, “A review on process conditions for optimum bio-oil yield in
hydrothermal liquefaction of biomass,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 16, no. 7, pp. 5101–
5109, 2012.
[85] - S. Xiu and A. Shahbazi, “Bio-oil production and upgrading research: A review,” Renew.
Sustain. Energy Rev., vol. 16, no. 7, pp. 4406–4414, 2012.
[86] - Oasmaa, A., & Peacocke, C. (2010). Properties and Fuel Use of Biomass Derived Fast
Pyrolysis Liquids; VTT Publications: Finland, Vol 731, 2010, p.79.

72
[87] – ASTM D 240. 2014. Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon
Fuels by Bomb Calorimeter. Easton, MD: American Society for Testing and Materials.
[88] – http://www.secil.pt/pdf/LabCQ_TabServ.pdf, consultado pela última vez no dia 2 de Julho
de 2016.
[89] – ASTM E 203. 2008. Standard Test Method for Water Using Volumetric Karl Fischer
Titration. Easton, MD: American Society for Testing and Materials.
[90] – ASTM D 7579. 2013. Standard Test Method for Pyrolysis Solids Content in Pyrolysis Liquids
by Filtration of Solids in Methanol. Easton, MD: American Society for Testing and Materials.
[91] – Oasmaa, A., & Peacocke, C. (2001). A guide to physical property characterisation of
biomass-derived fast pyrolysis bio-oils; VTT Publication 450; VTT: Espoo, Finland, 65 pp 1 app.
(34 pp).
[92] – ASTM D 445. 2015. Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and
Opaque Liquids (and the calculation of Dynamic Viscosity). Easton, MD: American Society for
Testing and Materials.
[93] – ASTM D 4052. 2015. Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by
Digital Density Meter. Easton, MD: American Society for Testing and Materials.
[94] – ASTM D 4294. 2016. Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Energy-
Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry. Easton, MD: American Society for Testing and
Materials.
[95] – ASTM D 482. 2013. Standard Test Method for Ash from Petroleum Products. Easton, MD:
American Society for Testing and Materials.
[96] – ASTM E 70-07. 2015. Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions With the Glass
Electrode. Easton, MD: American Society for Testing and Materials.
[97] – ASTM D 93. 2015. Standard Test Method for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup
Tester. Easton, MD: American Society for Testing and Materials.
[98] – ASTM D 97. 2016. Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products. Easton,
MD: American Society for Testing and Materials.

73
[99] – ASTM D 2622. 2016. Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Wavelength
Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry. Easton, MD: American Society for Testing and
Materials.
[100] - ASTM D 95. 2013. Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous
Materials by Distillation. Easton, MD: American Society for Testing and Materials.
[101] – ISO 10307-1. 2013. Petroleum products – Total sediment in residual fuel oils – Part 1:
Determination by hot filtration. Geneva, Switzerland: International Organization for
Standardization.
[102] – http://www.ipac.pt, consultado pela última vez no dia 3 de Julho de 2016.
[103] – http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_pt.htm, consultado pela última vez
no dia 3 de Julho de 2016.
[104] – http://www.lipor.pt/pt/residuos-conceitos-fundamentais/economia-circular-conceito-e-
beneficio/, consultado pela última vez no dia 3 de Julho de 2016.
[105] – Alcoforado, F. (2015) A Economia Circular Para Evitar a Exaustão dos Recursos Naturais
do Planeta Terra, 2005, [online] Disponível em: http://www.academia.edu/12454308/
A_ECONOMIA_CIRCULAR_PARA_EVITAR_A_EXAUST%C3%83O_DOS_RECURSOS_NAT
URAIS_DO_PLANETA_TERRA, consultado pela última vez no dia 3 de Julho de 2016.
[106] – Burton, Philip Joseph. Towards Sustainable Management of the Boreal Forest. Council
Canada, W. L. Adamowicz. 2003 ISBN: 0660187620.
[107] – Matos, Fátima. Valorização de dregs – Incorporação em cimento Portland. Curso de
Formação Especializada em Gestão ambiental, Materiais e Valorização de Resíduos.
Universidade de Aveiro. 2004.
[108] – CMP e IST. Projeto em Co-promoção (ENERGREEN) – Relatório Técnico Final. Setembro
de 2015.

74
7. Anexos
Normas de Combustíveis Fósseis
Tabela 7.1 - Norma nacional de especificação do GPL.54
Propriedade Unidade
Gases de Petróleo Liquefeitos Métodos de Ensaio
Propano Butano
Massa Volúmica a 15ºC kg/m3 A relatar A relatar EN ISO 3993 / 8973
Composição: C2 C3 C4 C5
Insaturados Totais Dienos Totais (incluindo
1,3-butadieno
% (molar)
5 máx. 92min. 5 máx.
0,1 máx. 25máx. 0,5 máx
- 15 máx. 85 min. 3 máx. 25 máx. 0,5 máx.
EN 27941 / ISO 7941
Resíduo de Evaporação % (v/v) 0,05 máx 0,05 máx. ASTM D 2158
Tensão de Vapor a 40ºC
kPa 1550 máx 520 máx EN ISO 426 / 8973 / anexo C da EN 589
Sulfureto de Hidrogénio - Negativo Negativo EN ISO 8819
Enxofre de Mercaptanos
ou Etilmercaptano
mg/kg
ppm
6 min.
12 min.
6 min.
12min.
NP 4188 / IP 272
ASTM D 5305
Teor de Enxofre Total (após odorização)
mg/kg 50 máx. 50 máx. EN 24260 /
ASTM D 6667 / ASTM D 3246
Corrosão da Lâmina de Cobre (1h a 40ºC)
Classificação Classe 1 Classe 1 EN ISO 6251
Amoníaco ppmv 1 máx. 1 máx. Tubos de absorção
Água Separada ou em Suspensão
- Isento Isento Inspeção visual
Água Dissolvida - Passa no
ensaio Não
aplicável ASTM D 2713

75
Tabela 7.2 - Norma nacional de especificação do GPL carburante.54
Propriedade Unidade Limites
Métodos de Ensaio Mínimo Máximo
Índice de Octano «Motor» (MON)
- 89,0 - EN 589, anexo B
Insaturados Totais Dienos Totais (incluindo
1,3-butadieno) % (molar)
- -
25 0,5 EN 27941 / ISO 7941
Resíduo de Evaporação mg/kg - 60 EN 15470 / EN 15471
Tensão de Vapor Relativa a 40ºC
kPa 1550 EN ISO 426 / 8973 / Anexo C da EN 589
Sulfureto de Hidrogénio - Negativo EN ISO 8819
Enxofre de Mercaptanos
ou Etilmercaptano
mg/kg
ppm
6
12
- -
NP 4188 / IP 272
ASTM D 5305
Teor de Enxofre Total (após odorização)
mg/kg - 50 EN 24260 / ASTM D 6667/
ASTM D 3246
Corrosão da Lâmina de Cobre (1h a 40ºC)
Classificação Classe 1 EN ISO 6251
Amoníaco ppmv - 1 Tubos de absorção
Água Separada ou em Suspensão
- Isento Inspeção visual
Água Dissolvida - Passa no ensaio ASTM D 2713

76
Tabela 7.3 - Norma nacional de especificação das gasolinas.54
Propriedade Unidade
Euro super Super plus Métodos de
Ensaio Limites Mínimo Máximo
Limites Mínimo Máximo
Aspeto - Claro e límpido Claro e límpido Inspeção visual
Cor - Violeta Azul Inspeção visual
Massa Volúmica a
15 °C kg/m3 720 775 720 775
EN ISO 3675 / 12185
RON, min - 95 - 98 - EN ISO 5164
MON, min - 85 - 87 - EN ISO 5163 Tensão de
vapor: - de 1 de Maio a 30 de Setembro - meses de Outubro e Abril - de 1 de Novembro a 31 de Março
kPa
45,0
45,0
60,0
60,0
90,0
90,0
45,0
45,0
60,0
60,0
90,0
90,0
EN 13016-1
Destilação: - Evaporado a 70ºC - de 1 de Maio a 30 de Setembro - Meses de Outubro e Abril - de 1 de Novembro a 31 de Março - Evaporado a 100ºC - Evaporado a 150ºC - Ponto Final - Resíduo
% (v/v)
% (v/v)
% (v/v)
% (v/v)
% (v/v)
% (v/v)
°C % (v/v)
20,0
20,0
22,0
46,0
75,0 - -
48,0
50,0
50,0
71,0 -
210 2
20,0
20,0
22,0
46,0
75,0 - -
48,0
50,0
50,0
71,0 -
210 2
EN ISO 3405
Análise de Hidrocarbonetos: - Olefinas - Aromáticos - Benzeno
% (v/v) % (v/v) % (v/v)
- - -
18,0 35,0 1,0
- - -
18,0 35,0 1,0
EN ISO 22854 / EN 15553 /
14517
EN 12177 / 238
/ 14517 / EN ISO 22854
Teor de
Oxigénio
% (m/m) - 2,7 - 3,7
EN 1601 /
13132 / 14517 /
EN ISO 22854

77
Propriedade Unidade
Euro super Super plus Métodos de
Ensaio Limites
Mínimo Máximo Limites
Mínimo Máximo
Compostos Oxigenados: -Metanol, devem ser adicionados agentes estabilizadores - Etanol, podem ser necessários agentes estabilizadores - Álcool isopropílico - Álcool Terbutílico - Álcool Isobutílico - Éteres com 5 ou mais átomos de Carbono por molécula Outros Compostos Oxigenados
% (v/v)
% (v/v)
% (v/v)
% (v/v)
% (v/v)
% (v/v)
% (v/v)
- - - - - - -
3,0
5,0
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0
- - - - - - -
3,0
5,0
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0
EN 1601 / 13132 / 14517 / EN ISO 22854
Teor de Enxofre
mg/kg - 10,0 - 10,0 EN ISO 20846 /
20884
Teor de Chumbo
g/l - 0,005 - 0,005 EN 237
Estabilidade à Oxidação
min 360 - 360 - EN ISO 7536
Gomas Existentes
(lavadas com solvente)
mg/100ml - 5 - 5 EN ISO 6246
Corrosão da Lâmina de
Cobre (3h a 50ºC)
Classificação Classe 1 Classe 1 EN ISO 2160

78
Tabela 7.4 - Norma nacional de especificação dos petróleos.54
Propriedade Unidade Petróleos
Métodos de Ensaio Iluminação Carburante
Aspeto - Límpido, isento de água
separada e de matérias em suspensão
Visual
Massa Volúmica a 15ºC kg/m3 A relatar A relatar EN ISO 3675 /
12185 / ASTM D 4052
Ponto de Inflamação, min. °C 40 30 ASTM D 3828 / EN
ISO 13736 / IP 170
Corrosão da Lâmina de Cobre (3h a 50ºC)
Classificação Classe 1 Classe 11 EN ISO 2160 / ASTM D 130
Teor de Enxofre, máx. % (m/m) 0,15 0,15 EN ISO 8754 / ASTM D 2622
Destilação: Evaporado a 150ºC, máx. Evaporado a 250ºC, min. Evaporado a 280ºC, min.
Ponto Final, máx.
% (v/v) % (v/v) % (v/v)
°C
10 -
90 300
10 90 -
300
EN ISO 3405 / ASTM D 86
Ponto de Fumo, min. - 25 - ISO 3014 /
ASTM D 1322
Índice de Octano (MON), min.
- - 50 EN ISO 5163
Corante e Marcador
Nº 3 da Portaria nᵒ 1509/2002, de 17 de Dezembro, com a redação dada pela Portaria nº 463/2004, 4 de Maio, que
considera a Decisão nº 2003/900/CE, de 17 de Dezembro, substituída pela Decisão 2006/428/CE.

79
Tabela 7.5 - Norma nacional de especificação dos gasóleos.54
Propriedade Unidade Limites Métodos de
Ensaio Mínimo Máximo
Índice de Cetano - 51,0 - EN ISO 5165 /
EN 15195
Índice de Cetano Calculado - 46,0 - EN ISO 4264
Massa Volúmica a 15ºC kg/m3 820,0 845,0 EN ISO 3675 / EN ISO 12185
Viscosidade a 40ºC mm2/s 2,0 4,50 EN ISO 3104
Destilação: - Recuperado a 250ºC - Recuperado a 350ºC - 95% de Recuperado
% (v/v) % (v/v)
°C
-
85 -
65 -
360,0
EN ISO 3405
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos
% (m/m) - 8,0 EN 12916
Teor de enxofre mg/kg - 10,0 EN ISO 20846 /
20884 Temperatura Limite de Filtrabilidade
De 1 de Abril a 14 de Outubro De 1 de Março a 31 de Março e de 15 de Outubro a 30 de Novembro
De 1 de Dezembro a 28/29 de Fevereiro
°C °C
°C
- - -
0 -5
-10
EN 116
Ponto de Inflamação °C 55 - EN ISO 2719
Resíduo Carbonoso (no resíduo 10% da destilação)
% (m/m) - 0,30 EN ISO 10370
Teor de Cinzas % (m/m) - 0,01 EN ISO 6245
Teor de Água mg/kg - 200 EN ISO 12937
Contaminação Total mg/kg - 24 EN 12662
Corrosão da Lâmina de Cobre (3h a 50ºC)
Classificação Classe 1 EN ISO 2160
Estabilidade à Oxidação g/m3
h
- 20
25 -
EN ISO 12205 / EN 15751
Lubrificidade-diâmetro Corrigido da Marca de Desgaste (dmd 1,4) a 60ºC
µm - 460 ISO 12156-1
FAME % (v/v) - 7,0 EN 14078

80
Tabela 7.6 - Norma nacional de especificação do gasóleo de aquecimento.54
Propriedade Unidade Limites
Métodos de Ensaio Mínimo Máximo
Massa Volúmica a 15ºC kg/m3 - 900 ASTM D 4052 / EN ISO 3675 /
12185
Viscosidade a 40ºC mm2/s - 7 ASTM D 445 / EN ISO 3104
Destilação: 65% em volume 85% em volume 95% em volume
°C
250
- A relatar
- -
A relatar
ASTM D 86 / EN ISO 3405
Teor de Enxofre % (m/m) - 0,10 IP 336 / ASTM D
2622 / EN ISO 8754
Temperatura Limite de Filtrabilidade
°C - -6 IP 309 / EN 116
Ponto de Inflamação °C 60 - ASTM D 93 / EN ISO
2719
Ponto de Turvação °C - 4 ASTM D 2500 / 5772
/ 5773 / ISO 3015
Resíduo Carbonoso (no resíduo 10% da destilação)
% (m/m) - 0,35 ASTM D 4530 / EN ISO 10370
Água e Sedimentos % (v/v) - 0,1 ASTM D 2709
Corrosão da Lâmina de Cobre (3h a 50ºC)
Classificação Classe 2 ASTM D 130 / EN ISO 2160
Corante e Marcador
Nº 2 da Portaria nᵒ 1509/2002, de 17 de Dezembro, com a redação dada pela Portaria nᵒ 463/2004, de 4 de Maio,
que considera a Decisão nº 2003/900/CE, de 17 de Dezembro, substituída pela Decisão 2006/428/CE.
Tabela 7.7 – Norma nacional de especificação dos fuelóleos.48,54
Propriedade Unidade
Fuelóleo
Métodos de Ensaio N.º3
N.º4 ATE
N.º4 BTE
Massa Volúmica a 15ºC, máx.
kg/m3 A relatar A relatar A relatar
EN ISO 3675 / 12185 / ASTM D 1298 / IP 160 /
DIN 51757H / JIS K 2249H / AFNOR T60-101
Viscosidade a 100ºC, máx.
mm2/s 17 40 40 EN ISO 3104 / ASTM D 445 /
IP 71-1 / DIN 51562 / JIS K 2283 / AFNOR T60-100
Ponto de Inflamação,
min. °C 60 65 65
EN ISO 2719 / ASTM D 93 / IP 34 / DIN 51758 /
JIS K 2265 / AFNOR M07-019
Teor de Água, máx.
% (v/v) 0,8 1,0 1,0 ISO 3733 / ASTM D 95 / IP 74
/ DIN 51582 / JIS K 2275 / AFNOR T60-113
Sedimento Total, máx.
% (m/m) 0,20 0,25 0,25 ISO 10307-1 / ASTM D 4870 /
IP 375
Teor de Enxofre, máx.
% (m/m) 1,0 3,0 1,0 EN ISO 8754 / ASTM D 2622 / DIN 51400T6 / JIS K 2541
Teor de Cinzas, máx.
% (m/m) 0,15 0,20 0,20 EN ISO 6245 / ASTM D 482 /
IP 4 / JIS K 2272 / AFNOR M07-045

81
Tabela 7.8 - Especificações de combustível para turbinas de gás.66
Propriedade Classe Métodos de
Ensaio Nº 0-GT Nº 1-GT Nº 2-GT Nº 3-GT Nº 4-GT
Ponto de Inflamação
°C, min 38 38 55 66 ASTM D 93
Água e Sedimentos %(v/v), máx
0,05 -
0,05 -
0,05 -
- 1,0
- 1,0
ASTM D 2709 ASTM D 1796
Temperatura de Destilação °C 90% volume recuperado
min máx
- -
-
288
282 338
- -
- -
ASTM D 86
Viscosidade Cinemática
mm2/s A 40ºC min
máx A 100ºC máx
1,3 2,4 -
1,9 4,1 -
5,5 -
50,0
5,5 -
50,0
ASTM D 445
Resíduo de Carbono em 10%
de resíduo de destilação
% (m/m), máx
0,15 0,15 0,35 - - ASTM D 524
Cinzas % (m/m) máx
0,01 0,01 0,01 0,03 - ASTM D 482
Densidade a 15ºC kg/dm3, máx
- 850 876 - - ASTM D 1298
Ponto de Escoamento
°C, máx - -18 -6 - - ASTM D 97
Nº 0-GT – Inclui nafta, Jet B e outros hidrocarbonetos líquidos voláteis.
Nº 1-GT – Destilados Leves, incluindo algumas frações gasosas.
Nº 2-GT – Destilados mais pesados que a classe Nº 1-GT. Similar ao fuelóleo Nº 2.
Nº 3-GT – Combustível residual que tem apresenta requisitos baixos de teor de cinzas.
Nº 4-GT – Similar à classe Nº 3-GT, mas sem restrições de cinzas.

82
Tabela 7.9 – Especificações para combustíveis navais destilados.67
Propriedade Categoria ISO-F- Métodos de
Ensaio DMX DMA DMZ DMB
Viscosidade Cinemática a 40ºC, mm2/s
máx min
5,500 1,400
6,000 2,000
6,000 3,000
11,00 2,000
ISO 3104
Densidade a 15ºC kg/m3, máx
- 890,0 890,0 900,0 ISO 3675 /
12185
Índice de Cetano, min 45 40 40 35 ISO 4264
Enxofre % (m/m), máx
1,00 1,50 1,50 2,00 ISO 8754 /
14596
Ponto de Inflamação °C, min
43,0 60,0 60,0 60,0 ISO 2719
Sulfeto de Hidrogénio mg/kg, máx
2,00 2,00 2,00 2,00 IP 570
Número Ácido mgKOH/g, máx
0,5 0,5 0,5 0,5 ASTM D 664
Sedimento Total por filtração a quente
% (m/m), máx - - - 0,10 ISO 10307-1
Estabilidade Oxidativa g/m3, máx
25 25 25 25 ISO 12205
Resíduo de Carbono: micro método em 10% de
resíduo de destilação % (m/m), máx
0,30 0,30 0,30 - ISO 10370
Resíduo de Carbono: micro método % (m/m), máx
- - - 0,30 ISO 10370
Ponto de Fumo °C máx
-16 - - - ISO 3015
Ponto de Escoamento Qualidade de Inverno,
°C máx Qualidade de Verão,
°C máx
- -
-6 0
-6 0
0 6
ISO 3016
Aparência Claro e brilhante -
Água %(v/v), máx
- - - 0,30 ISO 3733
Cinzas % (m/m) máx
0,010 0,010 0,010 0,010 ISO 6245
Lubricidade, com diâmetro da marca de
desgaste corrigido a 60ºC µm, máx
520 520 520 520 ISO 12156-1

83
Tabela 7.10 – Especificações para combustíveis navais residuais.67
Propriedade Unidade Limite
Categoria ISO-F- Métodos de
Ensaio RMA RMB RMD RME RMG RMK
10 30 80 180 180 380 500 700 380 500 700
Viscosidade Cinemática a 40ºC
mm2/s máx. 10,00 30,00 80,00 180,0 180,0 380,0 500,0 700,0 380,0 500,0 700,0 ISO 3104
Densidade a 15ºC kg/m3 máx. 920,0 960,0 975,0 991,0 991,0 1010,0 ISO 3675 / 12185
CCAI - máx. 850 860 860 860 870 870
Enxofre % (m/m) máx. Requisitos legais ISO 8754 / 14596
Ponto de Inflamação
°C min. 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 ISO 2719
Sulfeto de Hidrogénio
mg/kg máx. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 IP 570
Número Ácido mgKOH/g máx. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 ASTM D 664
Sedimento Total envelhecido
% (m/m) máx. 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 ISO 10307-2
Resíduo de Carbono:
micro método % (m/m) máx. 2,50 10,00 14,00 15,00 18,00 20,00 ISO 10370
Ponto de Escoamento
Qualidade de Inverno Qualidade de Verão
°C máx.
0 6
0 6
30 30
30 30
30 30
30 30
ISO 3016
Água %(v/v) máx. 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ISO 3733
Cinzas % (m/m) máx. 0,040 0,070 0,070 0,070 0,100 0,150 ISO 6245
Vanádio mg/kg máx. 50 150 150 150 350 450 IP 501 / 470 /
ISO 14597
Sódio mg/kg máx. 50 100 100 50 100 100 IP 501 / 470
Alumínio mais silicone
mg/kg máx. 25 40 40 50 60 60 IP 501 / 470 /
ISO 10478

84
Tabela 7.11 – Norma de especificação do Jet A-1.70
Propriedade Limites Métodos de Ensaio
IP ASTM
Aparência Aspeto visual Contaminação por partículas mg/L máx
Claro, brilhante e
visualmente livre de matéria sólida e água
não dissolvida à temperatura ambiente
do combustível
1,0
423
D 5452
Composição Acidez Total, mg KOH/g máx Aromáticos, % (v/v). máx ou Total de Aromáticos, % (v/v) máx Total de Enxofre, % (m/m) máx Mercaptano, % (m/m) máx ou Teste Médico
0,015 25,0 26,5 0,30
0,0030 Negativo
354 156 436 336 342 30
D 3242 D 1319 D 6379
D 1266 ou D 2622
D 3227
D 4952
Materiais Casuais Ésteres Metílicos de Ácidos Gordos (FAME), mg/kg máx
50
585 583 590 599
ASTM D 7797
Volatilidade Destilação Combustível Recuperado 10% (v/v) em °C máx Ponto Final, °C máx Resíduo, % (v/v) máx Perda, % (v/v) máx Ponto de Inflamação, °C min Densidade a 15°C, kg/m³
205,0 300,0
1,5 1,5 38,0
775,0 min a 840,0 máx
123
170 ou 523
160 ou 365
D 86
D 56 ou D 3828
D 1298 ou D 4052
Fluidez Ponto de Congelamento, °C máx
Viscosidade a -20°C, mm2/s (cSt) máx
- 47,0
8,0
16 ou
435 ou 528 ou 529
71
D 2386 ou
D 5972 ou D 7153 ou D 7154
D 445
Combustão Poder Calorífico, líquido, MJ/kg min Ponto de Fumo, mm min Ou Ponto de Fumo, mm min E Naftalenos, % vol. máx
42,80 25,0
19,0 3,00
12 ou 355
598
598
D 3338 ou D 4809
D 1322
D 1322 D 1840
Corrosão Corrosão, Tiras de Cobre, classificação (2 horas +/- 5 min. a 100°C +/- 1°C) máx
1
154
D 130
Estabilidade Estabilidade Térmica (JFTOT) Controlo de temperatura, °C min Diferencial de Pressão em Filtro, mm Hg máx Classificação de Deposição em Tubo (Visual)
260 25
Menos que 3,
Sem chamar a atenção ou sem depósitos de
cor anormais
323
D 3241

85
Propriedade Limites Métodos de Ensaio
IP ASTM
Contaminantes Goma Existente, mg/100ml máx Micro-separómetro (MSEP), classificação Fuel com Aditivo Dissipador de Estática
min Ou
Fuel sem Aditivo Dissipador de Estática min
7
70
85
540
D 381
D 3948
Condutividade Condutividade Elétrica, pS/m
50 min a 600 máx
274 D 2624
Lubricidade Diâmetro de desgaste da cicatriz do BOCLE, mm máx
0,85
D 5001

86
Normas de Biocombustíveis
Tabela 7.12 – Norma europeia de especificação do biodiesel (FAME) – EN 14214:2012.72
Propriedade Unidade Limites
Métodos de Ensaio Mínimo Máximo
Teor em Ésteres % (m/m) 96,5 - EN 14103
Densidade kg/m3 860 900 EN ISO 3675 / EN ISO 12185
Viscosidade mm2/s 3,5 5,0 EN ISO 3104
Ponto de Inflamação
°C >101 - EN ISO 2719
Teor de Enxofre mg/kg - 10 EN ISO 20846 / EN ISO 20884 / EN ISO 13032
Número de Cetano
- 51,0 - EN ISO 5165
Teor de Cinzas Sulfatadas
% (m/m) - 0,02 ISO 3987
Teor de Água mg/kg - 500 EN ISO 12937
Contaminação Total
mg/kg - 24 EN 12662
Corrosão da Banda de Cobre
Classificado Classe 1 Classe 1 EN ISO 2160
Estabilidade Oxidativa
Horas 8 - EN 14112
Valor Ácido mg KOH/g - 0,5 EN 14104
Valor de Iodo g Iod/100g - 120 EN 14111/ EN 16300
Éster Metílico do Ácido Linolénico
% (m/m) - 12 EN 14103
Polinsaturados (>=4 ligações
duplas) Metiléster % (m/m) - 1 EN 15779
Teor de Metanol % (m/m) - 0,2 EN 14110
Teor de Monoglicéridos
% (m/m) - 0,7 EN 14105
Teor de Diglicéridos
% (m/m) - 0,2 EN 14105
Teor de Triglicéridos
% (m/m) - 0,2 EN 14105
Glicerina Livre % (m/m) - 0,02 EN 14105 / EN 14106
Glicerina Total % (m/m) - 0,25 EN 14105
Metais do Grupo I (Na+K)
mg/kg - 5 EN 14108 / EN 14109 /
EN 14538
Metais do Grupo II (Ca+Mg)
mg/kg - 5 EN 14538
Teor de Fosfatos mg/kg - 4 EN 14107 / prEN 16294
Ponto de Fumo °C Depende do local e
estação EN 23015
Ponto de Congelamento
°C Depende do local e
estação EN 116

87
Tabela 7.13 – Norma europeia de especificação do bioetanol – EN 15376:2014.74
Propriedade Unidade Limites
Métodos de Ensaio Mínimo Máximo
Etanol + Teor de Álcoois Muito Saturados
% (m/m) 98,7 - EN 15721
Teor de Monoálcoois Altamente Saturados(C3-C5)
% (m/m) - 2,0 EN 15721
Teor de Metanol % (m/m) - 1,0 EN 15721
Teor de Água % (m/m) - 0,300 EN 15489 / EN 15692
Acidez Total (expressa em ácido acético)
% (m/m) - 0,007 EN 15491
Condutividade Elétrica µS/cm - 2,5 EN 15938
Aparência - Limpo e incolor EN 15769
Teor de Cloro Inorgânico mg/kg - 1,5 EN 15492
Teor de Sulfatos mg/kg - 3,0 EN 15492
Teor de Cobre mg/kg - 0,100 EN 15488 / EN 15837
Teor de Fósforo mg/l - 0,15 EN 15487 / EN 15837
Teor de Material não Volátil mg/100 ml - 10 EN 15691
Teor de Enxofre mg/kg - 10 EN 15485/ EN 15486 /
EN 15837
Tabela 7.14 – Norma alemã de especificação do óleo vegetal de colza – DIN 51605:2010.76
Propriedade Unidade Limites
Métodos de Ensaio Mínimo Máximo
Inspeção Visual - Limpa, sem água
nem contaminantes visíveis
-
Densidade a 15 °C kg/m3 910,0 925,0 DIN EN ISO 3675 / 12185
Viscosidade a 40 °C mm2/s - 36,0 DIN EN ISO 3104
Poder Calorífico Inferior MJ/kg 36,0 - DIN 51900-1,-2,-3
Valor de Iodo g
Iod/100g - 125 DIN EN 14111
Valor de Acidez mg
KOH/g - 2,0 DIN EN 14104
Ponto de Inflamação °C 101 - DIN EN ISO 2719
Qualidade de Ignição (DCN)
- 40 - Análogo DIN EN 15195
Estabilidade Oxidativa a 110 °C
h 6,0 - DIN EN 14112
Contaminação Total mg/kg - 24 DIN EN 12662:1998-10
Teor de Enxofre mg/kg - 10 DIN EN ISO 20884 / 20846
Teor de Fósforo mg/kg - 3,0 DIN 51627-6
Teor de Ca mg/kg - 1,0 DIN 51627-6
Teor de Mg mg/kg - 1,0 DIN 51627-6
Teor de Água mg/kg - 750 DIN EN ISO 12937

88
Entidades Acreditadas
Tabela 7.15 - Entidades acreditadas em diversas áreas de intervenção que realizam os mesmos
métodos de análise impostos pela norma.
Área de Intervenção
Entidade Acreditação e Sigla
Combustíveis, óleos e lubrificantes
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, SA - Laboratório GALP
de Lubrificantes L0037 - PETROGAL / LRM
SGS Portugal - Sociedade Geral de Superintendência, SA - SGS Multilab -
Laboratório de Ensaios
L0057 - SGS Portugal / SGS Multilab
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, SA - Laboratório GALP
de Lubrificantes
L0093 - PETROGAL / GALP Lubrificantes
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, SA - Laboratório da
Refinaria de Sines L0190 - PETROGAL / Sines
LABELEC - Estudos, Desenvolvimento e Atividades Laboratoriais, S.A. - edp
labelec - Laboratório de Materiais Isolantes
L0247 - LABELEC / LAB-MI
Amorim Cork Research, Lda. - Labcork L0248 - ACR / LBK
Repsol Portuguesa, SA - Laboratório L0282 - REPSOL / LAB
Companhia Logística de Combustíveis, S.A. - Laboratório
L0465 - CLC / LCLC
SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. - Laboratório de
Qualidade do Outão L0556 - SECIL / LQLO
Efluentes líquidos
RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel - Laboratório
L0017 – RAIZ – LAB
Navigator Pulp Setúbal, S.A. - Laboratório Central da Navigator Pulp
Setúbal
L0018 – PORTUCEL / SETÚBAL
AGQ Portugal, Lda. L0128 – AGQ
Solvay Portugal - Produtos Químicos, S.A. - Laboratório Solvay Portugal
L0602 - Solvay
Fertilizantes e fitofármacos
ADP Fertilizantes, S.A. - Laboratório da Unidade Fabril de Adubos de Alverca
L0058 - ADP / LUFAA
Químicos e produtos químicos
EIA - Eletrónica Industrial de Alverca, Lda. - Laboratório de Calibrações e
Ensaios L0331 - EIA / LCE
Resistência e reação ao fogo
Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial - Laboratório de Fumo e
Fogo
L0254 - INEGI / LFF
ITeCons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a
Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade -
L0446 - IteCons
Laboratório Nacional de Engenharia Civil - Ensaios e Metrologia | Unidade
de Reação ao Fogo L0488 - LNEC / EM | URF

89
Tabela 7.16 – Atribuição das entidades a cada propriedade imposta pela norma ASTM D 7544.
Propriedade Métodos de Ensaio
Aplicáveis Entidade (Acreditação e Sigla)
HHV ASTM D 240 / IP 12 /
ISO 1716/ DIN 51900 / AFNOR M07-030
L0190 - PETROGAL / Sines L0254 - INEGI – LFF
L0446 – IteCons L0488 - LNEC - EM | URF
L0556 SECIL/LQLO
Água ASTM E 203 / ISO 760 L0058 - ADP / LUFAA L0556 SECIL/LQLO
Viscosidade Cinemática a
40ºC
ASTM D 445 / IP 71-1 / ISO 3104 / DIN 51562 /
JIS K 2283 / AFNOR T60-100
L0037 - PETROGAL / LRM L0057 - SGS Portugal / SGS Multilab(Tipo A)
L0093 - PETROGAL / GALP Lubrificantes L0190 - PETROGAL / Sines L0247 - LABELEC / LAB-MI
L0331 - EIA / LCE
Densidade a 20ºC
ASTM D 4052 / IP 365 / ISO 12185 / DIN
51757D / JIS K 2249D / AFNOR T60-172
L0037 - PETROGAL / LRM L0057 - SGS Portugal / SGS Multilab(Tipo A)
L0093 - PETROGAL / GALP Lubrificantes L0190 - PETROGAL / Sines L0247 - LABELEC / LAB-MI
L0282 - REPSOL / LAB L0465 - CLC / LCLC
Teor de Sólidos ASTM D 7579 -
Teor de Enxofre ASTM D 4294 / IP 336 /
ISO 8754 / AFNOR M07-053
L0037 - PETROGAL / LRM L0057 - SGS Portugal / SGS Multilab(Tipo A)
L0190 - PETROGAL / Sines L0282 - REPSOL / LAB
Teor de Cinzas ASTM D 482 / IP 4 / ISO
6245 / JIS K 2272 / AFNOR M07-045
L0037 - PETROGAL / LRM L0093 - PETROGAL / GALP Lubrificantes
L0190 - PETROGAL / Sines
pH ASTM E 70-07
Alternativa: ISO 10523
L0248 - ACR / LBK L0465 - CLC / LCLC L0017 – RAIZ – LAB
L0018 – PORTUCEL – SETÚBAL L0128 – AGQ
L0282 - REPSOL / LAB L0602 - Solvay
Ponto de Inflamação
ASTM D 93B / IP 34 / ISO 2719 / DIN 51758 /
JIS K 2265 / AFNOR M07-019
L0037 - PETROGAL / LRM L0057 - SGS Portugal / SGS Multilab(Tipo A)
L0093 - PETROGAL / GALP Lubrificantes L0190 - PETROGAL / Sines L0247 - LABELEC / LAB-MI
L0282 - REPSOL / LAB L0465 - CLC / LCLC
Ponto de Escoamento
ASTM D 97 / IP 15 / ISO 3016 / DIN 51597 / JIS K 2269 / AFNOR T60-105
L0037 - PETROGAL / LRM L0093 - PETROGAL / GALP Lubrificantes
L0190 - PETROGAL / Sines L0247 - LABELEC / LAB-MI
L0282 - REPSOL / LAB

90
Tabela 7.17 – Atribuição das entidades a cada propriedade imposta pelo DL Nº142/2010 para o fuelóleo.
Propriedade Métodos de Ensaio
Aplicáveis Entidades
Massa Volúmica a 15ºC
EN ISO 3675 / 12185 / ASTM D 1298
IP 160 / DIN 51757H / JIS K 2249H /
AFNOR T60-101
L0037 - PETROGAL / LRM L0057 - SGS Portugal / SGS Multilab(Tipo A)
L0093 - PETROGAL - GALP Lubrificantes L0190 - PETROGAL / Sines L0247 - LABELEC / LAB-MI
L0282 - REPSOL / LAB L0465 - CLC / LCLC
Viscosidade a 100ºC
EN ISO 3104 / ASTM D 445 / IP 71-1 /
DIN 51562 / JIS K 2283 / AFNOR T60-100
L0037 - PETROGAL / LRM L0057 - SGS Portugal / SGS Multilab(Tipo A)
L0093 - PETROGAL / GALP Lubrificantes L0190 - PETROGAL / Sines L0247 - LABELEC / LAB-MI
L0331 - EIA / LCE
Ponto de Inflamação
EN ISO 2719 / ASTM D 93 / IP 34 / DIN 51758 /
JIS K 2265 / AFNOR M07-019
L0037 - PETROGAL / LRM L0057 - SGS Portugal / SGS Multilab(Tipo A)
L0093 - PETROGAL / GALP Lubrificantes L0190 - PETROGAL / Sines L0247 - LABELEC / LAB-MI
L0282 - REPSOL / LAB L0465 - CLC / LCLC
Teor de Água ISO 3733 / ASTM D 95 / IP 74 / DIN 51582 / JIS K 2275 / AFNOR T60-113
L0037 - PETROGAL / LRM L0057 - SGS Portugal / SGS Multilab(Tipo A)
L0190 - PETROGAL / Sines
Sedimento Total ISO 10307-1 / ASTM D
4870 / IP 375 L0037 - PETROGAL / LRM L0190 - PETROGAL / Sines
Teor de Enxofre EN ISO 8754 / ASTM D
2622 / DIN 51400T6 / JIS K 2541
L0037 - PETROGAL / LRM L0057 - SGS Portugal / SGS Multilab(Tipo A)
L0190 - PETROGAL / Sines L0282 - REPSOL / LAB
Teor de Cinzas EN ISO 6245 / ASTM D 482 / IP 4 / JIS K 2272 /
AFNOR M07-045
L0037 - PETROGAL / LRM L0093 - PETROGAL / GALP Lubrificantes
L0190 - PETROGAL / Sines

91
Caracterização de Amostras Laboratoriais
Tabela 7.18 – Caracterização de liquefeitos laboratoriais feita no LQLO.
Variáveis operatórias constantes:
Catalisador PTSO - 3% (m/m);
Temperatura de reação de 160ºC;
Tempo de reação de 90 minutos.
2 Todos os métodos de ensaio referentes à caracterização do liquefeito encontram-se expostos na Tabela 4.1, aplicando-se as respetivas notas. Todos os ensaios estão fora do âmbito de acreditação.
Variáveis Operatórias Caracterização do Liquefeito2
Biomassa Humidade
(%) Solventes
Tipo de Swelling
Pré-tratamento
(PT)
Tempo de PT
(minutos)
Teor (%) Poder Calorífico
(J/g)
Água Carbono Hidrogénio Azoto Enxofre Superior Inferior
Estilha de pinho
40 DEG:2EH
(1:3) 30 minutos a quente
- - 3,3 64,14 11,7 <1,56 <0,53 33440 30955
18 Solução de Al2(SO4)3
15 2,3 65,12 11,7 <1,64 <0,38 34130 31645
0
DEG:2EH (3:1)
- - 10 47,64 9,33 <1,75 0,61 22790 20810
18 Solução de Al2(SO4)3
15 4,1 51,04 9,26 <1,42 0,72 24520 22555
0
15 3,2 50,4 9,06 <1,37 0,71 25055 23130
Dregs
- - -
3,2 51 10,25 <1,18 0,61 26030 23855
Grits 1,5 49,6 10,15 <1,25 0,66 25355 23200
Desmatamento 0-36 3,4 50 9,56 <1,26 0,64 24495 22465