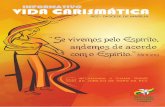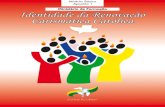Livro de resumosDesde que estreou, no último mês de Junho, o documentário Retalhos do chão, do...
Transcript of Livro de resumosDesde que estreou, no último mês de Junho, o documentário Retalhos do chão, do...

1
Livro de resumos

2
COMISSÃO ORGANIZADORA
Ana Lúcia Liberato Tettamanzy – Professora – UFRGS (Coordenadora Geral)
Sylvie Dion – Professora – FURG
Vera Lúcia Cardoso Medeiros – Professora – UNIPAMPA
Antônio Trindade – Graduado – UFRGS
Bruna Almeida – Graduanda – UFRGS
Carla Ulhmann – Graduanda – UFRGS
Clara Montiel – Graduanda – UFRGS
Cristina Mielczarski dos Santos- Doutoranda – UFRGS
Felipe Grune Ewald – Doutorando – UEL
Jeferson Tenório – Mestre – UFRGS
Laura Regina dos Santos Dela Valle – Mestranda – UFRGS
Mauren Pavão Przybylski – Doutoranda – UFRGS
Renata Ávila Troca – Doutoranda – UFRGS
Sofia Robin – Graduanda – UFRGS
Surian Seidl – Mestre – UFRGS

3
Comissão científica
Ana Lúcia Liberato Tettamanzy
Adilson Crepalde
Edil S. Costa
Frederico Augusto Garcia Fernandes
José Guilherme Fernandes
Maria Ignez Ayala
Vera Cardoso Medeiros
Sylvie Dion
Realização

4
Apresentação
O III Seminário de Poéticas Orais, a realizar-se de 16 a 19 de setembro de 2013 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é também o Encontro Intermediário do GT de Literatura Oral e Popular da ANPOLL. A coordenação geral é realizada pelas professoras Ana Lúcia Liberato Tettamanzy, atual coordenadora do GT (biênio 2012-2014),Vera Lúcia Cardoso Medeiros (UNIPAMPA/RS) e Sylvie Dion (FURG/RS), respectivamente vice-coordenadora e secretária do GT. Como nos eventos anteriores, a concepção do III Seminário remete à historicidade dos debates no interior do GT, mas também às possibilidades locais e regionais. O recorte nos conceitos de Voz e Interculturalidade reflete o esforço continuado de expandir as possibilidades de abordagem e mesmo de (re) definir nossos estudos e objetos com base nas relações entre as vozes e os espaços sociais e culturais. Essa temática tem muito a dizer sobre o debate entre o poder e o saber, argumento central no discurso das ciências humanas e sociais na cena contemporânea. A categoria voz é tomada no sentido amplo de manifestação de subjetividade e de autoria, passível de reconhecimento por sua existência física (corporal), social e cultural. A forma como o evento está sendo estruturado contempla a perspectiva intercultural, entendida como possibilidade de trânsitos disciplinares e de diálogos e tensões representativos da complexidade e também da desigualdade na produção, distribuição e aquisição de saberes e discursos. Tais tensionamentos dizem respeito muito diretamente às poéticas orais, visto que, como se tem debatido desde a fundação do GT, a constituição de nossos objetos (por exemplo, manifestações populares, textualidades verbais e não-verbais e performances) e de nossos aportes teóricos e metodológicos (entre eles, entrevistas, testemunhos, registros audiovisuais) extrapola o âmbito das Letras e da Linguística.
Eixos de discussão
1. Autoria, performance, língua e ensino
2. Espaços, saberes e transmissão: práticas culturais e populares
3. Vozes da cidade: periferias e mídias
4. Vozes ameríndias
5. Vozes luso-africanas e negras

5
Programação geral
16 de setembro
8h – Credenciamento
09h30min – Mesa de Abertura: – Direção do Instituto de Letras, Coordenação do PPG/Letras, Vera Lúcia Cardoso Medeiros (UNIPAMPA/Vice-Coordenadora do GT de Literatura Oral e Popular da ANPOLL)
10h – 12h – Prosa (A) fiada: Rita Camisolão (DEDS/PROREXT/UFRGS), Maria Ignez Ayala (UFPB), José Carlos dos Santos (morador da Restinga), Rubelise da Cunha (FURG). Mediadora: Vera Medeiros (UNIPAMPA)
14h – 16h - Relato de experiências de aprendizagens com oralidade: escola e universidade: Margarete Schlatter (PPE/UFRGS) e educadores inscritos. Mediador: Carlos Batista Bach (UFRGS).
16h30min – 18h – Mesa Redonda 1: – Vozes Luso-Africanas e negras: Marcos Ayala (UFPB), Luciana Prass (Música/UFRGS), Allan da Rosa (escritor). Mediadora: Cristina Mielczarski dos Santos (UFRGS).
19h30min – 20:30 – Momento artístico-cultural: Show de Seu Jorge e Banda (Restinga) e apresentação do griô Mestre Paraquedas.
20h30min – Conferência de Abertura: Conceição Evaristo (Escritora). Mediador: Jeferson de Souza Tenório (UFRGS)
17 de setembro
08h30min – 10h – Sessão de Comunicações I
10h30min – 12h – Mesa Redonda 2: Vozes populares e tradicionais: autoria e performance: Eliana Inge Pritsch (UNISINOS/FAPA), Luciana Hartmann (Artes Cênicas/UnB), Josebel Akel Fares (UEPA). Mediadora: Laura Regina dos Santos Dela Valle (UFRGS)
14h – 15h30min – Sessão de Comunicações II
15h30min -17h – Sessões de vídeos: Mediadoras: Renata Ávila Troca (UFRGS) e Surian Seidl (UFRGS)

6
17h -18h30min – Mesa Redonda 3: Vozes da Cidade: periferias e mídias: Frederico Augusto Garcia Fernandes (UEL), Tamer Thabet (Brock University/Canadá), Fernando Villarraga Eslava (UFSM). Mediadora: Mauren Pavão Przybylski (UFRGS).
18:30 – 20hs – Lançamento de livros – Conversa com os autores Allan da Rosa e Luciana Prass. 20h – 21h30min – Mesa Redonda 4: Espaços, saberes e transmissão: José Guilherme Fernandes (UFPA), Normélia Parise (FURG), Edil Silva Costa (UNEB). Mediadora: Sylvie Dion (FURG/ Secretária do GT de Literatura Oral e Popular da ANPOLL)
18 de setembro
08h30min -10h – Sessão de Comunicações III
10h30min – 12h – Mesa Redonda 5: Vozes ameríndias: Vherá Poty (professor, fotógrafo e músico Mbyá-Guarani), Marília Stein (Música/UFRGS), Zaqueu Key Claudino (Mestre em Educação/UFRGS e educador Kaingang), Letícia Fraga (UEPG). Mediador: Adilson Crepalde (UEMS)
14h -15h30min - Sessão de Comunicações IV
16h -18h – Prosa (A)fiada: Vherá Poty (professor, fotógrafo e músico Mbyá-Guarani), José Antarki (UFRGS), Luciana Hartmann (UnB), Adair David (Associação de Moradores do Rincão dos Negros – Rio Pardo/RS). Mediador: Felipe Grüne Ewald (UEL)
18h -19h – Momento artístico-cultural: Coral e Grupo de dança Nhamandu, da aldeia Mbyá-Guarani Pindó Mirim.
20h – Conferência de Encerramento: Gonzalo Espino Relucé (Universidad Mayor de San Marcos/Peru– povo Quéchua). Mediadora: Ana Lúcia Liberato Tettamanzy (UFRGS/ Coordenadora do GT de Literatura Oral e Popular da ANPOLL)
21h – Confraternização: Sonoridades ameríndias com Clarissa Montiel & Grupo e José Antarki.
19 de setembro
Manhã – Atividades dos participantes do evento junto à Escola Técnica no bairro Restinga, Porto Alegre/RS.
Tarde – Encontro Intermediário do GT de Literatura Oral e Popular da ANPOLL

7
RESUMOS DOS TRABALHOS INSCRITOS
ORDEM ALFABÉTICA
O NARRADOR ORAL TRADICIONAL E O NARRADOR IN OFF FÍLMICO: O CASO DO SEU EGYDIO NO DOCUMENTÁRIO RETALHOS DO CHÃO, DO
CORPO E DO CÉU Ana Claudia Freitas Pantoja (UEL)
Luis Henrique Mioto (UEL)
Desde que estreou, no último mês de Junho, o documentárioRetalhos do chão, do corpo e do céu (Brasil, 2013, 60 min) lançou luzes sobre a carismática figura do ex-lavrador, sanfoneiro e contador de histórias, Egydio da Silva. A voz grave do músico se faz ouvir em pelo menos 30% da obra, funcionando como elemento conectivo estruturante da trama audiovisual, no papel de narrador inoff. Apesar de aparecer em dois momentos do filme como depoente (devidamente acompanhado de sua respectiva imagem), é sobretudo por meio da voz que Seu Egydio atua na obra, “costurando” sequências que retratam a cultura popular na cidade de Londrina, no norte do Paraná, onde reside há mais de duas décadas. No filme, o sanfoneiro quase octogenário assume um papel similar ao que Zumthor, Pelen e Cascudo acreditam ser o papel do ancião nas sociedades tradicionais, ou seja, o de grande detentor dos recursos mnemônicos, responsável pela transmissão de conhecimentos nas comunidades ágrafas, um indivíduo capaz de articular os dados cotidianos a partir de uma perspectiva poética e narrativa. No entanto, o que está em debate é um registro fílmico e não um contexto social com seus subprodutos diretos, os chamados etnotextos. Qualquer artefato audiovisual, ainda que profundamente comprometido com a cultura popular, é sempre um recorte parcial e tendencioso de uma dada realidade concreta, representa um ângulo restrito de visão, dentre os vários possíveis. Logo, não há um narrador oral ao pé da letra em uma obra cinematográfica, mas uma simulação – que pode ser mais ou menos bem sucedida – desse sujeito. O presente trabalho pretende discutir questões relacionadas à construção do narrador in off no documentário supracitado, verificando como os conteúdos verbal e imagético se articulam de modo a criar marcas de oralidade e legitimidade a serem reconhecidas pelo espectador. Também levanta questões de ordem ética em torno dos papeis do narrador e dos realizadores, na medida em que Seu Egydio reproduz um texto que originalmente não é de sua própria autoria. Por fim, explicita uma situação ímpar: as instâncias em que o agente da cultura popular se apropria do aparato fílmico a sua disposição, tornando-o também algo seu. A comunicação oral está a cargo do diretor do documentário e de uma das integrantes da equipe técnica, dupla que acompanhou a gravação completa da narração em debate.

8
QUILOMBOS E EDUCAÇÃO: PERSPECTIVA SOBRE A PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO NA BAHIA
Ana Fátima Santos (UNEB)
A educação quilombola no Brasil tem obtido avanços em conquistas legislativas e amplitude de sua dinâmica coletiva enquanto exemplo de tradição afro-brasileira além de conquistarem outras demandas como registro da terra, manutenção da cultura e costumes e uma educação que respeite a organização da sociedade local. No século XXI, a formação de um currículo que alcance objetivos básicos dos quilombolas provocou diversos debates e até mesmo a construção de uma cartilha que orientasse a elaboração de diretrizes educativas específicas para estes povos afro-brasileiros. Objetiva-se apresentar neste trabalho o quadro de produção de materiais didáticos impressos para as escolas de comunidades quilombolas no estado da Bahia após a implementação da Resolução nº 8 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação quilombola na educação básica, 2012. A partir da resolução, questiona-se: houve uma mudança nos currículos das escolas quilombolas? Há uma produção significativa e incentivadora por parte das representações municipais, estaduais e federais de Educação para estas instituições educativas? Serão expostos alguns livros didáticos e livros de contação de histórias relacionadas ao ensino escolar tanto em quilombos urbanos quanto em quilombos rurais (do campo) indicados para uso escolar no estado da Bahia em 2013. A análise terá como critérios o uso adequado de terminologia correspondente ao conceito de quilombo, segundo Clóvis Moura e João José Reis, e suas vivências, adequação de imagens representativas e compatibilidade com o contexto em que o material é inserido. A pesquisa terá a Crítica Cultural e a Linguística Aplicada enquanto suportes teórico-metodológicos para a investigação destes materiais e os conceitos que os mesmos carregam em seu conteúdo sob a ótica de teóricos como Moita Lopes, Ana Lúcia de Souza, Thompson e Deleuze. O argumento apresentado diz respeito ao descaso e à falta de interesse das autoridades municipais e estaduais para produzir tais materiais e favorecer uma educação igual para todos promovendo uma melhor orientação e ação escolar para tais comunidades com suas riquezas e especificidades.
CORDEL: A ESCRITURA DA MEMÓRIA DAS VOZES
Ana Maria de Carvalho (UFPA) Falar de memória e oralidade remete ao folheto de cordel, nele a palavra, a imagem e a voz se cruzam. A seu respeito é possível dizer que eles se situam entre a fronteira da escritura e da voz, fronteira que não deve ser entendida como separação, mas como continuidade e complementação. Nesse caso o verso impresso seria essa continuação e complementação do oral, tendo em vista que embora seja uma produção escrita, sua transmissão não ocorria somente por meio da leitura silenciosa e individual. Ela também se dava através da leitura oral que se materializava nas leituras comunitárias feitas nas rodas de terreiros. A leitura em voz alta também era um meio do poeta vender seus folhetos nas feiras, uma vez que eram lidos alguns trechos das narrativas para chamar a atenção do público leitor. No que diz respeito à temática desta comunicação, é proveniente da pesquisa realizada no mestrado onde dou destaque aos cordéis sotádicos de Antonio Juraci Siqueira. Em geral, as classificações dos cordéis são para fins didáticos, distribuindo-se em blocos que podem ser temáticos ou baseados na sua

9
estrutura. Ao pesquisar sobre elas encontrei classificações temáticas sobre: religião, cangaço, amor etc. No entanto, nesta comunicação darei destaque às narrativas que versam sobre o deslocamento do nordestino para a Amazônia, em busca de ganhar dinheiro nos seringais. O objetivo desse trabalho é analisar esses cordéis e lê-los como um texto cultural, capaz de dizer algo sobre esse processo de mudança, de adaptação do novo espaço e da troca de saberes entre os migrantes e os nativos. Assim, podemos olhar o folheto de cordel e suas narrativas também como um modo de transmissão dos fatos ocorridos, dos acertos e decepções vividasna época da borracha pelos migrantes nordestinos.
DIÁLOGO INTERCULTURAL NAS LITERATURAS DE AUTORIA INDÍGENA
Alana Fries (UFRGS) Com a consolidação das recentes literaturas de autoria indígena, nasce a oportunidade de interpretá-las como uma nova e importante ferramenta dialógica. Dentro de um cenário em que o indígena torna-se sujeito de seu próprio direito (o indígena tutelado dá lugar ao indígena que busca compreender, se apropriar e lutar por seus direitos pelos meios do mundo burocrático não indígena ao qual está submetido) e o acesso às diferentes mídias é cada vez mais democrático (possibilitando que todo cidadão porte sua própria voz e advogue sua causa), a literatura de autoria indígena aparece como um elo comunicativo direto entre o mundo indígena e não indígena, uma alternativa à mediação das instituições que têm executado esse papel. O diálogo, reflexão e consequente aproximação que podem ser daí engendrados vêm a quebrar o ciclo vicioso no qual se encontram as relações interétnicas desde a invasão europeia: o desconhecido e distante gera o medo, que é alimentado pela perpetuação das representações estereotipadas e legitimado pela imagem de um sujeito indígena disseminada pela grande mídia. Em Karaíba: uma história do pré-Brasil, de Daniel Munduruku, encontramos o relato (uma ficção surpreendentemente atual) da realização de uma profecia que vem unir três tribos inimigas em preparação para o combate contra uma nova e poderosa ameaça porvir. Em Todas as vezes que dissemos adeus, de Kaka Werá Jecupé, está o depoimento de um ser que se sente estrangeiro em sua própria terra, que tenta descobrir o que é ser índio e como se pode ser índio na sociedade dominante contemporânea. A partir dessas duas obras de autoria indígena, através de uma proposta de reflexão que contabiliza as complexificações históricas e socioculturais contidas nesse diálogo, procuramos identificar as vozes literárias ameríndias, escutá-las e tentar daí retirar o que está sendo comunicado; quais ferramentas tem e utiliza o escritor indígena (que novo método antropofágico surge da apropriação de um veículo historicamente exclusivo e classista); e de que maneira podemos assimilar essas vozes, aceitando que elas possibilitam que abdiquemos de pré-conceitos atribuídos a essa quase entidade que chamamos genericamente de “índio” e caminhemos em direção à construção de uma relação fresca, desmistificada e de fato intercultural.

10
A POÉTICA NAS NARRATIVAS ORAIS E A MEDIAÇÃO DA IMAGEM
Alessandra Bittencourt Flach (UNISINOS/FAPA) Contar histórias é um processo que faz parte da vida humana e, portanto, esse ato precisa ser discutido e pensado teoricamente. O presente trabalho centra-se nas histórias orais que emergem de situações cotidianas de conversa. Através da análise de vídeos produzidos no bairro Restinga, de Porto Alegre (RS), pretende-se demonstrar que essas narrativas possuem intencionalidade poética. Isso pode ser percebido principalmente mediante a análise da performance, ou seja, do evento comunicativo que envolve não só o texto, mas a linguagem, o corpo, os gestos, a voz e os interlocutores. Acredita-se que seja possível incluir essas narrativas no campo dos estudos literários, como uma criação ficcional a partir das memórias que produzem as histórias. Como suporte teórico, parte-se dos conceitos e estudos de Paul Zumthor, Richard Bauman e Ruth Finnegan acerca da performance, bem como das contribuições da Antropologia e da Sociologia. Com isso, espera-se contribuir para os estudos de narrativas orais e problematizar o papeldo vídeo como recurso para apreender o ato performático, tendo em vista o fato de que a câmara seleciona e classifica os eventos e as imagens, inserindo o pesquisador num espaço de ficção que o torna também autor de representações do cotidiano, ou ainda, o torna um narrador.
BELA E TRISTE: DO TEXTO AO ETNOTEXTO
Alexandre Ranieri (UEL/SEDUC-PA)
O presente artigo tem por objetivo analisar o processo de adaptação da narrativaBela e triste que conta a história de uma “encantada” e bela moça loira, em um cavalo branco, que guarda um poço colorido e cheio de animais que não podem ser tocados, no entanto, pede ajuda a um pescador para ser “desencantada” com a condição de que o mesmo não contasse para ninguém sobre aquilo, todavia, o homem conta a um amigo tudo o que aconteceu na noite anterior e acaba morrendo em poucos minutos. Será feita uma análise da história presente no CD-ROMCaleidoscópio Amazônico: uma aventura de imagens e cores (1998) em comparação com a transcrição da narrativa homônima contada pela informante D. Odenilda R. dos Santos e retirada do livro Abaetetuba conta... (SIMÕES & GOLDER, 1995) que deu origem a versão do Caleidoscópio e que, por sua vez foi transcrito a partir das pesquisas realizadas pelo projeto IFNOPAP( O Imaginário nas Formas Narrativas Orais da Amazônia Paraense) da Universidade Federal do Pará (UFPA), com vistas a entender o processo de adaptação e tradução da narrativa como fator de universalização da mesma e investigar de que forma a recriação e a tecnologia utiliza/das ainda permitem a narrativa conservar traços do "etnotexto" descrito por PELEN (2001). Ou seja, se o mesmo ainda reflete a visão de mundo, usos e costumes, mesmo que esse texto tenha sido recriado num outro formato, para outro fim e público diverso. Portanto, pretende-se entender até que ponto a narrativa, no formato em que se encontra, sofreu um processo de "desenraizamento", levando em consideração o conceito de enraizamento de WEIL (1943) ou, até que ponto ela a encontra-se enraizada já que ainda conserva traços de "etnotexto" e ainda representa, de certa forma, a "comarca oral" (PACHECO, 1992) da Amazônia Paraense. Para tanto, usaremos, também, como arcabouço teórico os estudos de autores como ZUMTHOR (2005), LOTMAN (1975), BENJAMIN (1994) e LEVY (1999).

11
ENTRE INFERNO E SERTÃO: DISCUTINDO OS ESPAÇOS CONSTRUÍDOS NA LITERATURA DE CORDEL
André Ricardo Nunes Nascimento (UNEB)
Neste artigo pretende-se analisar, traçando comparações, as representações dos espaços do Sertão e do Inferno nas narrativas dos folhetos A chegada de Lampião no Inferno, de José Pacheco, e Peleja de Manoel Riachão com o Diabo, de Leandro Gomes de Barros. Os folhetos supracitados trazem pelejas do Diabo com os moradores do Sertão e também deixam transparecer que apetrechos de identificação desses espaços se tecem nas linhas das obras. Nessa conjuntura, a religiosidade popular se encena como fator religioso preponderante e arraigado no interior dessas narrativas, pois o Diabo, ao “pelejar” com os personagens do sertão, é vencido por não resistir às artimanhas de entidades como Nossa Senhora, santos e beatos, que representam a imagem de Deus e suas forças. Para a tessitura desse trabalho, utiliza-se como aporte teórico: Santos (2007), diferenciando espaço e território da cultura; Balandier (1976), para a discussão de tradição e continuidade cultural, pelo viés das dinâmicas sociais; Albuquerque Jr. (1999), que traz a invenção do Nordeste num contexto literário; Gois (2004), esboçando questões referentes à Religiosidade Popular; e Luyten (2005), que apresenta estudos sobre a Literatura de Cordel (2005), dentre outros. Adota-se como método a análise comparativa para demonstrar que os preceitos cristãos estão bastante enraizados no cotidiano nordestino e que as características presentes na composição do Inferno cristão se misturam com as peculiaridades do Sertão brasileiro, causando um processo de simbiose religiosa e cultural, que engendra a caracterização da coragem e resistência do sertanejo, frente às adversidades rotineiras da vida. Nessa perspectiva, as manifestações e valores e crenças dos sertanejos são expostas e contribuem para a constituição do mosaico cultural do Brasil. O estudo dos personagens presentes nos versos de cordel apresenta-se como uma importante ferramenta de divulgação da cultura popular nordestina. Os moradores dessa região utilizam a Literatura de Cordel como forma de manutenção de muitos dos seus aspectos culturais. Eles criam personagens que acabam tornando aparentes suas crenças, costumes e manifestações:
ENSINO-APRENDIZAGEM EM LITERATURA: A EDUCAÇÃO NA BOCA DO POVO, NA RUA DE SABÃO
Antonio da Luz Trindade (UFRGS)
Ana Lúcia Liberato Tettamanzy (UFRGS)
É sabido que o espaço escolar costuma ser um templo de adoração a um ensino de literatura clássico e conservador, que valoriza apenas o cânone elegido por uma elite branca, ocidental, machista e que domina a escrita como uma forma de manutenção das estruturas sociais que excluem as culturas e alteridades que estão fora de seus padrões, ditos universais. Bem, antes de tudo, é o educador em literatura um contador de histórias, um flautista da palavra que dissemina som, produz memória coletiva, constrói imagens, gesticula ações, ou seja, que respira e sobrevive da voz, a mesma que faz resistir e ecoar um índio e um negro e suas trajetórias e jeitos de ser distintos dos

12
desenhados pela palavra escrita de José de Alencar, ou um caipira bem diferente daquele imaginado por Monteiro Lobato. O espaço que a literatura pode criar no imaginário dos sujeitos é infinito, com infinitas possibilidades, porém isso só é possível se os educadores valorizarem essas possibilidades, esse imaginário, e criarem o que Ángel Rama (2008) chama de pensar mítico na Transculturación Narrativa em América Latina. Logo, deve ser parte dos esforços dos educadores em literatura confrontar as culturas, fomentar criticidade, movimentar e motivar interpretações que desafiem a ordem e cultura colonialista que ainda impera na educação brasileira, e, para isso, o índio de Alencar precisa deparar-se com o arco e a flecha de um Kaká Werá Jecupé, escritor e ambientalista do povo Txucarramae, porque escutar um índio contando histórias, ou até mesmo ler o que um índio escreve sobre si mesmo é muito distante do que temos como registro histórico-literário até hoje. Tudo isso também é arte, e vale sempre ressaltar que mesmo a literatura, bem como o próprio ser humano são anteriores à palavra escrita e à lógica ocidental de constituição de arte como dizia Paulo Freire (2009) a respeito do ato de ler. O homem tinha – e segue mantendo - diversas formas de ler o mundo e suas relações, domina diferentes ferramentas para construir memória e de passar adiante seus ensinamentos. Trazer à sala de aula as culturas e intelectualidades esquecidas ou oprimidas pela nossa sociedade escritocêntrica é uma forma de recuperar, valorizar e aprender um outro código de pensamento, de um jeito de ser e de uma memória que também já foram e ainda são nossos. Esse pensar mítico que é alimentado pela literatura que não utiliza só a palavra escrita, que tem na oralidade sua teia mágica, é capaz de formar um outro cidadão, uma nova cidadania. VOZES NEGRAS NO CANDOMBLÉ BAIANO: QUANDO A RAÇA IMPORTA
E QUANDO A RAÇA NÃO IMPORTA
Ari Lima (UNEB) Nana Luanda M. Alves (UNEB)
Desde o final do século XIX, as religiões de orientação africana são seguramente um dos temas mais estudados no que diz respeito à problematização da presença africana e descendente no Brasil. Logo, estas religiões têm agregado majoritariamente negros, mas também mestiços e brancos. Têm se constituído como uma reserva de memória, gestos, falas, relações e laços sociais de orientação africana, mas também de memória, gestos, falas, relações e laços sociais gerados durante a colonização, a escravidão e o pós-escravidão no Brasil. A hipótese deste trabalho - proposto ao Eixo de discussão: Vozes luso-africanas e negras -, é que um aspecto fundamental que também tem constituído o candomblé é a experiência da raça, do racismo e das desigualdades raciais que se manifesta ou é silenciada, em particular, através das vozes e das performances que lhe dizem respeito nos contextos desta religião. O trabalho é um resultado parcial de projeto de pesquisa que propõe historicizar e mapear a prática religiosa de orientação africana em Alagoinhas, cidade localizada a 107 Km, da capital baiana, Salvador. Do ponto de vista teórico e conceitual, toma-se “raça” como constructo social que configura relações, racismo e desigualdades raciais orientadas por uma ideia do “negro”. Logo, a vigência da raça é histórica, social, política e cultural, tanto quanto transversalizada por questões de gênero, sexualidade, origem territorial e interceptada por um continuum de cor e fenotipia. A pesquisa vem sendo realizada através de revisão bibliográfica sobre a temática das religiões de orientação africana, pesquisa em arquivos públicos e/ou

13
privados, coleta de depoimentos e observação participante em espaços de prática religiosa de orientação africana em Alagoinhas. Neste caso, são consideradas dimensões de intersubjetividade, relações de poder dentro e fora do universo do candomblé e a complexidade da representação alheia através da enunciação e transcrição da voz. Também se busca menos a continuidade ou ruptura histórica através de detalhes documentados e mais a possibilidade de se inferir concepções básicas e estruturas simbólicas entre o passado e o presente. Do mesmo modo, de um ponto de vista analítico, esta pesquisa em vez de trabalhar com a noção de “matriz africana”, que remete a um polemizado ideal de pureza e a uma ideia vaga de todo o continente africano, adota a noção de religião de “orientação africana” que aponta, porém não congela a referência à África.
A LEGITIMIDADE PRESENTE NO SILÊNCIO DAS PALAVRAS DE KAKA
WERÁ JECUPÉ
Bianca Basile Parracho (UFRGS)
Todas as vezes que dissemos adeus, do indígena txucarramãe Kaka Werá Jecupé, é o ponto de partida, neste artigo, para refletir sobre o percurso da autenticidade de obras como essa, de autores marginalizados, muitas vezes silenciados e deslegitimados pela academia. A universidade deveria ser um espaço capaz de integrar o conhecimento à realidade dos atores sociais, portanto, nessa direção, será discutido o papel da academia e dos intelectuais diante desses “outros tipos de conhecimentos e saberes” (MATO, 2004). A possibilidade de diálogo entre as “narrativas móveis” (WALTY, 2005) e o cânone literário nos mostra que uma está intrinsecamente ligada à outra, e que essa troca cultural é essencial. Nesse sentido, este trabalho traz à tona um dos pensamentos de Michel Foucault, quando ele afirma que a educação é capaz de manter ou de modificar o poder da apropriação dos discursos. A trajetória de Kaka Werá Jecupé relata esse entrecruzamento de culturas, representando uma busca de si e do outro. Na autobiografia do autor está presente, além da sua trajetória, uma forte crítica à mídia que muitas vezes transforma a cultura indígena em representações exóticas com fins sensacionalistas, como está claro no livro de Kaka Werá Jecupé. Um Brasil desconhecido por muitos brasileiros é relatado através da experiência do indígena txucarramãe e essa necessidade de falar para mais pessoas fez com que Kaka Werá investisse na escrita do português (e do inglês, já que a edição de Todas as vezes que dissemos adeus é bilíngue) para que pudesse mostrar seu povo. Para analisar esse ponto, remetemos ao que Pierre Bourdieu nomeou de “autorização” para falar, no que refere às condições sociais de produção e reprodução do discurso. O objetivo principal deste trabalho é levantar a discussão acerca do silenciamento de expressões literárias como Todas as vezes que dissemos adeus.
ORALIDADE E CULTURA: UM CONTADOR DE HISTÓRIAS NA SALA DE
AULA
Bianca Farias da Silveira (UFPB) O presente artigo relata uma experiência vivenciada em uma escola particular do município de Bayeux – PB, onde atuei como professora do ensino fundamental durante seis anos consecutivos. Nessa trajetória, observei dois fatores que poderiam estar

14
interferindo negativamente no processo de ensino-aprendizagem dos alunos da escola. O primeiro, foi a falta de interesse da maioria dos alunos pelos textos abordados nos livros didáticos, que em boa parte se distanciam da realidade deles, o que tem como consequência o “não gostar de ler”. E o segundo fator foi a falta de apreço pela cultura local, expressa em manifestações culturais com representação dos seus vários folguedos populares. Para tentar reverter ou pelo menos amenizar esse quadro, optei por desenvolver o projeto intitulado “Um contador de histórias na sala de aula: repertório e performance” na classe do 5° ano do ensino fundamental, onde exerci a função de professora dessa turma até o término do primeiro bimestre, do ano letivo 2007. Para a continuidade do projeto, depois que saí da escola, atuei apenas como pesquisadora, contei com o envolvimento dos alunos, da professora polivalente da sala, e, em especial, a colaboração do contador de histórias, Seu Zé do pandeiro. A pesquisa teve como objetivo geral demonstrar a viabilidade de inserir um contador tradicional de histórias na sala de aula, tendo em vista que os contos populares oferecem alternativas variadas de trabalho, com possibilidades de ampliar ou criar um repertório de narrativas orais, aumentando a percepção dos alunos para os textos orais que terão contato dentro ou fora da escola. Para embasar o projeto, sobressaiu-se, entre outros, os pressupostos teóricos de Cascudo (1972), Lima (1984), Ong (1998) e Patrini (2005). Essa experiência foi a mola propulsora para a construção da minha dissertação de mestrado, do curso de Linguística da UFPB e abriu caminhos para novos estudos na área da oralidade e da cultura popular.
OS CONTOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE LEITORES
Briele Bruna Farias Silveira (UFPB)
Este artigo tem como objetivo principal ressaltar a importância dos contos para o processo de formação de leitores e enfatizar que a performance dos professores-contadores é essencial para o envolvimento e desenvolvimento dos alunos. Os novos contadores utilizam uma matéria oral secundária, caracterizada pela escrita, diferentemente dos antigos contadores que usavam uma língua oral primária. O reaparecimento do conto nas bibliotecas pode explicar a ligação dessa arte com as práticas de alfabetização por meio de atividades que envolvem a contação de histórias, atraindo crianças e jovens. Tomou-se como pressuposto teórico os estudos de Benjamim (1994), Patrini (2005), Paz (2007), entre outros. Os contos chegam à vida do ser humano desde seus primeiros anos de vida e perpassam todas as fases dela, permitindo a compreensão sobre os planos, cultural, pedagógico, social e etc. Tornando a linguagem oral uma das primeiras formas de comunicação, fundamental para o desenvolvimento da leitura. Nesta perspectiva, a prática de narrar histórias é uma forma fundamental para a aquisição da leitura no processo de ensino-aprendizagem. O contador, além de tudo, proporciona uma troca de afetividade com os ouvintes, pois ao ouvir uma história se projeta um personagem, no qual acontecem momentos de emoções vividas pelos mesmos. Mas, para que este fascínio aconteça, é preciso que o contador tenha uma boa performance e alguns aspectos são muito importantes, primeiramente, ele precisa captar o gosto do ouvinte, ou seja, que tipo de história poderá envolver o público, selecionando os tipos de histórias que se adaptam aos ouvintes, fazer modulações de voz, saber dar pausas, direcionar o olhar, afinal de contas, o corpo fala. Entre os benefícios da contação de histórias na sala de aula estão: o desenvolvimento da oralidade, a ampliação

15
do repertório lexical, a reflexão crítica, respeito aos turnos de fala, suscitar o imaginário, sentir emoções, analisar o contexto, e principalmente, conhecer os aspectos inerentes a sua própria cultura, propiciando a interação social.
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO MUNDO: A CONTAÇÃO NA AULA DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL
Bruna Morelo (UFRGS)
Camila Dilli (UFRGS)
O curso de contação de histórias retratado neste trabalho foi elaborado em 2009 e é parte do quadro de disciplinas do Programa de Português para Estrangeiros (PPE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desde 2010. O curso está em sua oitava edição e já contou com a participação de estudantes chineses, coreanos, franceses, colombianos e, também, com uma turma exclusiva de estudantes africanos. Este estudo visa a apresentar e discutir, a partir da análise das edições do curso, a abordagem desenvolvida para o curso para o ensino de português como língua adicional através da contação de histórias. Para isso, descrevemos a criação do curso, as práticas desenvolvidas por professores, oficineiros, contadores convidados e alunos-contadores, os objetivos de ensino e a estrutura curricular decorrente dos mesmos, articulados às noções teóricas que os influenciaram: gêneros do discurso (Bakhtin, 2003), o trabalho por projetos (RCs, 2009; Barbosa, 2004) e a contação de histórias como performance (Zumthor, 2000). A proposta pedagógica vincula contação de histórias ao ensino de língua adicional por meio de um projeto pedagógico de ensino e aprendizagem que tem como produto final rodas de contação de histórias a públicos diferenciados, não somente constituídos por colegas e professores. Através da reflexão a partir das experiências nas oito edições do curso, alguns aspectos se mostraram determinantes para a concretização de objetivos e da abordagem apresentada: o prazer como guia das propostas pedagógicas; a consequencialidade da escolha da história; o improviso sobrepondo a memorização como elemento constituinte da interlocução na roda de contação; a contação de histórias é feita oralmente, sem leitura de texto escrito em voz alta; diversidade de dinâmicas para os múltiplos momentos de confrontamento com a leitura de histórias, seus enredos e sentidos; flexibilidade na sequência das atividades desenvolvidas no decorrer das aulas e do curso; coletividade no processo criativo da performance nos ensaios, por meio de avaliação pública pelos colegas e contadores mais experientes em ensaios abertos; cumplicidade para o desenvolvimento de um grupo de contadores; exercício de exposição pública e desinibição de alunos e professores; professores de diversas áreas, como línguas, dança, teatro e música, coordenando as atividades e sustentando as instâncias artística, lúdica e de aula de língua; a performance como unificação da história, voz e corpo. Projetamos a aula de Contação como um ambiente aberto para o lúdico, para novas maneiras de participação, que envolve engajamento físico, estar presente no desenvolvimento de todo o processo até o produto final do projeto.
SÉRGIO VAZ E JOÃO MELO: ABORDAGEM DE ESPAÇOS URBANOS
Bruna Borges de Almeida (UFRGS) Ana Lúcia Liberato Tettamanzy (UFRGS)

16
Tratando discursivamente de espaços periféricos urbanos paulistanos e luandenses, Sérgio Vaz – poeta e agitador cultural brasileiro formado nas ruas – e o angolano João Melo narram histórias envolvendo pessoas de diferentes etnias e naturalidades e com distintas trajetórias, que se encontram num mesmo território e nele enfrentam os mesmos obstáculos na vida cotidiana. Segundo Vaz, “histórias de um povo lindo e inteligente”. A partir desta observação e entendendo que a autoria se constitui no texto literário enquanto função, exercendo um papel em relação ao discurso, pretende-se analisar a forma como os autores representam os sujeitos e espaços sociais pouco privilegiados e como problematizam a autoria em seus escritos, ou seja, como a função autor está colocada nos discursos literários de ambos os escritores. Para tanto, utiliza-se como material de análise os livros Literatura, pão e poesia (2011) de Sérgio Vaz e Filhos da Pátria (2008) de João Melo. Servem como embasamento teórico as análises de Pierre Bourdieu (1996) sobre a gênese discursiva e as relações de poder que a perpassam; e de Michel Foucault (2006) na abordagem do poder do discurso, seus efeitos sociais e a função autoral. As análises de Foucault (1970) também contribuem para este estudo, levando em conta o discurso não só como um meio de disputas ou tradução de sistemas de dominação, mas como o próprio objeto pelo qual se travam disputas. Essa disputa por legitimidade discursiva no meio literário é encontrada com mais contundência nos escritos de Sérgio Vaz, que trata a literatura como o pão da sabedoria comungado pelos sujeitos periféricos que construíram um espaço próprio para o consumo dos bens literários, já que estão excluídos dos meios de circulação da cultura. Embora não da mesma forma, João Melo também atenta para a produção discursiva problematizando a relação autor x narrador x personagem e as perspectivas de narração.
VOZES FEMININAS NEGRAS: REFLEXÕES IDENTITÁRIAS NO CENTRO DE GIRO CABOCLO BOIADEIRO
Carla do Espírito Santo Xavier (UNEB)
A comunicação proposta diz respeito à execução de um projeto de pesquisa que tem como objetivo refletir acerca das identidades e trajetórias de mulheres negras do Centro de Giro Caboclo Boiadeiro (Candomblé Angola), em Teodoro Sampaio – Bahia. Neste sentido, uma questão fundamental é refletir sobre de que modo a experiência religiosa, através de rituais, mitos e arquétipos fundamentam as identidades e trajetórias destas mulheres. A citada pesquisa é de natureza qualitativa com base na Crítica Cultural, seu aporte metodológico, se define pela interpretação e análise de histórias de vida e narrativas memorialísticas de mulheres negras, também construídas através de entrevistas, observação das mulheres dentro e fora do espaço religioso, além de outras fontes de interlocução e informação que se nos apresentem no percurso dessa investigação. Uma vez que se trata de pesquisa inconclusa, a comunicação proposta deve apresentar resultados parciais do trabalho até então realizado.
A ORALIDADE NA NARRATIVA CARCERÁRIA: ORIGEM DO CONFLITO
Carla Zanatta Scapini (UFSM)

17
Em torno da primeira década do século XXI, houve a publicação de um número significativo de obras narrativas advindas de instituições penitenciárias brasileiras. De um lugar onde a voz desses sujeitos nunca foi ouvida, brotam escritas que buscam justamente construir um espaço para elas. São textos normalmente de cunho documental, que tornam possível conhecer aquele universo a partir de dentro, respeitando o olhar daqueles que viveram as experiências narradas. As narrativas são escritas ou pelo próprio presidiário ou por sujeitos que fizeram trabalho voluntário na prisão e narram a experiência resultante do contato com os presos. Bem, em se tratando de um seminário sobre as poéticas orais, a pergunta necessária é qual a pertinência de se trabalhar as questões da oralidade nessas narrativas criadas pela linguagem escrita. A verdade é que não há uma resposta pronta, mas uma forte percepção de que a oralidade pode ser uma das bases onde se fundam a tensão e a complexidade presentes nessas narrativas. Para além do conflito oralidade-escrita no próprio nível gramatical, que aparece em algumas obras produzidas pelo presidiário que até então não tinha familiaridade com a língua escrita, devo explorar, nesta exposição, o modo como a narrativa oral é o que possibilita a existência mesma de algumas obras carcerárias. Embora o leitor esteja diante de uma narrativa escrita, as histórias de vida dos presos que povoam alguns desses relatos só são conhecidas através da narração que o próprio preso faz oralmente ou para seus companheiros ou para o voluntário que escreve sua história. Há uma tensão aqui, que reside no fato de que, por um lado, o leitor só conhece esses relatos porque eles foram representados através da escrita, a qual é capaz de transcender os muros da prisão, mas, por outro lado, a linguagem da qual nascem essas histórias é, em primeira instância, oral. Nesse sentido, a indagação que norteia essa reflexão é aquela que pergunta quais os efeitos dessa tensão entre oralidade e escrita para essas narrativas, no que diz respeito à representação tanto dos sujeitos na prisão, quanto das temporalidades que os perpassam e, também, das relações que estabelecem com o passado através dos recorrentes relatos que contam oralmente para preencher o espaço monótono do cotidiano atrás das grades.
“O LUGAR ONDE VIVO”: DAS NARRATIVAS ORAIS INDÍGENAS À PRÁTICA DE LEITURA E DE ESCRITA
Carmem Vera Nunes Spotti (PUCSP/UERR/CEFURR)
Ana Aparecida Vieira de Moura (UnB/IFRR)
O presente artigo versa sobre a memória, a oralidade e as narrativas indígenas como parte do trabalho pedagógico realizado pelos professores nas escolas de educação básica das comunidades indígenas roraimenses. Este estudo traz como a narrativa oral indígena foi foco do trabalho pedagógico do Curso “O Processo Interacional nas Aulas de Língua Materna: Texto em Contexto” realizado pela Gerência de Linguagens, Códigos e Matemática, do Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima, como parte do Projeto de Pesquisa “Pontes”, coordenado pela Profª Drª Stella Maris Bortoni-Ricardo, da UnB. O curso nasceu da necessidade de instrumentalizar os professores nas atividades de sala de aula de leitura, de exercício da oralidade e de produção textual, com vistas a reconhecer a pluralidade de abordagens para produção de texto; criar o hábito de produzir textos nos diversos gêneros textuais e a desenvolver o gosto e o prazer pela leitura como forma de aprender, socializar e interagir com seus pares; analisar os diferentes suportes de circulação do texto oral, levando em conta os tradicionais como lendas, contos populares, etc. O Estado de Roraima tem presença

18
marcante da cultura indígena em sua formação social e populacional. Neste contexto, observa-se a ocorrência de conflitos gerados por demarcação de terras indígenas, o preconceito etno-linguístico e socioeconômico que envolve a sociedade regional, ocasionando a desvalorização da cultura dos povos indígenas, quer seja na língua, na sua história ou em sua cultura; e, por outro lado, uma forte organização política e a existência de práticas que visem à preservação da memória das comunidades, inclusive para que as gerações futuras possam dela usufruir. Em uma perspectiva dos estudos literários e com base nos estudos sociolinguísticos percebe-se que os aspectos dessa cultura são veiculados através da tradição oral, que tem nas narrativas um dos elementos produtores de identidades. Na utilização da teoria dos continua para a pesquisa do português brasileiro, exploram-se, segundo Bagno (2007) diferentes categorias da variação sociolinguística: diatópica, diastrática, diamésica, diafásica e diacrônica, conforme o objeto de investigação. Aqui, exploramos a diamésica no sentido de partir da oralidade à escrita, no registro das histórias orais e tradicionais vividas pelos povos indígenas. Espera-se com isso construir com os professores um conjunto de registros de suas práticas orais de modo a servir de repertório para a produção de saberes das práticas culturais para usufruto nas práticas escolares. Tendo como abordagem metodológica a etnografia colaborativa dos estudos linguísticos, adotou-se, para a recolha e geração de dados, a história oral e a formação de um portfolio com textos de diversos gêneros textuais produzidos pelos alunos, sob a coordenação dos professores cursistas e com a orientação da tutora do curso.
POÉTICAS ORAIS DA ILHA DOS MARINHEIROS: O CEGO E A BELA INFANTA
Carolina Veloso Costa (FURG)
Sylvie Dion (FURG)
O presente trabalho pretende apresentar as poéticas orais da Ilha dos Marinheiros, localizada no litoral sul do Rio Grande do Sul e pertencente à cidade do Rio Grande. Esta Ilha conserva uma riqueza literária e cultural imensa. Entre cantigas de reis, lendas, poesias e contos eis que surgem textos de origem romancísticas. O romance de tradição oral teve origem na Península Ibérica, foi difundido principalmente em Portugal, na Espanha e na França e faz parte das mais antigas manifestações literárias conhecidas pelos estudiosos e registrados em documentos oficiais da academia. Os romances registrados na Ilha dos Marinheiros em meados de 2011 são: Bela Infanta e O Cego, ambos encontrados em outras regiões do Brasil e do mundo com outras nomenclaturas. Desse modo, este trabalho apresentará uma análise desses romances, além de contextualizá-los na história dos ilhéus, em suas memórias e na oralidade de Dona Rosa, nossa principal informante. Ela costumava cantar e contar histórias, que aprendera com sua avó portuguesa, durante o trabalho ou por lazer. Os romances possuem por característica a canção com melodias melancólicas e são contados em formato de narrativas próximas de contos. Atualmente alguns romances são encontrados em poesias cantadas, cantigas de rodas, contos ou lendas, o Cego e a Bela Infanta inicialmente têm características de conto e logo em seguida passam a narrativas cantadas. O romance O Cego fala de um homem que se passa por cego para raptar uma jovem, em algumas versões com o apoio de sua mãe, pois ela apoiava a cortesia feita pelo homem, mas seu marido e sua filha não aceitavam; já em outras versões, a mãe insiste que ajude o cego contra a vontade da filha, pois em algumas regiões as pessoas

19
cegas são vistas como sábias e com um poder divino para enxergar além do normal. Já no Bela Infanta é contado a história de um teste de fidelidade imposto pelo marido, que passou anos na guerra e quando regressa a casa quer saber se sua mulher lhe foi fiel durante os anos de sua ausência. Ao não se identificar, a mulher oferece a esse homem tudo que tem em troca de informações de seu marido, supostamente morto. Na versão de Dona Rosa, a mulher é fiel e ele se identifica no final, em outras versões ela não é fiel ou não corresponde às expectativas do marido. Esse romance é o mais difundido no Brasil e representa a condição da mulher durante o período de guerra e conquista por territórios. A versão da Dona Rosa mantém a melodia original dos romances de tradição oral, com o tom melancólico, mas ainda assim, segundo sua família, era o romance favorito das crianças. Isso pode ser percebido na gravação, pois é possível escutar a voz de sua neta, pedindo para que ela contasse/cantasse esse romance.
FANZINES EM MANAUS – À MARGEM DO MERCADO EDITORIAL
Caroline de Assis Campos Pinagé(UFAM) Gabriel Arcanjo Santos Albuquerque (UFAM)
Este estudo apresenta uma análise inicial da pesquisa intitulada “Fanzine em Manaus - criação coletiva e produção literária”, que se propõe a investigar a produção, editoração e recepção do fanzine em Manaus e será baseada em estudo bibliográfico, qualitativo, analítico e quantitativo. Dentre os poucos trabalhos de pesquisa referentes ao assunto, cita-se “Fanzine e Rock’n’roll: análise histórica dos fanzines produzidos em Manaus no período de 1987 a 1996”, monografia de Sebastião Alves de Oliveira Filho, catalogada na Universidade Federal do Amazonas. Ainda como embasamento teórico serão referências as obras de Glauco Mattoso (1981), O que é Poesia Marginal, Carlos Alberto Messeder Pereira (2001), O que é Contracultura, além de pesquisadores da temática fanzinesca como Edgar Guimarães (2000), com a obra Fanzine e Henrique Magalhães (2003), com artigos como o “Mutação radical dos Fanzines”. Este trabalho analisa apenas o primeiro objetivo especifico da pesquisa que trata do tipo de produção fanzinesca realizada na capital amazonense. Este artigo inclui resultados preliminares do projeto de Iniciação Científica – PIBIC – a ser executado até julho de 2014 pela Universidade Federal do Amazonas.
CHAPEUZINHO VERMELHO: UMA POÉTICA DA VOZ NO SÉCULO XXI
Catharina Helena Salviatto Depieri (UEL) O conto “Chapeuzinho Vermelho” perpetuou-se na memória dos indivíduos através dos séculos. Essencialmente, fora transmitida pelo uso da voz. Posteriormente, essa narrativa foi compilada por Perrault no século XVII e no século XIX foi amplamente divulgada pelos Irmãos Grimm. Esse trabalho visa a analisar como a voz se presentifica em material escrito, especificamente nas releituras contemporâneas desse clássico da literatura infantil. Ao lermos as variantes escritas de “Chapeuzinho Vermelho”, averiguamos a movência dessa narrativa. A sondagem desses textos sugerem dimensões de um universo vocal, de uma poesia do aqui e agora, refletindo, em cada tempo e

20
espaço, elementos pertencentes às práticas culturais e sociais dos indivíduos. Partindo da teoria zumthoriana, analisaremos as variantes do conto “Chapeuzinho Vermelho” publicadas a partir do ano 2000 no Brasil, visando auscultar cada uma dessas obras, observando nestas, os índices e marcas de oralidade presentes na escrita, o diálogo com outros textos (intertextualidade) e outras vozes (intervocalidade), a ressignificação do texto, devido a sua atualização constante (conceito de movência), além de evidenciar os elementos culturais e sociais contemporâneos agregados a esses textos. Os livros selecionados para análise foram: Chapeuzinho vermelho: uma aventura borbulhante de Lynn Roberts; Chapeuzinhos Coloridos de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta; Chapeuzinho Vermelho recontado por Julio Emílio Braz; O casamento da Chapeuzinho Vermelho de Cleusa Santo; O casamento da Chapeuzinho Vermelho com o Pequeno Polegar de Costa Senna; Uma Chapeuzinho Vermelho de Marjolaine Leray; Chapeuzinho Vermelho e o arco-íris: uma história sem lobo de Marcia Muraco Schobesberg; Chapeuzinho Redondo de Geoffroy de Penart; Dois chapéus vermelhinhos de Ronaldo Simões Coelho; A verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho de Agnese Baruzzi e Sandro Natalini; Mamãe é um lobo! De Ilan Brenman, Chapeuzinho Anuncie aqui! Vermelho de Alain Serres baseado no conto de Charles Perrault; A peleja de Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau de Arievaldo Viana; Chapeuzinho Vermelho de Mauricio de Sousa e o romance A garota da Capa Vermelha de Sarah Blakley-Cartwright. Ressaltaremos os temas abordados nesses livros, enfatizando questões inerentes ao homem na contemporaneidade.
DO GRIÔ AO VOVÔ: O CONTADOR DE HISTÓRIAS TRADICIONAL AFRICANO E SUAS REPRESENTAÇÕES NA LITERATURA INFANTIL
Celso Sisto Silva (PUCRS)
Após um levantamento das funções sociais exercidas pelo tradicional contador de histórias africano (genealogista, guerreiro ou testemunha, historiador, porta-voz, diplomata, mediador de conflitos, tradutor-intérprete, instrumentista, compositor, cantor, professor, exortador da coragem em situações de guerra o competições esportivas, transmissor de notícias, condutor de cerimônias, emissário familiar em situações de corte, casamento, tomadas de posse e funerais), o trabalho se propõe a mostrar como esse artista da palavra vai perdendo suas funções na representação que ganha em várias obras de literatura destinadas ao leitor criança, assumindo desde uma voz oculta e às vezes pouco localizável até transformar-se na figura afetuosa do vovô que conta histórias. O artigo faz menção aos registros escritos dos contos africanos de transmissão oral nas coletâneas de contos populares de Silvio Romero, Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Câmara Cascudo e Monteiro Lobato em que já se pode reconhecer o “esvaziamento” de algumas funções do narrador oral tradicional, para por fim, demonstrar como autores contemporâneos da literatura infantil, como Rogério Andrade Barbosa e Ondjaki, mais especificamente nos livros da coleção Bichos da África (editora Ática) e A menina das cinco tranças (editora Companhia das Letrinhas) lidam com essa representação. O objetivo maior desta pesquisa é mostrar como a literatura infantil tem, de algum modo, contribuído para dar visibilidade às literaturas africanas de transmissão oral no quadro da cultura brasileira. O corpo teórico que sustenta o trabalho está vinculado às obras do pesquisador americano Thomas A. Hale, do antropólogo Sory Câmara e do escritor africano Amadou Hampatê Bá, no que se refere às funções do narrador de histórias tradicional. Para refletir sobre a transferência da espetacularidade

21
contida na performance oral dos narradores tradicionais africanos para o texto escrito, valemo-nos das pesquisas de Paul Zumthor e Frederico Augusto Garcia Fernandes. Para mencionar as matrizes culturais africanas, valemo-nos ainda das ideias da pesquisadoraElisa Larkin Nascimento. ANTONIN ARTAUD: PERFORMANCE COMO POESIA DO CORPO SONORO
Ceres Vittori Silva (UEL)
Frederico Augusto Fernandes (UEL)
Esta tese cartografa a peça radiofônica “Pour em finiraveclejugement de dieu” (“Para acabar de Vez com o Juízo de Deus”), de AntoninArtaud, a partir de experiências performáticas quando da leitura/escuta da obra. A peça foi editada ao final do ano de 1947, no entanto, não foi levada ao ar. Artaud, então, escreve o texto, que traz toda a oralidade desejada pelo autor na apresentação de sua obra sonora. Aqui se empreende uma leitura investigativa sobre a obra de Artaud, com especial atenção ao conceito de “corpo sem órgãos” (CsO). É o corpo refeito, que uma vez libertado de seus automatismos se abre para “dançar ao inverso”. “A voz bate, cava, a palavra é gesto e ato”. O método utilizado para o estudo do tema é cartográfico e conduz os objetivos da pesquisa na forma de percepção.O escopo da tese compõe-se de uma reflexão sobre a criação da poética do corpo em situação de performance. Aqui, criação é entendida como linguagem e assumida como articulação estética da arquitetura viva do corpo sonoro. A fragmentação na recepção da obra, dadas as sensações emanadas a cada experiência caracterizam a performance, o atravessamento e o devir. Este mapa de leitura também não se define previamente, só há caminho para ser caminhado.O texto da tese deve ser o mais oralizado possível, para carregar em si as propriedades expansivas da obra, conforme conceito de Zumthor e tal como Artaud o fez ao escrever o texto da peça radiofônica. A aproximação se dá sem perder de vista e colocando sempre em questão: que corpo é este? A construção de uma performance é ou passa sempre por uma desterritorialização. Tais eventos se dão no corpo, ponto de tensão entre arte e vida. Entendendo que a voz só pode ser capturada em movimento, a relação entre o que está escrito e sua atualização como um processo é fundamental para compreender a performance que também se realiza na leitura. A captura da voz poética não está apenas no significado semântico do texto, mas na tessitura do discurso poético, contaminado pela maneira como Artaud o transforma em voz. A atualização implica na variação entre o texto escrito e o corpo criado pelo intérprete durante a atualização. A performance, então, aparece como um corpo sonoro e a expressão vocal do performer, origina-se diretamente da execução do texto, da “palavra viva”. No esvaziamento do corpo, na busca de um corpo sem órgãos, na liberação da escrita de um molde fixado pela sintaxe e pela lógica, é que se formula a hipótese de um fazer poético: uma via de mão dupla entre a palavra escrita e a voz. O traço da memória destaca a importância da corporeidade da voz na composição do sentido do texto. A voz quer ser ouvida. E falada. Para tanto a voz tem que deixar existir o corpo.E há de ser um corpo sonoro, um corpo que fala.
A ATUALIZAÇÃO DO CONTO POPULAR EM GUIMARÃES ROSA: UM MOÇO MUITO BRANCO
Cláudia Lorena Vouto da Fonseca (UFPel)

22
A obra de Guimarães Rosa, quase que exclusivamente em prosa, divide-se em um romance, novelas e contos, além de um livro de poemas, publicado postumamente. Em nossa análise, selecionamos o conto “Um moço muito branco”,de Primeiras estórias, como exemplar da atualização, via linguagem, das formas do conto popular, característica marcante da obra do autor mineiro. O vínculo com a oralidade é também destacado, pois, no nosso entender, é determinante na sua estruturação. Em Um moço muito branco chama a atenção, também, o aproveitamento que o autor faz da História e de outros discursos, como o bíblico, além do fato de termos uma narrativa que se conta e reconta através de sucessivas gerações, as quais vão sobrepondo camadas à história original, transtornando-a. As vozes dos contadores, a voz da História, e mesmo as vozes que construíram o discurso religioso, acumuladas, instauram a polifonia, ao nível do discurso e do gênero.Guimarães Rosa comprova e ultrapassa as teorias do Conto conhecidas em sua época. Em suas narrativas, encontramos o amálgama das duas tendências humanas – a que busca o verdadeiro e natural, e o anseio pelo maravilhoso, atualizados. Essa atualização se dá sobretudo pelo uso incomum e muito particular que o autor faz da linguagem, palco de experimentações e instrumento de subversões. O universo do conto rosiano é medieval, arcaico, e caracterizado pela presença do elemento maravilhoso, o qual remete aos primórdios da narrativa de tradição oral. Analisamos, portanto, a situação de discurso neste conto e, trazendo as noções apreendidas dos estudos de Bakhtin, podemos afirmar que estas ajudam a esclarecer determinados aspectos da linguagem nele apresentada, a partir dos elementos que foram privilegiados nessa atualização pela linguagem.
PESCADORES DO RIO VERMELHO: POÉTICAS DO OFÍCIO
Clea Mota Santos (UNEB)
A presente comunicação em vídeo pretende mostrar a poética do ofício dos pescadores do Rio vermelho, a partir das narrativas orais abordando a trajetória de vida, vivências e as significações construídas no exercício da profissão. Esta comunicação é parte da pesquisa em andamento do projeto intitulado “Pescadores do Rio Vermelho: entre causos e lugares” que se propõe a investigar e discutir os pescadores e o lugar de construção das narrativas populares, situado na Linha de Narrativas, Testemunhos e Modos de vida do Programa de Crítica Cultural/UNEB. O projeto está sendo desenvolvido através da pesquisa etnográfica na Praia de Santana com pescadores da Colônia Z-1, no Bairro do Rio Vermelho em Salvador-BA. A Colônia Z-1 é o espaço destinado ao trabalho dos pescadores, aonde práticas culturais e tradicionais conduzidas por suas atividades cotidianas promovem saberes, constituindo redes de solidariedade, transcendendo a atividade pesqueira os limites familiares convertendo-se em atividade comunitária. E dentro desse contexto social adquirem realce também outros aspectos da cultura, nas tradições orais e folclóricas, temáticas de narrativas de histórias de vida, reais e imaginárias, percebendo que formam uma rede de contadores. A pesquisa tem priorizado a coleta e a análise das narrativas populares, com o suporte metodológico da História Oral (MEIHY, 2005) em Crítica Cultural, através dos causos contados pelos pescadores, atentando-se para as relações entre os elementos culturais presentes nas narrativas com os modos de vida de seus portadores, abordando dois fatores importantes no contexto em que esses pescadores estão vinculados: o mar (o trabalho) e a terra (o espaço urbano). Autores como Paul Zumthor, Walter Benjamim, Diegues e Arruda e Gioconda Mussoline propõem a reflexão teórica sobre alguns pontos da pesquisa ainda

23
em andamento, pois esta constitui uma constante aprendizagem e reflexão: pensar a pesquisa e como fazê-la, e ainda superar percalços que novos entendimentos e questionamentos se fazem presentes.
NARRATIVAS ORAIS DOS PESCADORES DO RIO VERMELHO
Clea Mota Santos (UNEB)
Esta comunicação oral pretende abordar questões teórico-metodológicas sobre as narrativas orais dos pescadores como forma de tradução e reflexão acerca da cultura, dando ênfase na voz e autoria do contador ao narrar histórias reais ou imaginadas. Quem nunca ouviu histórias de pescadores? Quantos causos teriam esses personagens para contar? O que temem e o que enfrentam no dia a dia? Quem é o pescador narrador? Que características peculiares estes possuem? Como narram suas histórias? Ao narrar, o sujeito se aproxima da sua situação existencial, pois a oralidade permite que o indivíduo encontre sua identidade e se sinta pertencente a uma determinada comunidade. As narrativas são construídas por temáticas que podem ir além de eventos históricos, cotidianos e ficcionais relacionados à trajetória de vida e do trabalho. E a partir desse contexto proponho uma discussão da pesquisa em andamento para a dissertação do Mestrado em Crítica Cultural na Linha Narrativas, Testemunhos e Modos de Vida, do projeto intitulado “Pescadores do Rio Vermelho: entre causos e lugares”, através dos causos contados pelos pescadores da Colônia Z-1 da Praia de Santana, no Bairro do Rio vermelho em Salvador-BA, traçando o perfil dos narradores, as influências da urbanização e elementos culturais presentes nas narrativas. O estudo dos causos possibilitará compreender que estes não são necessariamente organizados num sistema formal, mas que participa da vida cotidiana dos pescadores, que encontra nessas narrativas uma expressão simbólica para organizar e transmitir suas experiências – real ouvida ou imaginada; enfatizando também nesse estudo os aspectos envolvidos nas narrativas, como a expressividade corporal e vocal dos narradores, o contexto de espaço e tempo de atuação, a performance, a participação da audiência e o conteúdo transmitido. O corpus da pesquisa foi coletado a partir da Metodologia de História Oral (MEIHY, 2005), que está voltada para o estudo do tempo presente e se baseia na voz de testemunhos, e estudos referentes à vida social dos sujeitos, personagens populares e históricos, questões do cotidiano e na rotina da vida coletiva de gerações que vivem no presente. Teóricos como: Roger Chartier, Walter Benjamim, Paul Zumthor, sustentam a importância da própria ação de contar na constituição da vida social, independente da temática das narrativas, bem como pensar nessa pesquisa em andamento a caracterização do narrador como autor, um sujeito que se constitui a partir de sua arte verbal, a arte de narrar.
A TRADIÇÃO MEMORIALÍSTICA EM CANTIGAS DE TRABALHO DA EXPRESSÃO CULTURAL BAIANA: O BOI ROUBADO
Daiane de Araújo França (UEFS) Este trabalho propõe uma análise dos elementos simbólicos presentes nos cantos de trabalho do boi roubado uma expressão cultural da região sisaleira baiana que mistura

24
trabalho agrícola, música, arte, fortes características cênico-teatrais e a presença de rituais bem ao modo do homem e da mulher camponesa. Para quem não conhece, essa prática constitui-se num esforço conjunto a fim de acelerar as tarefas do campo de interesse imediato de um dos trabalhadores. A intenção é compreender a diversidade cultural baiana a partir dessas narrativas orais que sinalizam uma prática significativa de manifestações de solidariedade e divertimento construídas nesta vivência. Tais elementos evidenciam essas narrativas como espaço de preservação da memória local e do imaginário coletivo. Os pressupostos metodológicos seguem uma abordagem qualitativa, que tem como foco de interesse os estudos culturais relacionados ao tema da arte verbal e de conceitos da Antropologia e da Etnografia. Este estudo lança mão de visitas às comunidades, observação direta do boi roubado, realização de entrevistas, transcrições das entrevistas e de trinta cantigas (segundo os parâmetros de Albán (1996), pesquisa bibliográfica e análise interpretativa dos dados. Quanto ao suporte teórico, fundamenta-se em historiadores e antropólogos como Burke (1989) e Thompson (1992), em críticos literários como Benjamim (1994), Silva (2003) e Caldas (2005), nos estudos culturais de Bhabha (2001), em filósofos como Ricouer (1997) e no medievalista Zumthor (1993; 1997; 2007. Diante da riqueza temática, estilística e cultural das cantigas, percebe-se que estas revelam fortes valores, crenças e indagações compartilhadas de maneira poética e lúdica, por meio das metáforas, do imaginário, das trocas simbólicas, dos acontecimentos cotidianos, das demonstrações de saudades, de solidariedade, do amor, da importância da natureza para o homem do campo. E, ao fazer a análise desses elementos simbólicos da cultura, pode-se afirmar estes se constituem elementos continuadores da tradição oral. Esse fato ratifica as propostas deste estudo e abre espaços para novas pesquisas que corroborem o patrimônio e a importância da cultura popular. AS PRÁTICAS ORAIS DAS REZADEIRAS: UM PATRIMÔNIO IMATERIAL
PRESENTE NA VIDA DOS ITABAIANENSES
Danielle Gomes do Nascimento (UFPB)
As rezadeiras, também conhecidas como benzedeiras, possuem uma importante função na parcela da sociedade que mantém usos e costumes tradicionais: estabelecer relações com o sagrado. Essa tradição tem a oralidade como carro chefe. Detentoras de um grande saber religioso são capazes de, por meio das rezas e dos rituais, curar males e devolver o equilíbrio emocional e físico àqueles que as procuram. Esse fato permite reconhecê-las na comunidade como pessoas de grande valor, sendo bem respeitadas, sendo consideradas como autoridade e por todos que reconhecem a validade de suas ações. O ofício que exercem é transmitido de geração em geração, de maneira que a pessoa que aprendeu ou foi escolhida para exercer tal ofício será responsável em escolher seu sucessor ou sucessora, passando-lhe seus saberes. A continuidade dessa cultura contribui para a preservação do patrimônio cultural, configurado em suas dimensões materiais e imateriais. No que se refere ao patrimônio imaterial, eixo norteador do trabalho, diz respeito às praticas e domínios manifestadas por meio dos saberes, ofícios, valores e as diferentes formas de expressão que compõe a vida social da coletividade. Nessa perspectiva, o trabalho tem como objeto de estudo o oficio das rezadeiras populares da região itabaianense, cujo objetivo será reconhecer e apresentar as práticas orais das rezadeiras, a partir dos relatos, memórias e performances. A pesquisa será realizada na cidade de Itabaiana, PB, por meio de gravação de som e imagem. Para este trabalho, serão apresentadas as vozes que presentificam lembranças e

25
práticas religiosas de duas rezadeiras. Elas, por sua vez contarão um pouco da vida religiosa, da pratica enquanto rezadeiras e outros afazeres. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa – parte do conhecimento empírico das rezadeiras a fim de apreender os significados do fenômeno social praticado por elas – da cura por meio das rezas. Como aporte teórico, a trabalho estará embasado nos princípios definidos pelo IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para identificação do Patrimônio Imaterial Brasileiro e autores que reconhecem a importância da memoria na coletividade – BERGSON (2011), HALBWACHS (2006), BOSI (2004), autores que fornecem subsídios para os estudos da oralidade e estudos linguísticos – ONG (1998), ZUNTHOR (2007) e BAKHTIN (2010), entre outros. De acordo com o que foi observado na vivência religiosa das rezadeiras, pode-se constatar que as rezadeiras ou benzedeiras fazem parte do cenário cultural brasileiro por possuírem habilidades religiosas para curar, proteger e livrar as pessoas de algum tipo de enfermidade espiritual ou física. Portanto, as rezadeiras estão presentes nos costumes religiosos tradicionais, identificadas como detentoras de saberese por seu oficio transmitidos por meio de transmissão geral, os quais devem ser reconhecidos como patrimônio imaterial de Itabaiana, uma vez que essa prática está enraizada na cultura oral deste município paraibano e em muitas localidades urbanas e rurais do país.
POÉTICAS ORAIS NA ILHA DE COLARES-PA: PROPOSTA PARA UMA CARTOGRAFIA DA VOZ E DA CULTURA
Danieli dos Santos Pimentel (UEPA)
A comunicação apresenta o mapeamento de narrativas orais realizado no município de Colares-PA. Nesse âmbito, o trabalho integra a pesquisa desenvolvida durante o mestrado que resultou na dissertação (Cartografias poéticas em narrativas da Amazônia: Educação, Oralidades, Escrituras e Saberes em diálogo), defendida em 2012 junto ao Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Inicialmente, o trabalho debruçou-se no estudo comparativo de narrativas orais presentes na novelística de Milton Hatoum – Órfãos do Eldorado (2008) e narrativas do imaginário oral da ilha de Colares. No intuito de aproximar o conjunto de textos orais, empreendeu-se uma imersão pelo campo da cartografia da cultura, enquanto método utilizado, a partir dos seguintes autores: Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995); Jesús Matín-Barbero (2002); Eduardo Passos e Virgínia Kastrup (2012). Em seguida, sustentado pelos estudos da Oralidade advindos de Paul Zumthor: A letra e a voz (1993); Performance, recepção, leitura (2000); Introdução à poesia oral (2010); além de autores como: Jerusa Pires Ferreira (1991) e Frederico Fernandes (2002) perpassando ainda, pela abordagem da Semiótica da cultura, nesse percurso, inserem-se as teorias de Eleazar Meletínski (1987) em a Poética do Mito; Os arquétipos literários e Irene Machado (2003) em Escola de semiótica: a experiência de Tártu-Moscou. Consecutivamente, ao longo do trabalho, a aproximação de matrizes orais se deu à luz da Cartografia e da Semiótica da cultura, nessa perspectiva, como possibilidade de alargamento da proposta, introduz-se o recorte aqui apresentado – o estudo de composição e montagem do mapa das poéticas orais referentes ao imaginário oral da ilha de Colares-PA. Frente ao tema proposto, objetiva-se expor junto à comunidade acadêmica os repertórios narrativos de três narradores: Terezinha Monteiro, Normalina Cardoso e Manoel Rodrigues. Tendo como eixo central a apresentação do estudo das poéticas orais no município de Colares-PA, neste recorte, cabe ainda a possibilidade de

26
apresentar uma pequena amostra das formas narrativas cartografadas no locus da pesquisa. Ademais, o objeto de estudo, ancora-se no veio teórico e metodológico da literatura oral, nesse âmbito, os estudos de Oralidade advindos de Paul Zumthor seguidos de autores da Cartografia e da Semiótica russa também compõem os fundamentos da comunicação de pesquisa.
A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE DO NEGRO NA LITERATURA BRASILEIRA
Elenara Walter Quinhones (UFSM)
Anselmo Peres Alós (UFSM)
Este trabalho tem por objetivo discutir a representação literária da identidade do negro nas obras Quarto de despejo: diário de uma favelada (1960), de Carolina Maria de Jesus, e Contos negreiros (2005), de Marcelino Freire. As reflexões e as conceitualizações sobre identidade nascem na modernidade, uma vez que é a partir dela que o indivíduo torna-se o centro capaz de reivindicar a autoria sobre si e sobre o mundo. A personagem Carolina, protagonista do romance Quarto de despejo: diário de uma favelada, ao dar voz à favela, configura-se como um “sujeito sociológico”, pois sua identidade é construída a partir da interação com a sociedade em que vive. Através da sua reivindicação pelo direito ao discurso, o “objeto”, há tanto silenciado e excluído, passa a “sujeito”, pois é pelo discurso que se opera a construção e a desconstrução de identidades. Já na obra Contos negreiros, os personagens apresentam identidades fragmentadas, descentralizadas, como “sujeitos pós-modernos”. Esses descentramentos são ocasionados, na obra, pelas relações e pela visibilidade que esses sujeitos encontram (ou não) na sociedade representada no nível do discurso ficcional. Outro ponto de questionamento é a desqualificação do texto de Carolina Maria de Jesus pela sua mobilização do registro oral, tendo em vista que o texto de Freire manipula também o padrão coloquial, mas não recebe da crítica mais purista o mesmo desprestígio. Nesses termos, considera-se que a desqualificação não é relativa ao uso da linguagem e seus vínculos com a oralidade, mas pelo fato da autoria ser proveniente de uma mulher, negra e favelada. Além dessas considerações, a análise contrastiva dos dois romances permite uma problematização acerca dos lugares de enunciação ocupados por esses sujeitos.
A MEMÓRIA IDENTITÁRIA EM GUARDADOS DA MEMÓRIA DE ANA CRUZ
Emilene Corrêa Souza (UFRGS)
Entende-se por memória a capacidade de conservar e recordar experiências passadas, correspondendo àquilo que ocorre ao espírito como consequência de acontecimentos já vividos. Trata-se também da exposição ou relato, na forma escrita ou oral, de um episódio ou de uma série de episódios narrados mais ou menos de modo sequencial. Sua função geral consiste em reviver ou restabelecer acontecimentos passados com maior ou menor consciência do que o momento presente, sendo este um ato de revivescimento. Como identidade, considera-se ser um conjunto de características que diferenciam uma pessoa de outra, de forma a individualizá-la, tornando-a, assim, idêntica. Nesse sentido,

27
memória identitária seria parte da construção do ser humano como indivíduo autêntico a partir de lembranças de si e de determinado grupo com o qual se identifique por possuírem atributos semelhantes. Nesse sentido, a partir de autores como Iván Izquierdo, Jacques Le Goff, Santo Agostinho, Henri Bergson, Paul Ricoeur, Maurice Halbwachs, Zilá Bernd, Stuart Hall, Renato Ortiz, Sarita Amaro, entre outros, o presente trabalho propõe averiguar como se dá o processo de construção da memória e da identidade na poética afro-brasileira da escritora Ana Cruz, realizando seleção e comparação de alguns de seus poemas na obra Guardados da memória (2008). Conforme breve análise da obra mencionada, verificou-se que Ana Cruz levanta temas significativos para o estudo da memória identitária do negro, tendo em vista a diversidade de temas e tipos de vivência elucidados em sua poesia. Cabe ressaltar que a autora é representante da vertente mais contemporânea da literatura afro-brasileira, tendo começado a escrever no final da década de 1990. Em sua poesia demonstra o amor pela cultura e os costumes africanos através de sua história de vida, relatada em momentos de autoconhecimento, amor ao próximo e a si mesma. Sua linguagem, muitas vezes coloquial, nos permite entender seu objetivo ao declarar o desejo de que seus filhos tenham tanto orgulho de sua ancestralidade negra quanto ela, enfatizando a importância de preservar a memória nos dias de hoje. Outro traço marcante de sua escrita é a aparição de palavras que evidenciam uma personalidade sensível em sintonia com sua espiritualidade. Em seus poemas busca se reafirmar como negra, mas, acima de tudo, como mulher, dialogando com o leitor/a para que faça o mesmo, ou seja, para que dê o devido valor às mulheres na sociedade contemporânea que ainda mantém o caráter de desigualdade, verificando-se situações de discriminação com relação a gênero e etnia.
TAUTOLOGIA DA XILOGRAVURA DE CORDEL: ORALIDADE, TEXTO E
IMAGEM. Ênio Chaves Monteiro (UNIRITTER)
Vera Pires (UNIRITTER)
A presente comunicação objetiva tecer reflexões a respeito da herança tautológica visual medieval, presente nas xilogravuras do cordel nordestino. A representação gráfica simples e os textos, muitas vezes rimados do cordel, são versões de figurações da idade média, preservadas pela igreja em forma de herança cultural, quando a mesma usava da iconoclastia cristã(seja ela pictórica, escultórica ou gráfica) para arrebanhar fiéis, tornando-a fonte de arrebatamento e para fazer tementes os iletrados. A xilogravura, como parte da poética literária nordestina, torna-se tautologia do texto escrito, transcendendo seu estatuto gráfico e recontando a história ali gravada, cativando leitores de menor fluência cultural. Além de subverter a condição estabelecida por uma sociedade desigual, que priva o acesso aos meios de comunicação escritos, essa xilogravura possui função originária instigadora da visualidade e da oralidade. A partir dos estudos,IdeletteMuzart-Fonseca dos Santos, em Memória das Vozes: cantoria romanceiro e cordel (2006), a autoradescreve como a técnica de se gravar imagens em relevo sobre madeira se transcreveu da Europa para o nordeste brasileiro, podendo-se tecer um histórico dessa linguagem. A autora expõe características da manufatura desde a escolha da madeira (cajá, árvore frutífera abundante na região) até os primeiros autores como Bernardo da Silva, o primeiro poeta popular a introduzir a xilogravura no universo do folheto, que encomendava imagens do artista Inocêncio da Costa Nick,

28
conhecido por Mestre Noza. Por outro lado, já embasado em Ana Maria Galvão (2006) em Cordel: leitores e ouvintes pode-se ter uma visão do cordel contemporâneo, já mesclado a novas mídias e com uma preocupação mercadológica maior. Galvão atenta que a força estética da ilustração das capas dos folhetos tem função não apenas de ilustrar, mas, também, de atrair o leitor dando pistas sobre o que vai ser tratado na obra. Tal força estética é fundamental para representar o texto de forma rápida revelando a importância da xilogravura como alvo de interesse pelos estudiosos da literatura.
A VOZ INDÍGENA EM MEU TIO O IAUARETÊ, DE GUIMARÃES ROSA
Erich Soares Nogueira (UNICAMP)
A comunicação pretende dar continuidade à discussão sobre a Vocalidade em Guimarães Rosa, apresentada no I Seminário Brasileiro de Poéticas Orais e publicada no livro que resultou do evento, Cartografias da voz. O objetivo, dessa vez, é tratar especificamente do conto Meu tio o Iauaretê, de Guimarães Rosa, dando extensão a questões em torno da voz que haviam sido apenas pontuadas e apresentando novas relações interculturais entre esse texto rosiano e a cultura indígena. Em Meu tio o Iauaretê, a questão da voz se coloca de maneira determinante em diferentes instâncias narrativas. Primeiramente, a estruturação dialógica do conto ― de forma semelhante a Grande Sertão:Veredas ― coloca em relevo a voz de um onceiro que se dirige a um senhor de fora e, por extensão, a quem lê. Assim, o texto exige um certo deslocamento da visualidade de leitura para uma operação de escuta. Além disso, sabe-se que toda voz, porque é única e se ancora no corpo, é capaz de manifestar uma subjetividade ou apontar para uma singularidade encarnada. Essa questão é problematizada no conto rosiano justamente a partir do lugar cultural ocupado pelo narrador onceiro. Ele é mestiço, filho de índia com homem branco, mas essas duas vias de identificação ou de afirmação de sua individualidade ― a cultura materna e a paterna ― são problematizadas, restando ao narrador identificar-se com o animal que costumava matar: a onça. Isso se revela justamente por meio da fala do onceiro, que incorpora ao português mais de uma centena de vocábulos tupis, mas também por meio de sua voz, cujos sons e ruídos invadem a linguagem e pouco a pouco indicam-nos que esse personagem sofre uma metamorfose em onça. Num certo sentido, esse conto rosiano se elabora nas fronteiras culturais entre a humanidade e a animalidade, entre a palavra vocalizada e a voz animal sem sentido, bem como entre o português e o tupi. Por fim, a questão da voz se destaca pelo aproveitamento que Guimarães Rosa faz de uma das mais conhecidas lendas amazônicas, a lenda da Iara, uma sereia dos rios cujo canto e beleza atraem um jovem índio em direção à morte. A presença de mais esse elemento da cultura indígena, ainda que não inteiramente explicitado pelo autor, bem como a sua importância para a trajetória do onceiro serão apontadas a partir da análise de breve trecho da narrativa. Como horizonte teórico de nossa comunicação, considere-se a noção de vocalidade apresentada na obra de Paul Zumthor, mas também abordagens filosóficas sobre a voz, em autores como Adriana Cavarero e Agamben. A análise de Meu tio o Iauaretê também dialoga com textos centrais da crítica rosiana, como os de Haroldo de Campos, Suzi Sperber e Walnice Nogueira Galvão.

29
CORDEL, RAP, CURURU, CAUSOS E LENDAS: QUANDO A ARTE E IMAGINAÇÃO EXPRESSAS POR MEIO DA ORALIDADE CHEGAM ÀS
AULAS
Fabiana Aparecida de Melo Oliveira (Abdim) Géssica Torres Rozante (Abdim/USP) Natália Gomes Ferreira (Abdim/USP)
Laís Pereira Leonel da Silva (Abdim/USP) Amália Neide Covic (Unifesp/Abdim)
Por meio deste relato de experiência almeja-se trazer à tona ações e práticas pedagógicas desenvolvidas no Programa de Atendimento Escolar Ao Aluno da Associação Brasileira de Distrofia Muscular. Trata-se de problematizar experiências em uma instituição sediada na capital paulista, cuja principal característica é o atendimento ambulatorial a deficientes físicos. Desde 2011, tal lócus abriga um projeto de foco educacional cujo objetivo é atender pedagogicamente ao público-alvo ali em tratamento, bem como favorecer sua inclusão escolar em instituições da rede pública e privada de ensino por meio da parceria entre educadores desses diversos cenários. Também tem como alvo contribuir no âmbito da formação inicial e continuada de professores das diversas licenciaturas promovendo a produção e circulação de saberes entre as áreas da educação e saúde por meio da oferta de curso de aprimoramento. Cabe destacar que parcela expressiva dos alunos afetados pela distrofia muscular apresenta comprometimento no desenvolvimento neuropsicomotor revelando uma demanda bastante desafiadora aos profissionais da educação. Ressaltamos, como exemplo, o comprometimento em habilidades vinculadas ao domínio verbal e, de forma geral, ao âmbito da expressividade. A ampliação de repertório desses alunos, o favorecimento de seu contato com a literatura, o desenvolvimento de ações, por parte dos educadores, no sentido de garantir uma mediação que permita a apropriação de novos saberes, a experiência de conhecer/compreender e, inclusive, (re)criar narrativas tem sido o cerne das ações pedagógicas empreendidas pelos professores das áreas de Linguagens e Ciências Humanas e figura como o objeto deste relato de experiência. Em tal contexto, o contato com textos poéticos orais tem sido priorizado e o corpus empregado como elemento disparador das aulas remete a manifestações artísticas diversas como o cordel, cururu, rap, contos infanto-juvenis, contos tradicionais, causos e lendas de origens diversas, tais como indígenas, africanos, afro-brasileiros, entre outros. A significativa ampliação da expressividade dos alunos, o crescente interesse pelas atividades de contação de histórias, o desenvolvimento da capacidade de relacionar e comparar enredos/tramas e temas por eles recentemente conhecidos, a aproximação de muitos desses alunos à experiência da leitura, o desejo manifesto, muitas vezes, de também ser um contador/criador de histórias são alguns dos desdobramentos das aulas ora tomadas como objeto de estudo. Por compartilhar de uma concepção de ensino e, em certo sentido, do próprio conceito de literatura em uma perspectiva ampla, isto é, que incorpora o valor da experiência, que traz à tona a valoração da própria condição humana, que privilegia não o contato imediato e, muitas vezes, forçoso com textos tidos como cânones, com tópicos-chave da história da literatura, bem como com princípios de análise literária, elementos que, em geral, não contribuem para a formação de leitores entre os alunos da educação básica que iniciam seus estudos na área de Literatura, buscamos incitar o contato com a ficção, poesia e beleza que circulam e são produzidas em esferas das mais variadas de nossa sociedade.

30
ORALIDADE, MEMÓRIA E IDENTIDADE EM COMUNIDADES RURAIS DE
IVAIPORÃ-PR
Fabiana Francisco Tibério (IFPR) O projeto “Oralidade, memória e identidade em comunidades rurais de Ivaiporã” surgiu da necessidade de desenvolver ações educativas em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais de Ivaiporã e região. Subsidiado pelo Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social do Instituto Federal do Paraná, o projeto conta hoje com três alunos bolsistas. Nosso principal objetivo é desenvolver um trabalho que contribua para a valorização dos conhecimentos, saberes e valores do homem do campo e também do espaço rural, por meio da recolha de narrativas orais que oportunizem aos agricultores o compartilhamento de suas experiências e histórias de vida e possam servir de instrumento de afirmação identitária a esses indivíduos. São objetivos ainda: proporcionar a aprendizagem dos estudantes envolvidos, por meio de atividades de pesquisa; reunir os estudantes em redor das questões relativas às formas de expressão humana e ao papel da transmissão oral no desenvolvimento do homem e do grupo social; levá-los a compreender a existência e a validade de outras formas de transmissão do conhecimento que não a forma escrita; propiciar visibilidade às histórias de vida dos agricultores, cujas experiências são únicas. A motivação para o projeto surgiu da observação de que muitos agricultores da região têm um conceito negativo sobre si mesmos e sobre as atividades que exercem, o que faz com que muitos deles abandonem a terra e/ou incentivem os filhos a migrar para os centros urbanos à procura de uma vida diferente. A metodologia utilizada consiste em realizar entrevistas gravadas com essas pessoas, que podem testemunhar sobre acontecimentos, modos de vida ou outros aspectos de seu cotidiano e do cotidiano de seu grupo social. Espera-se que as narrativas proporcionem aos entrevistados a possibilidade de rememoração e reflexão sobre suas próprias vidas e sobre seus valores e crenças. O material resultante das entrevistas será transcrito e analisado pelos estudantes e ficará disponível no campus para futuras consultas e projetos.
VOZES POÉTICAS FEMININAS: RESISTÊNCIA, SABERES EMANUTENÇÃO IDENTITÁRIA NO QUILOMBO DE HELVÉCIA
Gean Paulo Gonçalves Santana (Dinter PUCRS/UNEB)
Em Helvécia, extremo sul da Bahia, comunidade rural certificada em 2004 como remanescente de quilombo, observa-se que os cantos das mulheres narradoras tiveram grande relevância no processo de transmutação categorial de comunidade rural à comunidade quilombola, por propiciarem um intercambiar dos Espaços, saberes e transmissão: práticas culturais e populares. Assim, esta comunicação guia-se pelo objetivo de apresentar o contexto histórico de Helvécia, lugar e referência às ações e aos cantos das mulheres negras. Elas, atentas ao presente e, em diálogo com o passado, explicitam, através de suas vozes poéticas, experiências ancestrais presentes na memória em prol do reconhecimento identitário quilombola, fato que aponta uma projeção do espaço e a si mesmas, de modo que ambos saem da invisibilidade ao reconhecimento. Ao expressarem oralmente, essas cantadeiras, asseguram a perenidade do patrimônio

31
verbal junto à comunidade, de modo que, em suas vozes, ecos de outras emudecidas, ao longo da história, ganham visibilidade. O percurso teórico metodológico busca, nas reflexões de Hampâté Bâ (2010), conceitos em torno da tradição viva; em Paul Zumthor (2010), postulados sobre a poesia oral; em Walter Ong (1998), a psicodinâmica sobre a oralidade e, em Jean Derive (2010), a literalização da oralidade.
UM OLHAR SOBRE O LEGADO DAS NARRATIVAS ORAIS
Geice Peres Nunes (UFSM/UNIPAMPA)
Carlos Nogueira (IELT – UNL – Portugal)
Este estudo - que se inclui na linha temática “Espaços, saberes e transmissão: práticas culturais e populares” - tem o intuito de mostrar que a herança deixada pelos Irmãos Grimm não se resume aos duzentos e dez contos de fadas publicados em Kinder- und Hausmärchen. A leitura de tais contos continua a seduzir gerações de leitores e de ouvintes. Somando-se a isso, permite ainda inúmeras adaptações no terreno da literatura, assim como no cinema, na televisão, na música, nas artes gráficas, dentre outras expressões artísticas e midiáticas. Nesse sentido, no presente estudo destacamos que o legado dos Grimm está, também, no método de recolha e de edição que eles definiram e divulgaram, bem como na dignidade e notoriedade que vieram trazer tanto às literaturas orais e populares como à literatura infanto-juvenil. No contato com os contos populares, podemos argumentar a existência de diferenças no modo como um “iletrado” e um “letrado” convivem com estes textos, mas isso não diminui em nada a importância quer desta literatura quer da recolha dos Irmãos Grimm. Na observação de tal convívio, percebemos a universalidade dos contos maravilhosos (e de outros gêneros orais), a sua transversalidade social e cultural; e se percebe como numa recolha de literatura oral não devemos ignorar determinadas classes sociais ou profissionais nem certas faixas etárias (nem as mais novas nem as intermédias). Nosso objetivo, portanto, assenta-se em mostrar como os contos dos Irmãos Grimm assumem uma herança antiga e são eles próprios uma herança deixada às gerações vindouras. Os contos representam um legado que continuará a desafiar-nos desde a simples palavra que o designa: “conto”. Portanto, “popular”, “oral”, “tradicional”, “folclórico”, “de fadas” ou “maravilhoso” serão termos sempre insuficientes ou demasiado ambiciosos para catalogar os contos que nos colocamos a pensar.
ENTRE ESCRITAS E MEMÓRIAS ECOAM VOZES FEMININAS
Gislene Alves da Silva (UNEB)
As mulheres por muito tempo tiveram o seu acesso ao texto verbal negado, e não lhe foram permitido o registro com produções escritas. Para essas mulheres à condição de escritoras não foi facilitado e muitas vezes negado. Isso se reflete ainda nos dias atuais, pois é, somente no século XX que ocorre uma tímida abertura do mercado para a publicação de autoria feminina. Se para a mulher, em geral, foi lhe negado vários direitos, entre eles o do acesso à leitura e escrita, à escola, no que diz respeito à mulher negra, em geral tudo isso foi impetrado com muito mais reforço e veemência. Dessa forma, se ao gênero forem atribuídos outros adjetivos, ou marcadores sociais, como raça, classe, geração, regionalidade etc., a exclusão, geralmente, se acentua. Diante

32
disso, o presente texto pretende trazer algumas reflexões em torno da questão: como é tornar-se escritora no interior do estado da Bahia, perpassando pela relação da origem da escrita destas mulheres com as experiências da oralidade vividas dentro do núcleo familiar? Essas reflexões foram feitas a partir das vozes das escritoras de Alagoinhas/Ba e região, em dois eventos, a saber: Modos de produção de escritoras de Alagoinhas e região realizado durante o 2° Fórum de Critica Cultural e II Seminário Sobre Modos de Violência Contra Mulheres e de Lutas a Favor dos Direitos Humanos e Roda de conversa: Conceição Evaristo e Escritoras de Alagoinhas e Região, realizados na UNEB Campus II. A comunicação proposta é parte da pesquisa inconclusa, portanto o texto deve apresentar resultados parciais do trabalho até então realizado. A referente pesquisa é de natureza qualitativa pautada em estudos de gênero e da crítica feminista e cultural.
PROJETO: CONTOS EM FANZINE
Graciela Palacios (UFRGS)
Este relato diz respeito à minha experiência docente em Estágio curricular obrigatório com uma turma de 7ª série, da Escola Sílvio Torres, de Porto Alegre, localizada no Bairro Agronomia, com alunos entre 13 e 15 anos, majoritariamente pertencentes a famílias de baixa renda. A proposta iniciou-se com uma atividade de leitura literária do gênero conto. Os alunos foram convidados a interpretarem o texto e construírem o conceito do gênero para em um momento posterior colocarem a sua criatividade a serviço da escrita de um conto. O trabalho com a escrita buscou orientar a elaboração de textos ficcionais que contassem histórias comuns ao cotidiano dos alunos. O ponto de partida foram dois contos inscritos na vertente literária denominada “literatura marginal”: Chão de Allan da Rosa e Yakissoba de Sacolinha. Como fechamento, o projeto incluiu a confecção de um Fanzine, no qual os alunos voltaram ao próprio texto e puderam incorporá-lo a um suporte textual diferente, de forma que os contos produzidos pudessem dialogar com outras linguagens, consoante o formato do tipo de publicação proposto, e também para que fosse propiciada aos alunos a oportunidade de colocarem a sua produção textual em uma situação efetiva de comunicação, observando-se os possíveis interlocutores entre os objetivos de produção. Entre os objetivos do trabalho estavam proporcionar o contato com textos literários que apresentam uma linguagem mais próxima da fala, forjar leitores sensíveis e mostrar o funcionamento da língua, a fim de promover a reflexão linguística. Parti dos conceitos sobre o termo “literatura marginal” do estudo de Erica Peçanha do Nascimento (2006) e das reflexões de Mei Hua Soares (2008) sobre formas de trabalhar essa produção com leitores jovens e de realidades semelhantes às das personagens e mesmo às dos autores.
ROMANCE, ORALIDADE E RESISTÊNCIA EM NOSSO MUSSEQUE
Gustavo Henrique Rückert (UFRGS)
Este trabalho tem como principal objetivo a análise da obra Nosso Musseque, do escritor angolano José Luandino Vieira, enquanto texto pertencente ao gênero romanesco, mas, ao mesmo tempo, inovador nas questões genológicas por utilizar a tradição oral africana em sua composição. Como aporte teórico, serão utilizados os

33
estudos de Ian Watt acerca do romance e as formulações pós-coloniais de pesquisadores como Stuart Hall, Homi Bhabha, Ana Mafalda Leite e Boaventura de Sousa Santos. Os romances tradicionais consolidaram-se com instâncias narrativas bem definidas por um narrador que, utilizando uma linguagem pretensamente referencial, possui total segurança acerca do conhecimento dos fatos diegéticos. Dessa forma, ele compõe com precisão personagens individualizadas, um quadro complexo com numerosas outras personagens para reproduzir um micro-universo narrativo de relações diretas e indiretas, um cenário bastante detalhado, um recorte de tempo linear e bastante demarcado. Já a obra em questão, assim como tantos textos africanos, é influenciada pela tradição oral dos missosso. Assim, o narrador de Nosso musseque assume-se não detentor de uma verdade acerca dos elementos diegéticos, apresentando, com incerteza, diversos pontos de vista dos mesmos fatos, incorporando estórias contadas, ouvidas e recontadas, anotações em um caderno e recortes de jornal, sem qualquer pudor da condição incoerente e contraditória que vai tomando a sua narrativa. Se Watt evidenciou que a ascensão do romance e a sua caracterização formal possuem um diálogo direto com o contexto de consolidação de uma classe burguesa, sobretudo na Inglaterra durante o século XVIII e na França durante o século XIX, a subversão dessas características formais que definiram o romance por meio da hibridação entre os gêneros modernos europeus (romance, jornal) e a tradição popular de contação de histórias local revela-se uma atitude de resistência dos romancistas africanos em relação ao colonialismo, uma vez que era a exploração das colônias que sustentava o sistema econômico e cultural da Europa nesses séculos de ascensão romanesca e consolidação burguesa.
A VOZ DA MATA: OS TRAÇOS TESTEMUNHAIS EM ORÉ AWÉ ROIRU’A MA: TODAS AS VEZES QUE DISSEMOS ADEUS, DE KAKÁ WERÁ JECUPÉ
Iarima Nunes Redü (UFRGS)
A literatura indígena, a qual ainda constitui um campo pouco explorado pelos estudos literários, tem como expoente no Brasil o escritor e pajé txucarramãe Kaká WeráJecupé. O primeiro livro de Jecupé, OréAwéRoiru’AMa: Todas as vezes que dissemos adeus (2002),narra o trajeto do autor em busca de suas raízes ancestrais, percorrendo aldeias e passando por iniciações espirituais entre os povos tapuia e guarani. A narrativa, que é manifestamente autobiográfica, é desencadeada pela cerimônia do Ni-mongaraí, o ritual de batismo, em que o até então Ka-káTxukarramãe receberá um nome nandeva e será aceito como membro da tribo. A partir desse momento, o narrador-protagonista relembra seu caminho, desde a diáspora do povo de sua mãe e sua chegada à aldeia Krukutu, em São Paulo, até seu caminho de conscientização dos indígenas e dos brancos, no ritual do Anhangabaú-Opá, passando pela sua relação muitas vezes traumática com a sociedade branca. O presente trabalho tem como objetivo identificar os gestos testemunhais constitutivos de Todas as Vezes que Dissemos Adeus, de Kaká WeráJecupé, pensando, também, as transformações sofridas pela voz indígena, parte de uma cultura eminentemente oral, ao tornar-se um relato testemunhal escrito, de forma a ser mais facilmente admitida na cultura grafocêntrica ocidental. Além de buscar os traços testemunhais na narrativa de Jecupé e de identificá-los com a voz indígena do narrador, foi feita uma reflexão acerca das estratégias de elaboração da memória em uma narrativa autobiográfica. As definições de testemunho utilizadas como base para este trabalho foram fornecidas por Tempo Passado (2007)de Beatriz Sarlo, Narrar o

34
trauma: A questão dos testemunhos de catástrofes históricas (2011) de Márcio Seligmann-Silva e A memória, a história, o esquecimento (2007) de Paul Ricoeur, os conceitos relativos a memória foram retirados de Memória e Identidade (2012) de Joël Candau e noções relativas a autobiografia vieram de O Espaço Biográfico (2010) de Leonor Arfuch.
DOS VOLTEIOS DO VERBO À GRAFIA DO CORPO: O SAMBA DE RODA NO UNIVERSO DAS LETRAS
IlmaraValois Coutinho (UNEB)
Compreender a importância dos textos poéticos orais ou das grafias do corpo, na área de letras, pressupõe abarcar construções poéticas integrantes da arte performatizada, universo multissensorial e multidimensional irredutível aos preconceitos ocidentais grafocêntricos ou ao limitado panteão dos gêneros eruditos. Nessa trilha, seguem as reflexões empreendidas no presente estudo, voltado a problematizar o lugar do samba de roda no universo dos estudos literários. Não no sentido de reivindicar sua inserção em qualquer cânone beletrista, mas de colocar questões acerca da existência de manifestações artísticas desterritorializadas em relação à compartimentalização racional moderna de saberes. Trata-se de um estudo bibliográfico voltado a problematizar o papel das (não)palavras pertencentes aos conhecimentos arquivados na voz, no corpo, no movimento, reconhecendo que é enquanto obra de arte performática de encruzilhada que o samba de roda efetiva sua apresentação na roda das “letras”, sendo elemento basilar para a educação de comunidades que convivem com no seu universo artístico-conceitual.
NOS REMOS DA ORALIDADE: NARRATIVAS ORAIS COMO EXEMPLO PARA A FORMAÇÃO DA CONDUTA RIBEIRINHA
Itamar Rocha da Cruz (UNEB)
Neste artigo, objetiva-se discutir, na narrativa “A Serpente da Ilha do Miradouro”, a castidade de Mariá, personagem principal deste gênero que faz parte da poética oral ribeirinha das margens do Velho Chico na região de Xique-Xique, no estado da Bahia. A partir desta personagem, busca-se refletir sobre o “lugar das moças virgens” vistas aos olhos da sociedade da época e da igreja que, por meio de um discurso moralista, determinava as normas sociais, a conduta a ser seguida pelas mulheres.O mergulho para dentro da narrativa conduz o leitor a uma viagem, na qual se pode, por meio desta, conhecer e valorizar a cultura de um povo que mantém, em memória viva, uma história, a qual veleja nos barcos junto aos pescadores ao longo do Rio São Francisco. Dessa forma, pretende-se aqui, ainda, questionar sobre o espaço atribuído às jovens castas, fazendo-se uma reflexão sobre a história, os conceitos e as características que deram embasamento para tais pensamentos nesta narrativa ribeirinha, transmitida de geração a geração por meio da oralidade e de suas práticas performáticas, argumentando, ao mesmo tempo, não só o papel de Mariá, a mãe desnaturada que joga sua filha n’água, mas a lição que teriam, como o exemplo da própria personagem Mariá, a qual manteve relacionamento sexual antes do casamento, pariu uma cria e se transformou numa serpente. No entanto, percebe-se de antemão, que, a igreja utilizava este tipo de

35
narrativas dentro da sociedade como uma forma de lição da moral e dos bons costumes, com intuito de as moças não perderem a virgindade antes do casamento e não se tornarem mais uma das prostitutas do perau, uma espécie de barranco da beira do rio que possuía vários prostíbulos nas imediações da Ilha do Miradouro. A pesquisa desenvolvida para tal estudo, ampara-se numa análise bibliográfica e literária e segue contribuições de autores como: Araujo (2010), Larrosa (1994), Foucault (1987), Ferreira (2004), Barbosa (2007). PECULIARES E RESISTENTES: RELATOS ORAIS E CANÇÃO DAS TRIBOS
CARNAVALESCAS DE PORTO ALEGRE
Jackson Raymundo (UFRGS)
Expressão artística oriunda da periferia de Porto Alegre, dentro da maior manifestação popular do povo negro (o carnaval de rua) e dando voz e protagonismo às culturas indígenas, as tribos carnavalescas são uma peculiaridade da capital gaúcha. Seus desfiles e sua organização assemelham-se ao das escolas de samba, porém com várias características distintivas. A temática é invariavelmente indígena; nela, são representados mitos, lendas, histórias dos povos indígenas através de um gênero lítero-musical próprio (o hino), de fantasias, coreografias e alegorias singulares e também da encenação, ato cênico que interrompe o cortejo para representar um ritual a partir do enredo contado. Todos os membros das “tribos” têm nomes indígenas, assim como as suas sedes. Elas já foram a maioria dentre as entidades carnavalescas de Porto Alegre (estima-se que chegaram a ser dezessete), mas perderam espaço com a crescente hegemonização das escolas de samba, persistindo hoje apenas duas: “Os Comanches” e “Os Guaianazes”. Este trabalho é fruto de pesquisa desenvolvida para a disciplina “Teoria e Crítica da Literatura Brasileira” (Programa de Pós-Graduação em Letras/UFRGS), ministrada pelo professor Luís Augusto Fischer no primeiro semestre de 2013. Dentro do desafio proposto pela disciplina, apresentado no subtítulo “Um modelo para a história da literatura brasileira e talvez americana: entre Idéias fora do lugar e Perspectivismo ameríndio”, a pesquisa teve por objetivo conhecer e aprofundar o que era essa manifestação artística de caráter urbano e popular, com uma canção própria (e gênero lítero-musical próprio), onde o índio é o centro (qual índio? Como ele é apresentado? Quem são as pessoas que fazem as tribos carnavalescas? Quais e como são as histórias contadas?).A pesquisa teve como principais referenciais teóricos: os estudos acerca da construção da identidade e da nacionalidade no Brasil, recorrendo-se a autores como Antônio Cândido (e o “instinto de nacionalidade” que marcou a literatura brasileira em diferentes épocas), Sérgio Buarque de Hollanda e Florestan Fernandes (ambos com contribuições fundamentais acerca da formação das raças no país); o perspectivismo ameríndio de Eduardo Viveiros de Castro, onde é apresentado um fundo cultural comum a todos os “ameríndios”, assim como a “inautenticidade” das culturas e a troca (e não a identidade) como o valor a ser afirmado; e, por fim, o próprio saber dos povos indígenas na concepção de canto e dança – que adquirem um caráter distinto da maior parte das culturas de “brancos”, já que há neles a comunicação com as divindades e a preservação das relações comunitárias, da tradição oral e da língua. O método desenvolvido teve a visita in loco às sedes das tribos carnavalescas e a conversa (registrada) com seus dirigentes, a pesquisa em jornais antigos e sites para consultar notícias e as canções das tribos, o estudo da bibliografia sobre o carnaval, sobretudo o

36
de Porto Alegre, além do aprofundamento a partir dos marcos teóricos anteriormente citados.
DEBATE REGRADO – DOMÍNIO DO ARGUMENTAR TRABALHANDO A ORALIDADE EM UMA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Jane Engel Correa(UNISINOS)
A atividade foi realizada em uma turma do 3º ano do ensino fundamental, em que foi ensinado a eles um gênero de texto no domínio do argumentar utilizando a oralidade. O objetivo era comprovar que a oralidade precisa ser ensinada e que o texto argumentativo pode ser trabalhado já no início da vida escolar, pois o que se vê em grande parte das salas de aula, no ensino de Língua Materna, é os professores utilizando com maior ênfase os gêneros escritos, em desmerecimento aos gêneros orais. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1º ao 5º ano (BRASIL,1997), ensinar a língua oral exige ação pedagógica que venha a garantir reflexão sobre a língua, respeito pelas formas de expressão oral com atividades que venham proporcionar o saber ouvir, refletir e argumentar. Ensinar o gênero argumentativo nas séries iniciais foi um desafio que surgiu em uma atividade proposta no projeto “Por uma formação continuada e cooperativa para o desenvolvimento do processo educativo da leitura e produção textual escrita no Ensino Fundamental”, desenvolvido junto ao Programa de Pós Graduação em Linguística Aplicada da Universidade do Vale do Rio dos Sinos-Unisinos, com apoio do Programa Observatório da Educação da CAPES. Este projeto, com base sobretudo no trabalho desenvolvido por Dolz e Schneuwly (2004), desenvolve a noção de projetos didáticos de gênero- PDG (Guimarães e Kersch, 2012), que aliam o ensino de gêneros do discurso (Bakhtin, 2003) a práticas sociais. A escolha pela oralidade, foi porque os alunos ainda não estavam inseridos no mundo da leitura e da escrita. Desta forma, a partir dos relatos diários destas crianças de cenas de violência que presenciavam na comunidade em que vivem e do interesse em ouvi-los e até mesmo poder aconselhá-los e ajudar a mudar esta realidade, surgiu o tema para a produção do PDG: “A violência no Bairro”. Diversas atividades fizeram parte das oficinas desenvolvidas durante o PDG, como a utilização de um texto literário que abordava o tema gerador, reportagem de jornal que trazia o assunto da violência no bairro, visualização de um debate televisivo, compreensão das normas para desenvolver um debate regrado e atividades linguísticas utilizando a norma padrão para o bom desenvolvimento do debate. Como o gênero é oral, houve a necessidade de utilizar a filmagem na primeira e última produção textual, para que os próprios alunos, após participarem de todas as oficinas pudessem assistir,avaliar e serem avaliados nestas produções. Ao encerramento do PDG ficou claro o avanço destes alunos, pois adquiriram o conhecimento sobre as regras de um debate, conseguiram melhorar a comunicação ao se posicionarem oralmente; bem como a mudança de postura que se evidenciou entre eles com relação ao respeito que devem ter sobre as diferentes opiniões. Desta forma, comprovou-se que: o domínio do argumentar e a oralidade podem e devem ser trabalhados em qualquer etapa escolar, pois a escola, dentro de sua função social, precisa formar cidadãos críticos e capazes de expor suas opiniões e serem compreendidos dentro da sociedade.
JOÃO GRILO: PÍCARO DO NORDESTE, JUSTICEIRO DO SERTÃO

37
João Evangelista do Nascimento Neto (UEFS) Se João Grilo tem nacionalidade incerta, já que habita o imaginário popular em diversos países, é no sertão nordestino que encontra acolhida. Em 1948, João Ferreira de Lima lança o cordel Proezas de João Grilo. No texto, o personagem ganha nascimento, infância e adultez. A vida do personagem assemelha-se à de tantos sertanejos, e, por isso, em João Grilo, a picardia ganha ares requintados. Se o pícaro clássico age tão-somente para garantir o direito à vida, João Grilo alia tal necessidade com o mais puro prazer de burlar os outros. Desde a infância, aprendera a rir dos outros. João, em cada ato, torna-se exemplo e imagem de uma camada social abandonada à própria sorte. Cada vingança de Grilo é uma vingança do povo que representa contra os poderosos e emissários do governo. Rir das ações do pícaro não é somente aprender a rir da sua própria situação, mas também crer que é possível vencer o nobre, sendo plebeu; subjugar o forte, sendo fraco; dominar o rico, sendo pobre. As atitudes de João Grilo diminuem o fosso entre os mais necessitados e os abastados. Sua luta é com as palavras. É a única arma que o humilde possui, sua voz. É certo que ela é fraca, quase inaudível aos ouvidos do poder constituído, mas, ainda assim, é uma palavra cortante, afiada, capaz de questionar, boa para insurgir contra os poderosos. É essa a arma de João Grilo. Este trabalho, pois, discute a construção da figura do João grilo, retratado nos folhetos como um justiceiro social, sua descrição física, psicológica, bem como a compreensão de seus atos enquanto meio de insubmissão das classes subalternizadas diante das injustiças que lhe são acometidas. E é por intermédio das palavras de teóricos como Zumthor (1993), Haurélio (2010), Abreu (1999), Suassuna (2007), Matos (2010), Santos (2006) e Araújo (1992) que o discurso do Amarelo é ouvido, questionado, proferido, analisado.
NAZARENO TOURINHO: TEATRO, MEMÓRIAS E MILITÂNCIA
José Denis de Oliveira Bezerra (UEPA)
O presente trabalho pretende apresentar a produção poética do dramaturgo paraense Nazareno Tourinho como ação pertencente à produção teatral moderna na cidade de Belém do Pará. Enquadra-se à minha pesquisa de doutorado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. Tal pesquisa objetiva discutir as poéticas teatrais modernas na cidade de Belém (1957-1990), entre a fundação do Norte Teatro Escola do Pará, e as últimas atividades cênicas do grupo Cena Aberta. Para tanto, vê-se nos estudos da Memória e da Oralidade, principalmente do método da História Oral, um meio para tal tarefa, pois se acredita que as experiências de vida dão suporte para se construir uma análise dos fatos, além de se interpretar o processo de construção simbólica, das representações de uma sociedade, de um grupo ou mesmo de um indivíduo. Assim, investigar as práticas cênicas é, também, compreendê-las como parte do processo cultural e de intersecções histórico-sociais. E nesse contexto, essa comunicação pretende apresentar o trabalho cênico e a militância política de Nazareno Tourinho como uma prática voltada para a reflexão dos aspectos sociopolíticos da região amazônica. Tourinho é um escritor dramático, nascido em Belém do Pará, em 06 de dezembro de 1934. Autor de várias peças teatrais de crítica social e documentação de costumes e fatos regionais foi eleito em 1969 para a Academia Paraense de Letras, onde ocupa a cadeira nº2. Com base em uma entrevista feita com o artista para compor o corpus da pesquisa de tese, e nas discussões de

38
WILLIANS (1999), BOSI (1994), THOMPSON (1992), ZUMTHOR (1997), SALLES (1994), POLLAK (1989), HALBWACHS (1990), FREITAS (2002), apresentar-se-ão aspectos de seu engajamento nos ideias comunistas, que refletiu em sua obra dramática; além de, a partir de suas memórias, analisar a produção artística na capital paraense, principalmente no meio teatral, para que se possam perceber aspectos poéticos e sociais dessa produção, partindo sempre da voz desse artista, matéria primeira de construção de fontes e interpretação da produção teatral moderna na Amazônia.
O ANCESTRAL – DA SAGA À NARRATIVA ORAL: A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO A PARTIR DE UMA HISTÓRIA FANTÁSTICA EM UM AMBIENTE FAMILIAR EM SÃO JOÃO D’ALIANÇA (GO) E EM SEU
ENTORNO
Jucelino de Sales (UnB) A pesquisa toma como corpus a saga de um dos pioneiros desbravadores do nordeste goiano, no entorno de Brasília (DF), ocorrida no século XIX. Trata-se da narração da história de um polonês que constituiu prole numerosa na região e inspirou no seio familiar uma narrativa oral fantástica com fatos desde que se expatriou de seu país e se estabeleceu no centro-oeste do Brasil. Entre os seus descendentes, narra-se oralmente que ao fugir de uma guerra em sua região natal (guerras napoleônicas?), escondeu-se na barriga de um cavalo para não perecer em batalha. Em seguida, atravessou um braço do mar a nado e, enfrentando muitas peripécias, aqui chegou. Aí ele foi capturado por índios antropófagos e só foi salvo, graças à intervenção de um padre. Na sequência, casou-se, nomeou os seus dois primogênitos Heitor e Aquiles e teve outros dez filhos. Os gêmeos se inimizaram posteriormente, a ponto de se calarem um para o outro e deram origem aos dois ramos da família que persistem até os dias atuais. A investigação procura reconstituir essa história oral e dar-lhe um fio condutor, por meio da recolha de depoimentos com os familiares descendentes, intentando revelar o funcionamento de como uma história que teve uma base real foi sendo permeada de elementos míticos, imaginários e fantásticos. Paulatinamente, a história foi se transmutando numa narrativa com cadência vigorosamente literária e chegou a inspirar pequeno poema épico escrito e publicado, intitulado Vozes do Cerrado. A interpretação faz-se com o suporte metodológico dos domínios dos estudos culturais e a convergência interdisciplinar entre história, literatura e outras áreas das ciências humanas. Citamos a história cultural, que propõe “decifrar a realidade do passado por meio das suas representações, tentando chegar àquelas formas, discursivas e imagéticas, pelas quais os homens expressaram a si próprio e o mundo” (Pesavento, 2003). Faremos uso da abordagem da história oral, quando Paul Thompson diz que “o uso da voz humana, viva, pessoal, peculiar, faz o passado surgir no presente de maneira extraordinariamente imediata. As palavras [...] insuflam vida na história” (1992, p. 41). Somaremos a isso os questionamentos de Paul Zumthor, em busca de uma reavaliação do campo literário eurocêntrico ou correlato, trazendo à baila a constante da voz. A palavra enuncia-se como lembrança, “memória-em-ato de um contato inicial, na aurora de toda vida [...]” (1997, p. 13). Já segundo Halbwachs e Ricoeur, ficam gravados e permanecem os artifícios de forças poderosas e aglutinadoras, senão identitárias, centradas, no caso, na figura desse ancestral fundador. No que concerne às reflexões literárias, tomaremos como contribuição os pensamentos de Roland Barthes, Octavio Paz, Hayden White, Carlo Ginzburg, Walter Ong, e Frederico Fernandes, etc. Em síntese, trata-se de um trabalho de intriga policial, nos

39
termos de Ginzburg, lançando-se no espaço fugidio dessa memória ancestral, cuja transmissão (literária?) organizou uma mitologia fundadora e popular deixando como prática cultural uma saga mítica (mirabolante), em que os descendentes semianalfabetos desse antepassado vêm garantindo a permanência dessa memória e a afirmação de uma identidade familiar, mesmo que a consideremos difusa e confusa.
A VOZ IORUBA: POÉTICA DA PALAVRA À OBRA VISUAL.
Julia Oliveira (UFSC)
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa voltada para a criação de obras visuais a partir da literatura relacionada aos deuses iorubas. Trata-se de uma série artística cuja origem poética surgiu de mitos e orikis relacionados aos orixás, elucidados pelos trabalhos de Antonio Risério com “Oriki Orixá”, Reginaldo Prandi com a “Mitologia dos Orixás”, e Babatunde Lawal com “Ori: the significance of the head in yoruba sculpture”. A textualidade criativa, ou o oriki iorubá, desconheceu por completo a caligrafia, afirma Risério; o surgimento dos mitos e sua continuidade na composição dos atributos aos orixás estão cuidadosamente organizados por Prandi; já a filosofia existente por detrás do pensamento cultural-religioso do povo iorubá é desenvolvida pelo professor Lawal. Contando com este escopo, os objetivos propostos aqui são: a apresentação de comunicação oral com enfoque no processo de pesquisa criativa em artes visuais, bem como o lançamento da exposição de artes visuais “A Voz Iorubá: poética da palavra à obra visual” que vem sendo elaborada desde 2010. Leva-se em conta o processo e os documentos do percurso criativo. A pesquisa contou com a passagem pela cidade de Salvador e suas principais instituições como o Museu de Arte Moderna da Bahia, e as Universidades Federal e Estadual (UFBA e UNEB). Os estudiosos apontam para a dificuldade em se distinguir, dentro da comunicação oral africana, o que é ou não é literário, sem contudo deixar de realçar a força do fazer poético da cultura iorubá. Esta poética conta com a força da crença na natureza e do jogo rítmico e criativo de um limiar homem-natureza. Tanto os mitos quanto os orikis resgatados nas fontes citadas procuram respeitar a hesitação entre forma e conteúdo, sem submeter as poéticas a uma ocidentalização demasiadamente rigorosa. As obras visuais, então, prestaram atenção a elementos, de ordem poética, mitológica e antropológica, e dialogaram com a plasticidade dos terreiros, das insígnias, e das criações visuais de artistas como mestre Didi, Ruben Valentim, e Carybé. Percebe-se, em alguns momentos, o diálogo com uma certa vanguarda moderna e o surgimento de uma linguagem sintética, e às vezes, até geometrizada. Não obstante, o processo criativo segue ininterrupto, e para além dos exercícios das formas e cores, consta também o trabalho de texturas e materiais característicos, como o cetim, a miçanga, os búzios e a argila. Aqui, então, propõe-se um trânsito disciplinar que contempla a perspectiva intercultural visada pelo III Seminário de Poéticas Orais.
O “PORTUNHOLSELVAGEM” DEDOUGLASDIEGUES
Julio Souto Salom (UFRGS) Luciéle Bernardi de Souza (UFSM)

40
Apresentamos a singular proposta estética de Douglas Diegues, denominada por ele “portunholselvagem”.Com esta poética, Diegues explora a fala da fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, misturando o português, o espanhol, e o guarani (e outras línguas indígenas). Diegues desafia os conceitos ortodoxos de “gramática” e “cânone literário nacional”, a propor uma linguagem híbrida e “transfronteriça”, atravessada por vozes que ficariam silenciadas na escrita “gramaticalmente correta”. Esta experiência e desenvolvimento da sua obra, que vai desde sonetos até narrativas breves ou poemas em prosa. Grande parte desta obra é publicada em pequenas editoras independentes (como “Travessa dos Editores”, em Curitiba) ou em “editoras cartoneras” (como “Eloisa Cartonera”, em Buenos Aires, “Dulcinéia Catadora”, em São Paulo, ou “Yiyi Jambo” em Asunción). Estas últimas se caracterizam 1) pelo seu processo de elaboração dos livros, reaproveitando papelão coletado pelos editores ou por coletivos de recicladores, com o que se confeccionam as capas pintadas a mão; e 2) pela sua posição “marginal” no circuito de distribuição, totalmente independente e exterior às grandes cadeias de circulação. Nesta comunicação, tentaremos relacionar as práticas editoriais com a proposta estética, de forma que a primeira é compreendida como condição de possibilidade e ampliação de significado da segunda. Para isso, com fins ilustrativos, apresentamos um singular exercício que Douglas Diegues emprega para o desenvolvimento de seu “portunhol selvagem”: a tradução livre, também chamada de “transdeliracione”. Realizamos uma leitura comparativa do conto “Monarcks atravessan o Apa”, de Joca Reiners Terron (publicado em Curva de rio sujo,Ed.Planeta,2003)e do mesmo conto “transdelirado al portunhol selvagem por Douglas Diegues” (Monarcks atravessam el Apa, publicado na editora cartonera “YiyiJambo”, 2007). Seguindo este exercício comparativo, tentaremos ir além do textual para realizarmos uma aproximação sociológica dos elementos para-textuais e extra-textuais das duas versões do conto, que irá da atenção a prefácios e glossários, até os aspectos materiais e os circuitos editoriais já comentados. Veremos como a “Yiyi Jambo”, fundada por Diegues e outros poetas em Asunción, adota a política editorial inaugurada por Eloísa Cartonera, obtendo edições “piratas” comum a ambígua “autorização do autor”. Assim, Yiyi Jambo publica textos de autoria de Douglas Diegues ou de outros autores do mesmo círculo (como Domador de Yakarés, Edgar Pou, Wilson Bueno...), mas também “traduções/transcriações/transdelírios” de autores em português ou outros idiomas (Manoel de Barros, Xico Sá, Ronaldo Bressane...). Estas editoras conseguem evitar “punições” simbólicas (posicionamentos contrários de agentes fortes do campo literário, como editores, críticos ou escritores consagrados) ou mesmo jurídicas (ligadas ao direito autoral) pela sua posição “marginal” ou “alternativa” em relação ao circuito editorial dominante, o que faz com que não sejam percebidas como “concorrentes”. Com estas práticas editoriais, a proposta estética cresce para além do textual, descentrando a noção estabilizada de livro, e questionando a relação entre a prática da escrita/leitura e o processo material de produção e circulação que a envolve. Com isto, se abrem também novas possibilidades para experimentações estritamente literárias.
ACONTECEU EM GUAPORÉ: AS PERFORMANCES DE MEU PAI
Karen Cristina Bonatto (UFRGS)

41
Este trabalho constitui uma reflexão sobre as narrativas orais tendo em vista os processos envolvidos em sua produção e recepção. Apresentarei um vídeo do meu pai, Nilton Bonatto, contando histórias de sua cidade natal, Guaporé, e analisarei suas performances utilizando conceitos de teóricos que estudam as manifestações da voz. As práticas da voz permitem descobrir as raízes culturais de um grupo social. Quando registradas em vídeos, permitem evidenciar que o narrador comunica-se não apenas com a sua palavra, mas também com o seu corpo e com a sua emoção, de modo que a história ganha vida na relação ativa com o seu público. Parto da ideia de performance de Paul Zumthor (19917), que a define como umaação complexa pela qual uma mensagem poética é simultaneamente transmitida e percebida. A palavra, aqui no âmbito da voz, já foi a lei, já foi motivo de honra para o homem, já foi a base da sociedade. Com a consolidação da escrita pelos meios impressos e mais recentemente com a valorização da imagem e dos inúmeros recursos midiáticos, ela foi perdendo a força, ainda mais quando se trata do dizer poético. Com pouco tempo para parar e ouvir o que outro tem a contar, as relações interpessoais tornaram-se, a meu ver, mecânicas demais; e esse contato com o outro é o que há de mais sublime nas manifestações orais. Victor Vich e Virginia Zavalla (2004) trazem a ideia do testemunho, que transmite o mais característico do ser humano: a experiência e sua representação, o viver e o falar. Mas não é possível narrar todas as experiências, tudo o que se viveu. O testemunho seria, então, o que é dito dentro dos limites do possível e do impossível. O narrador escolhe o que vai contar e de que forma irá contar, analisa os fatos vividos ou vistos e os relaciona com sua identidade, tornando-se autor do que foi contado, mas também de uma memória compartilhada.
GÊNERO HQ: ESTIMULANDO A ORALIDADE
Karine Ramos da Rocha (UFPA) Márcia Cristina Greco Ohuschi (UFPA)
O presente artigo ressalta a utilização do gênero Discursivo História em Quadrinhos como uma maneira de reforçar o processo de ensino aprendizagem da Língua materna em sala de aula, tendo como foco de estudo a oralidade. A expectativa deste estudo teórico-prático visa compreender e relacionar a linguagem na leitura do Gênero Histórias em Quadrinhos, tanto em seu aspecto verbal quanto visual (ou não verbal) enfatizando o discurso oral, que será estimulado por este suporte, HQ. A ideia principal desta proposta é através deste gênero aguçar o lado critico do aluno, convidando-o a uma leitura expressiva da HQ proposta como se o aluno estivesse participando de uma peça teatral, seguido de uma interpretação textual, que o deixara seguro de seu discurso oral, podendo expressá-lode forma confiante,reflexiva, havendo interação com outros textos e outros indivíduos ao redor. A pesquisa se desenvolve seguindo perspectivas teóricas de Bakhtin (2003) e outros autores expositores da mesma vertente. Logo, realizaremos a análise de uma História em Quadrinhos da turma da Mônica, autor Mauricio de Souza, elaborando uma didática para se trabalhar em series do fundamental baseando-se em metodologia proposta pelos teóricos Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Para se trabalhar com gêneros discursivos em sala de aula a principio deve-se fazer um reconhecimento do gênero escolhido Professor /Aluno, o que em nosso caso é o gênero HQ. Em seguida apresentar os benefícios deste gênero para que eles se sintam estimulados ao aprendizado. Após uma breve abordagem sobre reconhecimento do gênero de nossa pesquisa, propomos a leitura seguida pela análise desta HQ e por

42
questões didáticas, separamos as questões pelos elementos que constituem os gêneros (contexto de produção, conteúdo temático, construção composicional, estilo), além das questões de leitura (compreensão e interpretação do texto). Nossa proposta é que através desta atividade o aluno possa explorar suas ideias através da comunicação oral, estimular a prática de análise linguística, aguçar a opinião, criatividade, humor, ou seriedade, abordando assuntos diversificados; político, ambiental, religioso,entre outros. Os resultados demonstram que o gênero em questão possibilita a realização de um trabalho positivo com os alunos tornando-os mais eficientes e mais críticos tanto na leitura,escrita e principalmente aperfeiçoando sua comunicação oral.
DO FUNDO DO RIO ÀS MARGENS DO IMAGINÁRIO: NARRATIVAS, PERFORMANCE, EDUCAÇÃO E MEMÓRIA
Kezya Thalita Cordovil Lima (UEPA)
Este texto é um recorte da minha dissertação de mestrado, da linha de pesquisa “Saberes Culturais e Educação na Amazônia”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEPA (2012-2014). O objeto central dessa pesquisa são as narrativas orais, que têm como personagem a Cobra Grande do rio Mendaruçu Médio do Município de Cametá – PA, contadas por crianças naturais do rio. O trabalho visa entender a importância dessas narrativas na vida dos pequenos contadores de histórias, mais precisamente dos alunos de uma escola, localizada as margens do rio Mendaruçu Médio, bem como estudar o ato de contar que incorre em uma forma de educar por meio da voz e do sensível. O processo de pesquisa reflete uma preocupação direta em capturar as vozes das crianças, e seus perspectivos interesses. As crianças participaram como intérpretes, dando depoimentos, conversando, interagindo nas situações/experiências. As narrativas foram coletadas por meio de uma pesquisa de campo, e os intérpretes foram os alunos do 2º ao 5º ano. Para tal utilizarei como embasamento teórico os seguintes autores: para narrativas orais: ZUMTHOR (1993,1997,2010); LEITE (1995); FARES (1997); FARES (1999); FERNANDES (2002,2007,2007); FERREIRA (1993). Para falar de performance utilizei: FERNANDES (2002) e ZUMTHOR (2010).Sobre educação me apoiei em: BRANDÃO (1986,2002); FREIRE (2011) e CHARLOT (2009). Ao que se refere à memória meu aporte teórico são: LE GOFF (2003); BERGSON (2006); HALBWACHS (2004);FERREIRA(1996) e ZUMTHOR (2010). Por meio de metodologias em que o lúdico dialogue com o poético, atentando para que o trabalho para além da experiência investigativa aponte ao processo de formação de leitura e repasse da tradição oral dos pequenos intérpretes, que reconhecem nas águas seu quintal de terra fértil e sólida para suas histórias de vida, reconhecendo assim suas identidades culturais que, também se revelam por meio da voz. Ao contar suas histórias, os contadores mirins empregam os seus entendimentos, suas interpretações, o que nos seus imaginários infantis a narrativa da Cobra Grande representa.
CONTRATEMPOS DURANTE A VIAGEM À ÍNDIA, COM GONÇALO M. TAVARES
Kim Amaral Bueno (UFRGS)

43
Em Uma viagem à Índia, de Gonçalo M. Tavares, a viagem sugerida no título ganha alguns desdobramentos que transcendem à temática diegética da narrativa. O caminho “físico” percorrido pelo protagonista, de Lisboa em direção à Índia, é apenas mote para representar o deslocamento interno de Bloom, atravessando sentimentos que oscilam da culpa ao tédio, da necessidade de fuga à busca pela sabedoria. Em uma época dominada pela técnica, pela globalização da economia e pelo intercâmbio de informações em tempo real, pelo esgarçamento da imagem, pela convulsão de cartões-postais midiáticos e pela difusão infinita de livros, vídeos, registros de toda ordem sobre o mais recôndito canto da Terra, qual seria o sentido de uma viagem de busca pela sabedoria? Ou, de uma viagem de descobrimentos, sejam eles íntimos ou geográficos/históricos? A recuperação do mito camoniano ocorre pela profanação. Tavares constitui a epopeia de um único homem cujo nome fora emprestado por Joyce (e por toda a tradição literária) na qual não há mais nação, heroísmos nem glórias, apenas a fuga, o permanente trânsito. Operam-se também, na obra, deslocamentos formais da ordem da linguagem e do gênero. O modo como Tavares lê a modernidade se reflete na trama numérica estabelecida entre as centenas de estrofes distribuídas pelos dez cantos da obra. A potência poética profanadora de cada um destes estratos textuais produz um entrelugar, um ponto arquimediano poético/linguístico/narrativo capaz de problematizar, no indeterminado espaço da contemporaneidade marcada por um século cuja crença no progresso tecnológico viabilizou as grandes fábricas de morte, o homem que nele deseja conservar a sua “alma”, este elemento que, nas palavras de Tavares, ainda “não perdeu a atualidade”. A cartografia da viagem poético-narrativa de Bloom por entre o tédio, a fuga e a melancolia é traçada num plano cartesiano de ações, intenções e sentimentos cujo resultado é um Itinerário da melancolia contemporânea, subtítulo desta Viagem à Índia.
INSERÇÃO DA LINGUAGEM POÉTICA ORAL – UMA APOSTA NO RAP COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA.
Lais Pereira Leonel da Silva(Abdim/Usp)
Fabiana Aparecida de Melo Oliveira(Abdim)
Este relato de experiência tem por finalidade abordar a inserção da linguagem poética em aulas voltadas a alunos com necessidades educacionais especiais. Trata-se da problematização de ações pedagógicas realizadas em um cenário distinto da escola regular, haja vista que foram empreendidas no Programa de Atendimento Escolar ao Aluno da Associação Brasileira de Distrofia Muscular. Dentre as várias patologias que compõem o grupo da distrofia muscular, ressaltamos a distrofia de Duchenne, por ser a de maior incidência na população e por seu expressivo impacto no desenvolvimento neuropsicomotor. Assim, almejamos trazer à tona uma reflexão sobre os desafios do ensino na área de Linguagens junto a jovens e adultos afetados por tal doença. Nessa perspectiva, priorizamos questões inerentes ao ensino de literatura e buscamos refletir sobre os alcances e possibilidades do uso do rap nas aulas. Nesse sentido, valorizamos a importância de trazer à tona os gostos, interesses e repertório do aluno, bem como o rap como um canal de diálogo e aproximação entre professor e aluno. Para tanto, priorizamos uma reflexão sobre o conceito e ensino de Literatura, enfatizando a importância da oralidade em tal contexto e o conceito de rap, potencializando sua significação enquanto produção poética. Assim, exploramos o rap como uma legítima expressão artística, centrada na oralidade, e defendemos sua inserção em ações

44
pedagógicas valorizando seu contexto de produção e esferas de circulação, bem como considerando-o um elemento disparador, construtor e veiculador de conhecimento. A partir do conjunto de aulas empreendidas que, no caso deste relato de experiência, estão centradas em ações produzidas junto a um jovem de 18 anos, negro, não alfabetizado, afetado por distrofia muscular de Duchenne, ressaltamos o emprego do rap como recurso favorável à aquisição de maiores possibilidades de problematizar o mundo e aguçar o olhar crítico do indivíduo, bem como meio facilitador do trabalho vinculado ao campo da expressividade, elemento extremamente importante ao aluno com uma trajetória e percurso formativo tão singular como o são os alunos atendidos pelo Programa de Atendimento Escolar Hospitalar da Abdim e que, ao mesmo tempo, é também absolutamente válido nos outros tantos cenários em que o ensino na área de Linguagens se faz presente, principalmente nas escolas regulares.
RUY DUARTE DE CARVALHO: CAMINHOS DE UM POETA
ANTROPÓLOGO
Laura Regina dos Santos Dela Valle (UFRGS) A relação interdisciplinar entre a literatura e a antropologia tem florescido na escrita contemporânea. Alguns autores constroem suas personagens com base em longas pesquisas etnográficas. As vozes anônimas ganham vida ao serem traduzidas pelas vozes autorizadas dos escritores modernos. Desse modo, a ficção se transforma em uma maneira de dizer o que se vê nas diferentes culturas. Ver, interpretar, traduzir o mundo: a experiência passou a ser a inspiração literária de muitos autores modernos, e, consequentemente, a discussão envolvendo literatura e antropologia tem crescido de maneira produtiva e está abrindo caminho para novos estudos envolvendo os dois campos. Um bom exemplo disso é a escrita do angolano Ruy Duarte de Carvalho, que mistura elementos etnográficos em sua obra literária. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é mostrar como se configura essa relação nas obras Os papéis do inglês (2007) e Vou lá visitar pastores (2000). Em ambas o narrador-autor desde o início apresenta traços bio(biblio)gráficos inusitados. Cito como exemplo a constante retomada referencial de personagens que o acompanharam em suas “deambulações etnográficas” em Vou lá visitar pastores. Nessa obra o narrador/autor conta sua própria experiência antropológica e observa as experiências dos outros para contá-las à sua maneira. Observamos que o olhar de Ruy Duarte de Carvalho está voltado para os povos e as culturas africanas, tanto que, mesmo em Os papéis do inglês, a história desse ilustre representante do Ocidente adquire valor secundário no decorrer da obra. Duarte produz narrativas permeadas por questões de identidade, memória e autoria em que se alternam papéis assumidos ora por ele “mesmo”, orapelo “outro”. Para tanto, além da leitura das obras citadas, consideraremos conceitos como tradição e modernidade e pós-colonialismo a partir dos estudos de Laura Padilha, e discutiremos os pressupostos de James Clifford (2011) e ClifordGeertz (2009) sobre as aproximações entre antropologia e literatura.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A FORMAÇÃO DE ESCRITORES. UMA ANÁLISE DO MOVIMENTO LITERATURA URGENTE E DO PROGRAMA
TAL - TEMPOS DE ARTE LITERÁRIA

45
Leila Pinheiro Xavier (UNEB)
A reflexão sobre a necessidade de construção de uma política pública para a formação de escritores é motivada pela urgência em reparar a ausência de ações em prol da preparação sistemática para a escrita. Esse estado de exceção provoca uma desterritorialização das minorias. Opondo as ações realizadas por grupos de escritores contemporâneos que objetivam este empoderamento e as poucas práticas demandadas pelo poder público para fomentar a escrita temos uma trilha capaz de revelar pistas, sinais e caminhos para a elaboração de uma política realmente inclusiva e potencializadora dos grupos que sofrem este despejo linguístico. Este artigo se oferece como uma possibilidade para este confronto e portanto, propõe uma revisita ao quadro político-cultural referente à formação para a escrita literária no Brasil, num esforço de entrever o lugar que foi e é atribuído à produção literária autóctone, e objetivando propor “linhas de fuga” para “reterritorializar” os escritores brasileiros. Escolhemos nesta análise investigar o Movimento Literatura Urgente e o Programa TAL (Tempos de Arte Literária) da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Este exercício perpassa a compreensão do(s) sentido(s) que a língua/literatura/cultura e a produção discursiva assumem/assumiram em nossa sociedade, revelando como os processos de exclusão, presentes ao longo de nossa história atuaram como um dispositivo intimidador do potencial criativo e uma negação ao direito à palavra escrita, impedindo o empoderamento discursivo e originando o estado de exceção que vivemos. O estudo é também transversalizado por temáticas como o empoderamento discursivo para o qual separamos a obra "A ordem do discurso" de Foucault (1970) como o aparato teórico de que necessitamos para enxergar as subjetividades presentes nos despejos linguísticos que corroboram as interdições quanto ao uso da palavra. Deleuze e Guatarri (1977) nos auxiliarão no processo de entendimento do que representa o empoderamento discursivo para as minorias sinalizando caminhos que podem ser percorridos para que esta apropriação/reterritorialização aconteça. A partir deste esforço apostamos na abertura de um campo reflexivo de onde podem se originar propostas para uma formação voltada para a produção literária.
A TRANSCULTURAÇÃO NARRATIVA NOS “MANIFESTOS CURAU” DE VICENTE CECIM
Leomir Silva de Carvalho (UFPA)
Esta comunicação tem como objetivo analisar os “Manifestos Curau” como parte da narrativa transculturadora de Viagem a Andara: o livro invisível (1988) de Vicente Franz Cecim. Uma narrativa transculturadora segundo o crítico uruguaio Ángel Rama (1926–1983) é aquela que reorganiza os referentes da cultura regional utilizando-se de contribuições da modernidade. Esta comunicação utilizar-se-á do ensaio de Rama, “Literatura e cultura” (1982). Nele Rama propõe o que nomeia como narrativa transculturadora, que se evidencia na literatura de vertente regionalista, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, em escritores como Juan Rulfo e João Guimarães Rosa. Estes produzem obras nas quais a noção de regionalismo é ressignificada, ultrapassando a ideia de um localismo restrito, para um espaço transculturado, isto é, capaz de rearticular os dados da cultura da região. Realização que se constata na coletânea Viagem a Andara do autor paraense Vicente Cecim que recria elementos míticos e

46
naturais relacionados à região Amazônica por meio do onírico, do imaginário e da memória. Assim, no autor paraense observa-se que língua, estrutura literária e cosmovisão, de acordo com o conceito de Rama, se reorganizam em sua narrativa para além do descritivismo regional. Os “Manifestos Curau”, “Flagrados em delito contra a noite” e “No coração da luz” se inserem nesse contexto como norteadores de um discurso político-literário sobre a região. O primeiro, lançado em ato público na abertura do Congresso da SBPC de 1983 em pleno Teatro da Paz, segundo Camêlo (2010) “o Flagrados em delito contra a noite/ Manifesto Curau passou a existir para além de seu autor, numa performance corajosa e inesperada, porém planejada diante de autoridades civis, militares e eclesiásticas constituídas”. O segundo foi publicado no periódico Diário do Pará em 2003 no qual Cecim retorna ao primeiro examinando seu legado e lança um olhar sobre o futuro se questionando acerca do que ainda pode ser feito pela Amazônia.
A PRESENÇA INDÍGENA NA OBRA GRANDE SERTÃO: VEREDAS, DE JOÃO GUIMARÃES ROSA
Liana Depieri Amorim (UFRGS)
Guimarães Rosa é um dos mais importantes autores da literatura brasileira e isso ocorre por diversos motivos, principalmente por sua inovação linguística e sua temática, voltadas para um mundo deslocado do ambiente reconhecido como civilizado. Contudo, poucos questionam os caminhos que o autor trilhou para conhecer e retratar o mundo do sertão com tamanha maestria. Ao longo de sua carreira como diplomata, ele escreveu muitos artigos em jornais e periódicos que fazem referência ao contato do autor com comunidades indígenas. Estes textos, aliados à biografia de Guimarães Rosa, nos ajudam a entendersua literatura, inclusive a influência da presença indígena em suas obras. Grande Sertão: Veredas, por exemplo, está marcada pela história e pela cultura indígena que inspiraram o autor, com elementos tanto da mitologia como dos aspectos linguísticos das principais línguas indígenas faladas no interior do Brasil. Percebemos, ainda, o caráter performático que existe na obra, visto que o narrador, Riobaldo, está muito mais próximo de um narrador oral do que de um narrador típico de primeira pessoa dos romances da época. Desta forma, o objetivo do trabalho em questão é buscar a presença da figura indígena em Grande Sertão: Veredas, a influência que o contato do autor com tantas culturas indígenas exerceu em sua literatura, bem como identificar a oralidade intrínseca na obra. Para embasar este trabalho, será utilizada a teoria do Perspectivismo Ameríndio, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que nos ajudará a entender um pouco sobre a cultura indígena, iluminando o modo de pensar não ocidental; o conceito de performance de Paul Zumthor; a oralidade será discutida a partir de autores como Walter Ong e Ruth Finnegan; outras fontes como a biografia de Guimarães Rosa e, ainda, alguns textos publicados pelo autor servirão de base para a proposta aqui presente. UM HERÓI ÀS AVESSAS: DO “TATU” DO CANCIONEIRO POPULAR AO
TATU: RIMANCE, NOVELA DE DONALDO SCHÜLER
Lisana Bertussi (UCS)
“Um herói às avessas: do “Tatu” do cancioneiro popular ao Tatu: rimance, novela de Donaldo Schüler”. Tendo em vista a importância das composições poéticas do

47
cancioneiro popular gaúcho, reunidas no Cancioneiro guasca de Simões Lopes Neto (1910) e no Cancioneiro gaúcho de Augusto Meyer (1959), como configurações do universo regional gauchesco e a presença, nas duas compilações, do poema narrativo “o Tatu”, que é também motivo de fandango e uma espécie de fábula, em que esse animal representa o homem sul-rio-grandense, em todas as suas inserções sociais na História do estado, seja nas revoluções, seja nos movimentos de imigração e migração tanto de italianos quanto de alemães, e em suas relações pessoais com a mulher e os filhos, o estudo dedica-se a tomá-lo como uma desconstrução do mito do gaúcho, representação simbólica emblemática, traduzida em duas facetas: o monarca das coxilhas, por seu sentimento anti-monarquista, gosto pela liberdade e autonomia, que o caracteriza, e centauro dos pampas, por sua forte ligação com o cavalo, companheiro nas lidas diárias e nas contendas bélicas. E como esse poema narrativo foi motivo de diálogo intertextual para a construção da novela O tatu: rimance do crítico e escritor gaúcho, Donaldo Schüler (1982) essa inquirição coloca lado a lado os dois textos, para demonstrar o quanto a narrativa moderna é uma retomada da possibilidade de desconstrução da idealização, característica das composições da literatura regionalista gauchesca, tendência que vem desde as fontes populares do cancioneiro, e, reforçada pelo romantismo, chega também aos tempos modernos. Demonstra-se que a novela em questão apresenta um trabalhador rural, colocado como o Tatu numa posição de anti-herói, e, através do método comparativo, como ambas as personagens estão despidas das qualificações do herói, pela pobreza e condições inumanas a que estão sujeitas, e podem representar a opressão do homem comum num sistema que não lhes permite alçar-se acima da miséria que os acompanha, como é o caso do Capitalismo moderno.
RITUAL, ORALIDADE E PERFORMANCE NOS TERNOS DE REIS DE FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, BRASIL
Lívia Petry Jahn (UFRGS)
Este trabalho baseia-se na pesquisa de Doutorado empreendida por mim na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Esta pesquisa, realizada em diferentes pontos da Ilha catarinense, veio mostrar toda a rica cultura oral advinda de herança açoriana que ainda está presente em Santa Catarina. Uma das expressões da oralidade e do folclore catarinense é justamente o Terno de Reis. O Terno de Reis constitui-se em um grupo de músicos e cantores que visitam as casas dos vizinhos, parentes e amigos, levando canções improvisadas sobre o nascimento de Cristo e a chegada dos Reis Magos, em troca da atenção dos donos da casa, de comida e ás vezes de dinheiro. Esta, é uma tradição que surgiu na Idade Média na Península Ibérica e veio se estabelecer em terras catarinenses graças à colonização açoriana, permanecendo viva até os dias atuais. Em nossos estudos e recolhas, compreendemos que esta manifestação da oralidade e do folclore catarinense(Soares, 2007) obedece a toda uma série de regras da performance ( Zumthor, 2010; Schechner, 2012) e também do ritual (Schechner, 2012) visto que há todo um procedimento ritualístico envolvendo a cantoria e a visita ás casas das famílias. É nosso intuito, analisar então, a partir das recolhas feitas em Florianópolis, o aspecto oral, performático e ritualístico desta manifestação cultural, que, ainda em 2013, permanece viva e atuante nas comunidades ribeirinhas da Ilha de Florianópolis.

48
EDUCAÇÃO POPULAR FREIREANA COM JOVENS E ADULTOS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ
LyandraLareza da Silva Matos (UEPA)
Cristiana Gomes dos Santos (UEPA)
O Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP) vinculado a Universidade do Estado do Pará (UEPA) do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) realiza um trabalho pedagógico com os acompanhantes das crianças hospitalizadas na Pediatria da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Como base nos pressupostos teóricos e metodológicos de Freire, as propostas educacionais desenvolvidas pelo núcleo têm inicio através de uma pesquisa para o reconhecimento de aspectos sociais e culturais dos sujeitos, nelas são valorizados os saberes dos educandos (as) indispensáveis na construção dos conteúdos a serem abordados fomentando desta forma um ensino que se difere da prática de educação tradicional, onde não se leva em consideração estes contextos diversos, bem como levando em consideração as especificidades que este espaço educativo apresenta com relação a sua rotina. Dessa forma, as perguntas relacionadas ao contexto do viver dos sujeitos jamais poderão ser realizadas mecanicamente, para tanto ocorrem por meio da reflexão, diálogo e problematização da realidade, com isto inicia-se uma relação de amorosidade e respeito aos saberes dos jovens e adultos participantes. A partir disso, elaboramos os conteúdos de interesse dos sujeitos, partindo dos saberes deles e delas. As ações consistem na perspectiva ética-política e humanizadora, propondo problematizar a realidade de jovens e adultos com histórico de fracasso escolar, oriundos em sua maioria de cidades ribeirinhas e áreas periféricas de Belém do Pará. Os encontros pedagógicos desenvolvidos pelo núcleo possibilitam um repensar das práticas e à formação de educadores (as) e educandos (as) críticos e comprometidos com as mudanças inerentes a contemporaneidade evidenciando o caráter político da educação e seus desafios para a realização das atuações pedagógicas. A relação entre educadores (as) e educandos (as) ocorre de maneira amorosa e afetiva não comprometendo a rigorosidade metódica presente nos encontros. Este trabalho teve como objetivo geral viabilizar o relato de experiência das atividades sociopedagógicas desenvolvidas na Pediatria do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belém com jovens e adultos acompanhantes das crianças hospitalizadas. Tratou- se de uma experiência de extensão que ocorreu no período de 2008 a 2010. As atividades eram norteadas nas diretrizes teóricas e metodológicas de Paulo Freire tendo em vista no debate questões como: a flexibilidade do currículo; levantamento inicial e contínuo da realidade social; contexto significativo (tema gerador); dinâmica do cotidiano do encontro pedagógico; sujeito pensante; diversidade de saberes; variedade linguística; as produções dos educandos (as) como instrumentos de ensino e, desenvolvimento de uma prática política e ética considerando as falas dos educandos, seus desabafos, suas angústias, bem como, seus momentos de silêncio.
POÉTICAS AMAZÔNICAS:ESPAÇOS DA MEMÓRIA, ORALIDADE E
IDENTIDADE NA PROSA DE MARIA LÚCIA MEDEIROS
Lylian José Félix da Silva Cabral (UFPE/SESI-PE)

49
Este trabalho que se baseia na dissertação de mestrado com o mesmo título defendida em fevereiro de 2013 e que tem como objeto de estudo a obra da contista paraense Maria Lúcia Medeiros, aborda a relevância da memória para os estudos literários e contribui com uma perspectiva a ser lançada sobre a literatura brasileira produzida na região amazônica, por meio de um debate sobre identidade cultural e literatura, memórias e poéticas da oralidade. Ao lermos a obra da autora nos deparamos com um constante limiar, não só pela questão formal (prosa poética), mas, porque ficamos na zona limítrofe entre o global e o local, entre o que é interior e o que é exterior ao homem, entre o moderno e o tradicional. Encontramos, pois, o entrelugar em sua obra, que pode ser compreendido universalmente por tratar de assuntos que são inerentes ao ser humano – seja ele de uma sociedade considerada moderna ou tradicional –, como a solidão ou como o medo. Pensando por esse viés e compreendendo a complexidade que permeia os estudos literários que enfocam questões culturais, utilizamos como aporte teórico pensadores de diversos campos do conhecimento, dentre os quais podemos destacar os que abordam temáticas ligadas à memória e às poéticas da oralidade e promovem discussões sobre o espaço (local-global) e questões identitárias em sociedades modernas. Destacamos Paul Zumthor, Henri Bergson, Paul Ricoeur, Maurice Halbwachs, Ecléa Bosi, Edouard Glissant, João de Jesus Paes Loureiro, Amarilis Tupiassú, dentre outros. Tais autores foram escolhidos porque suas teorias iluminam os pontos principais que este estudo aborda. Ao término da pesquisa, identificamos os principais traços das poéticas da oralidade ligados aos aspectos mnemônicos existentes na obra de Maria Lúcia Medeiros, promovemos uma análise das poéticas que permeiam o imaginário da região, demonstrando que a sua literatura pode ser considerada amazônica por possuir uma identidade específica, além de identificarmos o que faz tal literatura ser capaz de dialogar com o universal.
ORALIDADE E RESISTÊNCIA: VOZES VIVAS NA POÉTICA DE JOSÉ CRAVEIRINHA
Luana Soares de Sousa (UFMT)
José Craveirinha, poeta moçambicano, produziu grande parte de sua obra nos anos anteriores às lutas pela independência de Moçambique. Nesse momento, os escritores buscam resgatar o país que foi historicamente oprimido pelos portugueses. Os elementos regionais, as personagens do cotidiano, o sofrimento e a miséria, entram em cena como forma de denúncia. Esse momento histórico vai incidir na escrita poética de Craveirinha, recheando seus versos de memória, resistência e utopia. Além disso, o poeta coloca em cena as vozes vivas do povo moçambicano, que foram historicamente silenciadas pela colonização portuguesa. Um aspecto importante que surge na poética de Craveirinha é a oralidade como reinvenção da tradição que foi dizimada pelos colonos. O resgate da oralidade é um instrumento de afirmação da identidade moçambicana. Nesta comunicação analisaremos alguns poemas do livro Karingana ua Karingana (1974) identificando como a oralidade se manifesta na poética de Craveirinha, assim como, os objetivos estéticos dessa manifestação oral. Uma das grandes polêmicas acerca da construção estética das obras moçambicanas será o uso da língua portuguesa. Sendo a língua portuguesa um elemento opressor e constituinte do colonizador, como o colonizado se apropria dela em sua própria defesa? Essa é uma das questões que serão

50
desenvolvidas ao longo dessa comunicação. Conduzirão-nos nessa proposta os teóricos da poesia Alfredo Bosi (2000), Paul Valery (1991), Octavio Paz (1982) e Antonio Candido (1996), assim como, as estudiosas das áreas de literaturas africanas de língua portuguesa, Rita Chaves (2005) e Ana Mafalda Leite (1991). Nos estudos sobre oralidade abordaremos a pesquisa de Ruth Finnegan (2012), sobre as literaturas orais em África, e as abordagens de David Olson e Nancy Torrance (1995) acerca da cultura oral e escrita. José Craveirinha foi uma das vozes em destaque no cenário literário de Moçambique. Na luta pela liberdade, o poeta plasma passado e presente, tradição e futuro, oralidade e escrita, natureza e cultura em sua poética.
VOZ, VISUALIDADE E TEXTO: DIÁLOGOS POÉTICOSPOSSÍVEIS A PARTIR DO TRABALHO ARTÍSTICO “FROM THE FOREST/DA
FLORESTA” DE LUANA COSTA E HEDI JAANSOO
Luana Costa (UFF) Este trabalho pretende aprofundar as investigações teórico-práticas realizadas durante o processo de criação da obra “Fromthe Forest/Da Floresta”, trabalho sonoro, textual e visual, criado por Luana Costa (Rio de Janeiro) e HediJaansoo (Bergen) durante a disciplina de Pós-Graduação “Voz, Texto, Coletividade”, ofertada pela UERJ e ministrada por Ricardo Basbaum no Brasil em parceria com Brandon La Belle,professor da Academia de Belas-Artes da Noruega. O trabalho em questão tratou-se de uma colaboração entre duas artistas que, apesar do distanciamento e das diferenças culturais, lograram encontrar um ponto em comum para dar vida a um trabalho de arte: suas florestas. De um poema criado por Luana Costa dedicado à Floresta Amazônica após sua viagem à Rio Branco, capital do Acre; e de uma imagem enviada por Hedi Jaansoo da floresta da Estônia (seu país natal) o trabalho começou a ganhar corpo. Seguindo as leituras e proposições sugeridas por Ricardo Basbaum no Brasil e Brandon La Belle na Noruega ao longo do curso nossa experimentação coletiva, sonora, e textual teve início. O poema foi levado ao campo sônico por Luana Costa através de experiências sonoras e gravações de sua própria voz; e a imagem da floresta estoniana foi editada em movimento circular e constante conjugada em looping à voz de Luana, de modo a criar uma poética da voz em uma linguagem artística múltipla, multimídia e singular. Provocando inquietações desde o início de nossas investigações, o objetivo desse presente trabalho será o de prosseguir as análises acerca da produção sonora (oralidades, leituras e suas derivações), intentando alargar as discussões sobre a emissão de voz, oralidades, produção de discursos (escrito, gravado), experimentalismos sonoros e fenômenos da linguagem. Na intenção e seguir borrando fronteiras entre a palavra, as artes visuais e artes sonoras, propor-se-ão por sua vez diálogos entre as possibilidades poéticas e às percepções e experiências culturais no/do mundo contemporâneo. Para tal análise nos faremos valer de referências teóricas do próprio Ricardo Basbaum (2007) e Brandon La Belle (2006), assim como de outros teóricos como Michel de Certeau (1996), Christoph Cox (2001) e Murray Schafer (1992).
ÉSÙ: O POETA CONTEMPORÂNEO
Luciany Aparecida Alves Santos (UFPB)

51
Esta comunicação pretende estabelecer aproximações entre o poeta contemporâneo e o Orixá Ésù a partir da suposição de que o poeta contemporâneo tece o tempo para enganar a morte, querendo eternizar-se no instante do aqui e agora. Ésù existe sempre no presente da ação do verbo. Ele é o Orixá sem o qual os tempos param e os espaços de presença deixam de existir. Èsù é a urgência da poesia que depois de cair no abismo da horizontalidade do papel, na queda desejosa de toque, quer ver-se de volta ao momento dinâmico do impulso, quer estar novamente na presença do espaço-corpo (performance). Não quer morrer no silêncio da queda. Mas quer voltar à vida. Estas aproximações entre Ésù e o poeta contemporâneo serão desencadeadas a partir da poiésis de Ricardo Aleixo. Teremos como base de análise sua performance Poemanto e poemas do seu livro Modelos vivos (2010). Ricardo Aleixo é poeta, músico, performador, ensaísta, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais em 1960. Estudaremos o poeta enquanto sujeito social contemporâneo que usa a poesia como ferramenta para comunicar-se com o tempo (seu e dos outros) num desejo de manter-se vivo. “É assim que eu vivo”, diz o poeta, “tentando observar o entorno. Não me colocando como centro do mundo, mas como uma hipótese de lugar (...) Me fazer no espaço essa é a grande questão pra mim” (Aleixo, Programa Diverso, 25/03/2013). Para Zilá Bernd (1988, p. 22) o conceito de literatura negra emerge da própria evidencia textual de um eu enunciador que se quer negro, que define “o lugar de fala como o seu próprio centro” (BERND, 1988, p. 96). Neste sentido para o escritor contemporâneo Ricardo Aleixo estabelecer-se como hipótese de lugar é acionar suas memórias negras diaspóricas. O uso da memória em sua poiésis é tomado como arma para tecer o tempo.
O MITO DA SEREIA PELA VOZ DOSFILMESCHAMA VEREQUETEE MULHERES CHORADEIRAS
Luiz Guilherme dos Santos Júnior (UFPA)
A comunicação pretende analisar o arquétipo da Sereia através da representação audiovisual dos curtas metragens Chama Verequete, dirigido por Luiz Arnaldo Campos, e As Mulheres Choradeiras, dirigido por Jorane Castro. No primeiro curta, Augusto Gomes Rodrigues, conhecido como Mestre Verequete e compositor de canções de Carimbó, narra como ele compôs a canção Sereia do mar, estabelecendo de forma subjetiva, nessa contação, vínculos entre a Uiara amazônica com as Sereias da Odisséia de Homero. Além disso, a montagem audiovisual do curta metragem relaciona mito, corpo, dança e sedução, a partir dos movimentos do Carimbó, o que possibilita uma ressignificação semiótica do arquétipo da Sereia, no imaginário cultural da Amazônia. Em contraposição, em As Mulheres Choradeiras, a cineasta Jorane Castro engendra uma representação semiótica das Sereias, por meio de três mulheres que seguem a profissão de choradeiras, atuando nos velórios que acontecem na cidade de Belém. O curta ressalta não apenas o poder sedutor do canto das senhoras, como também o ritual de devoração antropofágica realizado por elas, em relação às suas vítimas. A metodologia para a análise dos curtas segue os pressupostos de Vanoye & Goliot -Lété (1994) sobre o processo de decupagem, que permite entender os agenciamentos visuais e discursivos presentes na montagem do roteiro fílmico, por meio da sequencia dos fotogramas; no âmbito dos estudos da voz e da performance recorre-se aos estudos de Zumthor (2000), que visa compreender como os personagens em ambos os filmes traduzem, através da voz e da imagem, as possibilidades de entender a semiotização do

52
arquétipo feminino e de sua metamorfose enquanto representação mitológica. Nesse sentido, a base interpretativa desse processo intersemiótico, e releituras possíveis desse mito Greco-amazônico arquetípico, apoia-se nos pressupostos da Semiótica Russa, a partir dos apontamentos teóricos de Meletínski (1987; 2002) e Machado (2003); no contexto de estudos sobre as relações mitológicas entre imaginário amazônico e imaginário grego, buscam-se as pesquisas de Loureito (1995), que aprofunda as discussões sobre a poética movediça do imaginário amazônico.
A COMARCA ORAL SULMATOGROSSENSE: UM ESTUDO COMPARATIVO
ENTRE TAUNAY E SEREJO
Mara Regina Pacheco (UEL) Frederico Augusto Garcia Fernandes (UEL)
Este artigo se propõe a analisar excertos da obra de Visconde de Taunay e do escritor sulmatogrossense Hélio Serejo com o intuito de comprovar a existência da “comarca oral”, defendida por Carlos Pacheco (1992), ideia na qual a oralidade é entendida como indicadora cultural de relevância na concepção das sociedades latino-americanas. A base do suporte teórico-crítico fixar-se-á nas reflexões sobre a oralidade, e os Estudos Culturais, auxiliando na compreensão das vozes presentes no texto, bem como no diálogo das mesmas com o contexto. Na diegese de ambos os escritores verifica-se negociações frequentes entre oralidade e escrita, de modo a se apreender uma percepção oral ao elaborar a linguagem escrita. Na linguagem textual percebe-se a forte presença da cultural oral representativa da cultura, da origem, da identidade do povo representada pelos escritores. Muitos são os pontos que unem Taunay (1843- 1899) e Serejo (1912-2007), apesar de terem vivido em séculos diferentes. Taunay descreve em profundidade a região que percorreu na Guerra do Paraguai, lugar onde Serejo nasceu, viveu e morreu. Ambos, na maioria das vezes, optam pela descrição pormenorizada de seus temas que sempre se encontram envoltos em detalhes da topografia, vegetação, fauna, flora, fenômenos da natureza e tudo o mais à sua volta, sempre observados sob o olhar atento e sábio do caboclo sertanejo. Taunay percorreu a região da fronteira do Brasil com o Paraguai com a incumbência de relatar ao Rei D. Pedro II – de quem era grande admirador - os acontecimentos da guerra entre os dois países. Fruto mundialmente conhecido que nasceu desta ocasião foi a obra A Retirada da Laguna. No entanto, grande parte das suas obras descrevem a região de maneira cuidadosa e observadora como em Inocência (segunda obra em português mais traduzida, depois de Os Lusíadas); Ceos e terras do Brasil; Visões do sertão; Cartas de campanha, entre outras. Devido à extensão de temas comuns nos dois escritores, focalizaremos a atenção na figura do caboclo e do sertanejo no conto “O sertão e o sertanejo” de Taunay, e em “Caboclo de minha terra” e “Campeiro de minha terra”, de Serejo, com o intuito de mapear a presença da comarca oral da tese pachequiana. PANORAMA DAS REPRESENTAÇÕES DA CULTURA ORAL E DA FIGURA
INDÍGENA NA LITERATURA BRASILEIRA.
Márcio Passos de Azambuja (UFRGS)

53
A visada deste trabalho objetiva traçar um panorama das formas de representação do indígena e da sua cultura oral na literatura brasileira através das diferentes épocas, estilos literários e correntes de pensamento que permearam as obras mais representativas da nossa literatura. Desde a época do descobrimento e da literatura informativa até a recente produção indígena de uma literatura própria, houve diversas perspectivas e objetivos por trás dessas representações do índio e sua tradição oral. Essa evolução forma um padrão da nossa forma de perceber, de nos relacionarmos e de como somos percebidos pelos habitantes originais da nossa terra. Tomando-se como inegável a contribuição da cultura dos povos indígenas ao projeto de nação que denominamos Brasil, investigaremos qual a valoração que tal identidade possuiu no decorrer dos tempos utilizando textos de Lúcia Sá (2007) e Sergio Medeiros (2002) e conceitos como nação moderna, margens, narrativa e minoria de Bhabba (1994) e cosmopolitismo de Appiah (2008) construiremos um modelo de como é absorvida a tradição oral do indígena brasileiro e a sua figura na literatura e no processo de criação da identidade brasileira durante o decorrer da formação do Brasil como nação. Sempre sendo apresentada ou tutorada por um antropólogo, indigenista, cientista social ou por um escritor ou poeta de descendência europeia, a cultura oral indígena e os seus representantes legítimos sempre refletiram os anseios e temores, as filosofias e políticas da civilização dominante que cresce e evolui à margem de sua própria. De tempos em tempos a sociedade se vê envolvida em alguma forma de celebração ou resgate ao índio ou aos seus valores e tradições, mas nem sequer é contemplada qualquer oportunidade de um mergulho mais profundo na cultura e civilização indígena, no homem índio e nas relações que foram estabelecidas entre índios e não-índios com o passar dos tempos. Analisaremos a literarização dos fatos, descobertas, especulações e mitos sobre a fugaz cultura oral indígena e o índio, este ilustre desconhecido.
UM SOM DURA TANTO QUANTO NOS LEMBRAMOS DELE: POEMA, LETRA, VOZ, CANÇÃO.
Maria Auxiliadora Cunha Grossi (UFU)
Essa comunicação objetiva apresentar e analisar formas de dizer e cantar o texto poético, em performances que apresentam a poesia e a prosa brasileira, declamadas e cantadas por poetas e músicos. Neste contexto, nos ocuparemos também em caracterizar e identificar alguns conceitos com os quais práticas diferenciadas de leituras de poesia dialogam, se multiplicam e se nomeiam, tendo em vista variadas articulações da voz, num processo dinâmico e enriquecedor da leitura. As performances poéticas apresentadas são designativas de um fazer artístico que se caracteriza pelo lugar de importância que é dado ao texto falado, declamado, em que o canto é também fala. Trata-se, portanto, de textos que possuem uma sonoridade privilegiada, que permitem ao cantor uma articulação rítmica de sua fala, em consonância com recursos instrumentais, como a percussão, instrumentos harmônicos como o acordeon ou ainda a guitarra, o baixo, a flauta. Ao dizer o texto, o cantor ou declamador poderá encená-lo, utilizando-se de uma articulação vocal rítmica e, conforme o caso, corporal. A música dos instrumentos, neste caso, é dada por um ritmo percussivo que acompanha a leitura do texto, mas não o compõe melodicamente. Em muitos desses gêneros, as palavras são música transformadas em efeitos instrumentais. Buscamos fundamentar, valorizar e compreender a linguagem poética tendo em vista o tempo atual, no qual as relações entre o oral e o escrito se desenvolvem sob a forte presença de novas técnicas de

54
mediação da escrita, incitando interações com o texto e, deste, com novos suportes e modalidades técnicas da leitura e divulgação do escrito. Buscamos maior compreensão desse campo cultural que tem lançado e proposto desafios em relação às formas tradicionais com que costumamos manejar a linguagem. No campo dos estímulos estéticos os signos aparecem ligados por uma necessidade que apela a hábitos enraizados na sensibilidade do receptor e, como argumenta Karlheinz Stierle, na riqueza sugerida pela interação com esses signos, eles se revelam desde a simples compreensão até a enorme diversidade das reações por eles provocadas. Em seus estudos sobre algumas formas de manifestação da canção urbana, Umberto Eco afirma que é comum, nessas manifestações, a fórmula substituir a forma. Bastante reveladora essa afirmação, na medida em que nela está contida não somente a ideia de limitação da linguagem, entendida como um modelo, um composto de regras a serem aplicadas, mas também a ideia de ausência de elementos importantes à realização plena da leitura. Enfim, nessa comunicação farei breve análise de propostas estéticas presentes nas poéticas que expõem o ouvido, a voz, a fala, o canto, o olhar, enfim, o corpo, à prova do eco das palavras, entregue à diversidade de reações. O RETRATO DE UMA NARRATIVA REPRODUZIDA PELAS VOZES DE UM
NARRADOR E DE UM INTÉPRETE
Maria Georgina dos Santos Pinho e Silva (UERR) As narrativas orais estão imbricadas na própria origem do homem, e seu estudo vem desde a Poética de Aristóteles, persistindo até hoje como um identificador quando se fala no assunto. Muitos autores do passado retrataram sobre essa questão, porém de modo recente realçamos Paul Zumthor (2010), cujo foco, neste trabalho, incide na obra Introdução à poesia oral, e Alan Dundes com a obra Morfologia e estrutura no conto folclórico, que serviram de fio condutor para a leitura das narrativas orais indígenas da Comunidade São Jorge, situada na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima. A proposta metodológica da História Oral serviu de base para a realização dos registros orais, possibilitando eleger um narrador de etnia Makuxi, que se propôs a evidenciar as narrativas ligadas a sua vida e às da Comunidade. Assim, no âmbito deste trabalho realizamos uma análise interpretativa da narrativa “A comunidade do barro”, com objetivo de dilatar as possíveis leituras e, ao mesmo tempo revelar a dinamicidade das histórias contadas pelo narrador, que traz à tona às lembranças da região transitando pelo tempo e espaço, cultura e práticas sociais, marcando a funcionalidade dos saberes narrativos para o dia a dia desse povo. Sendo assim, a narrativa analisada tem uma lógica interna e a clareza didática da exposição, considerando que começa com uma situação de desequilíbrio, gerada por uma carência, e segue uma ordem de acontecimentos, transmitindo sentidos e evocando a força da tradição do passado para o presente e para o futuro. Por fim, evidenciamos como um meio de expressão dos sentidos a performance do narrador ao partilharmos sua natureza criadora, expressando os movimentos da alma por meio de palavras e gestos, suas estratégias narrativas e sua sabedoria ao contar às histórias decorrentes da memória, para que a futura geração conheça a cultura e as tradições da Comunidade. O PROTÓTIPO DA MALANDRAGEM NO CORDEL ENCONTRO DE CANCÃO

55
DE FOGO COM PEDRO MALASARTES
Maria José Lopes Pedra (UNEB)
A literatura de cordel é um gênero literário popular que aborda temas como; a novela, a política, a culinária, fatos do dia-a-dia, e, acontecimentos históricos que são (re)lembrados por meio de ações heroicas de personagens do folclore português/brasileiro. Ou seja, tal literatura serve como fonte de informação, que tem como objetivo levar ao povo diferentes visões de mundo. Neste trabalho, objetiva-se expor argumentos reflexivos sobre a malandragem presente no cordel Encontro de Cancão de Fogo com Pedro Malasartes, de Minelvino Francisco Silva (1957), propondo, assim, ressaltar a importância das personagens para a sociedade atual. Tanto Pedro Malasartes, quanto Cancão de Fogo se destacam nas histórias por suas características pitorescas. Malasartes é símbolo de resistência em diversos países, onde suas narrativas sempre levam um cunho de crítica social. Cancão de Fogo é um anti-herói, considerado o porta-voz da classe menos favorecida, uma vez que ele usa de suas malandragens e astúcias para combater os opressores. As características apresentadas em ambos os personagens, servem para desconstruir a ideia de que o sertanejo é desprovido de inteligência, pois eles constroem suas armas por meio da criatividade, armas essas, que sempre acabam dando certo no decorrer das aventuras. Sendo assim, esses personagens são figuras do folclore brasileiro que se utilizam da astúcia e da inteligência para sobressair-se em diversas situações. Pedro Malasartes e Cancão de Fogo adquirem as características de anti-herói e do malandro que vão contra a ascensão e a ordem social vigente, agindo, assim, em prol da sobrevivência. Tais personagens passam da oralidade para a escrita, contribuindo, para formação cultural de um povo. Por esta ótica, Cancão de Fogo e Pedro Malasartes são figuras muito presentes nos cordéis, surgindo como reflexo do sertanejo que é visto como inferior pela classe dominante. Desse modo, analisa-se nesse trabalho toda a construção simbólica das personagens no cordel, evidenciando traços relacionados ao povo nordestino. Partindo desta constatação, fez-se necessária uma pesquisa bibliográfica, pautando-se nas teorias de Haurélio (2010), Da Matta (1997), Abreu (2004), Cascudo (1979, 2000), e Cândido (1970) que fundamentam esse artigo. Assim, verificou-se que a malandragem explícita no cordel se faz presente para evidenciar os divergentes problemas sociais onde as pessoas que fazem parte da classe menos favorecida, muitas vezes, tende a contar com o jeitinho a fim de conseguir seus objetivos.
O IMAGINÁRIO MIGRANTE DO SERTÃO DE ROXO ROIZ: O PAPEL DA MEMÓRIA NA FORMAÇÃO IDENTITÁRIA SUL-PARANAENSE
Maria Josele Bucco Coelho (UFRGS/UFPR)
Ana Lucia LiberatoTettamanzy(UFRGS)
O diálogo entre distintas formações culturais e conceituais engendra, segundo Mignolo (1996), epistemologias fronteiriças marcadas por uma mescla produtiva de saberes que se articulam simétrica e instavelmente. Partindo desse pressuposto e tomando o conceito de memória como uma faculdade individual e um conjunto de representações coletivas proposto por Candau (2011), esse trabalho busca compilar, na região centro-sul paranaense, os vestígios de uma protomemória migrante, entendida como “os dispositivos e disposições inscritas no corpo” geradores e organizadores de práticas e

56
representações. Tais dispositivos e disposições serão colocados em diálogo com a reinvindicação de uma construção identitária concretizada por meio das lembranças e do conhecimento gerado em torno delas - agrupadas em vídeos produzidos a partir de conversas realizadas com os moradores da região. Nesse processo, se entenderá a palavra como fonte enunciadora de uma memória puramente oral por e na própria voz, tal qual postula Zumthor (2007).
FESTA NOS TERREIROS: OS COCOS DAQUI E OS COCOS DE LÁ
Marinaldo José da Silva (UFPB) Maria Ignez Novais Ayala (UFPB)
A nossa proposta de trabalho é mostrar duas Festas de Jurema, ritual sagrado que consiste no cruzamento de diferentes cantos e várias entidades que incorporam nos filhos de jurema, principalmente os mestres que são primordiais a este ritual religioso, onde há cocos, cachaça, cachimbo e muita fumaça, alegria, fé e brincadeira vistas em um Quilombo, em Pernambuco e em um Terreiro de umbanda, na Paraíba. Nessas Festas encontramos diversas maneiras de dançar e cantar cocos, muitas vezes religiosos e também àqueles que traduzem alegria e a magia da brincadeira no trânsito da voz e do corpo em meio àqueles que cultuam a jurema, ou simplesmente simpatizam por ela. Utilizaremos também os cocos dos terreiros brincantes do coco de roda, pois foram nos terreiros das casas, nos adros das igrejas e em festas religiosas que encontramos esta brincadeira, além de outros espaços. Há três anos fizemos registros da Festa de Malunguinho, no Quilombo do Catucá e há mais de quinze anos registramos vários momentos de festas e toques de jurema em uma casa de umbanda, em João Pessoa, na Paraíba, lugares que nos despertaram interesses para estudarmos os cocos das comunidades desses locais. Analisaremos depoimentos, letras de canções dos cocos, o ritual da jurema e o contexto em que ela está inserida. Mostraremos uma série de fotografias e um vídeo com trechos de depoimentos de alguns juremeiros da cidade de João Pessoa. Buscamos a base teórica nos estudos de Mario de Andrade, nos documentos da Missão de Pesquisa de Mario de Andrade e vários resultados das pesquisas realizadas pelos professores e vários pesquisadores do Laboratório de Estudos da Oralidade, da Universidade Federal da Paraíba, em mais de vinte anos de pesquisa sobre os cocos e suas múltiplas vertentes atreladas às culturas populares.
CENAS DA LAPINHA: UMA DANÇA DRAMÁTICA E SUA MEMÓRIA CULTURAL NA PARAÍBA
Marinaldo José da Silva (UFPB)
Maria Ignez Novais Ayala (UFPB)
O nosso trabalho evidenciará um estudo sobre as lapinhas de João Pessoa, na Paraíba e sua memória cultural a partir de depoimentos orais que permitirão compreender outros versos da literatura oral nas expressões da dança dramática denominada de lapinha. A brincadeira é formada só por meninas, crianças e adolescentes, que cantam e dançam jornadas, acompanhadas por instrumentos musicais de corda e de percussão. As canções

57
entoadas e dramatizadas que são alusivas ao nascimento do Menino Deus. As pastorinhas são divididas em dois cordões distintos: cordão azul e cordão encarnado, expressando assim, uma disputa entre a Mestra e a Contramestra pela guarda do Menino nascido em Belém. Mostraremos a caracterização da brincadeira e várias referências àqueles que um dia se apresentaram ao público e hoje repassam os saberes guardados memória e marcados na história das brincadeiras populares. A pesquisa apoiou-se, principalmente na fala dos que fizeram a lapinha; nos registros fotográficos; nas cadernetas de campo contendo anotações de espaço, data, local e outras informações que puderam auxiliar na análise do material coletado; imagens em vídeo contendo dados essenciais sobre os participantes da brincadeira. Os registros foram feitos em cinco temporadas, incluindo ensaios, apresentações públicas e o ponto que culmina esta brincadeira que é a Festa da Queima da Lapinha, correspondentes aos anos de 1997/1998 e assim, até a temporada de 2001/2002. O resultado foi o vídeo que duram dez minutos e a nossa dissertação de mestrado. Esse trabalho em vídeo é inédito, apesar do tempo passado. A nossa proposta é discutir a lapinha como uma dança dramática por meio de depoimentos e a memória cultural na voz de Dona Rita Viturino, da Lapinha Sagrado Coração de Jesus, no bairro de Mandacaru, João Pessoa, Paraíba.
MÉTODO DA COBRA: PROPOSTA DE APRENDIZAGEM E ENSINO DE MITOS INDÍGENAS NA ESCOLA.
Mário Geraldo Rocha da Fonseca (CNPq)
O texto visa apresentar o projeto de pós doutoramento do autor, que pretende sistematizar um método de ensino e aprendizagem de mitos indígenas na escola brasileira. Com isso, pensa em atender à demanda surgida a partir da implantação da lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino de cultura indígena nas escolas públicas e privadas do Brasil. Assim, o projeto tem como finalidade última a produção de uma espécie de roteiro para ajudar os educadores e estudantes conhecerem um pouco mais os mitos indígenas, com base em uma metodologia que leve em consideração o que o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro chama de “perspectivismo ameríndio”, ou seja, a maneira singular que os indígenas possuem de viverem e contarem seus mitos. O projeto, porém, deixa claro que, mesmo que não possa e não queira prescindir do material antropológico, são os elementos que aproximam as narrativas míticas de procedimentos que dizem respeito mais diretamente ao mundo das artes plásticas e literárias que serão privilegiados. Neste sentido, o diálogo com a arte e literatura, assim como é vivido e entendido por artistas ocidentais contemporâneos, será um recurso importante para aproximar a produção artística indígena da sensibilidade de professores e estudantes brasileiros, que pouco conhecem sobre a vida dos índios. Neste sentido, a figura da Cobra, animal considerado como um dos mais emblemáticos para expressar o modo singular de viver dos índios, e que, portanto, aparece de maneira muito forte nas suas cosmologias e mitologias, torna-se, no projeto, o vetor para expressar um perspectivismo ameríndio. A partir da fenomenologia daquele animal, que frequenta com bastante desenvoltura tanto o mundo da água, quanto da terra e do ar, e da maneira como é aproveitado nas narrativas míticas, os índios traçam uma marca ofídica para expressar o lugar específico e um pensamento próprio que gerou a Cobra como personagem mítica. Logo, o método que leva o seu nome é formado a partir destas três dimensões ( personagem, mapa e conceito), já que, tendo como ponto de partida os mitos, pretende evidenciar a relação das narrativas com a paisagem brasileira e com o

58
chamado “pensamento selvagem”. Para colocar em evidência as três dimensões aludidas anteriormente, o projeto privilegia os mitos criados pelos índios que moram na região amazônica. O motivo é que, além da maioria dos índios brasileiros viverem naquela região, essa se tornou uma espécie de emblema dos desafios culturais, ecológicos e econômicos pelos quais passam a maioria das comunidades indígenas, cada vez mais conscientes do contato inevitável com dita sociedade dos brancos. Esse diálogo, que sempre foi pautado de maneira a submeter a parte indígena aos padrões de pensamento e de expressão artística ocidentais, agora pede um novo lugar. O Método da Cobra, portanto, possui duas dimensões que se completam. Primeira: é um esforço para ajudar educadores e estudantes a se aproximarem dos mitos indígenas a partir de uma perspectiva que seja dos próprios índios, sabendo que, para isso, é preciso levar em conta a sensibilidade do outro lado, de quem vai ser educado nesta aproximação; logo, é um método de tradução de mitos indígenas de modo que possam ser compreendidos na sua beleza formal e cognitiva por uma platéia não-índia. Segundo: por meio do conhecimento dos mitos, que expressam a maneira indígena de viver, de pensar e se manifestar na arte, surge a possibilidade de promover um diálogo mais amplo, que reconheça nos índios protagonistas privilegiados para compreender a sociedade e cultura nas quais o próprio professor e estudante se encontram e das quais são parte.
VOZES DOS RIBEIRINHOS MARAJOARAS CORRESPONDÊNCIAS ENTRE HISTÓRIA E ORALIDADE
Mônica de Jesus dos Anjos Nunes (UFPA)
Luiz Guilherme Santos (UFPA)
Alguns autores dizem sobre a vida de ribeirinho é cercada de contos “imaginários”. Para entender tais narrativas, começamos uma pesquisa de cunho acadêmico pela UFPA - PARFOR, onde o objetivo era ouvir, gravar e transcrever as “estórias” dos moradores mais velhos de um Rio chamado Jepohúba, na Ilha de Marajó. Bem como visitar os locais onde teriam acontecido os tais “fatos fantasmagóricos”, que acabaram virando “contos” transmitidos através das gerações até os dias atuais. “A velha do poço”, “os botos da enseada”, “o homem do caminho”. São narrativas que surgem porque um caçador ao beber demais, dorme na mata e precisa justificar sua demora para a família, mas precisa que seja algo que não o envergonhe. Mas a “estória” é tão boa que um, conta para outros, de forma que até o próprio caçador passa a acreditar em sua veracidade. Daí surge às lendas que atravessam tempos e tempos como uma verdade extraordinária do ribeirinho Marajoara. Ou uma mulher que ao ficar muito tempo fora de casa, precisa chamar a atenção do marido para algo que não seja sua demora, então ela diz que ia atravessar o caminho mais próximo, mas avistou algo que a assustou muito e por isso demorou, então nasce “o homem do caminho”. E os contos maravilhosos se tornam parte da história do homem marajoara que durante as “farinhadas”, repassam de forma oral para as gerações seguintes.
SABERES E BRINCARES
Nazaré Cristina Carvalho (UEPA)

59
Tendo como referência a pesquisa Diálogos de Saberes: processos educativos não escolares e práticas docentes, que busca investigar os diferentes processos educativos vivenciados no cotidiano de sujeitos da Amazônia paraense. Apresentamos aqui o recorte de um dos saberes que integra está pesquisa: Os saberes do brincar. Entendemos como saberes o conjunto de conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades, expressando-se em lugares diversificados. Tais saberes englobam os rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, da ludicidade, das diversas formas de expressão (literária, musical, cênica e outras) e de outras práticas da vida social. Para estabelecer esse diálogo de saberes está pesquisa propôs realizar uma cartografia de saberes, que segundo Fares (2011) o termo expandiu-se e alcançou as ciências de forma mais geral: hoje cartografia ultrapassa as representações dos espaços físicos é categoria das ciências humanas e sociais, das ciências da vida e das tecnológicas. Tomamos como ponto de referência a realidade sociocultural amazônica a partir do município de Colares/Pará, a fim de descortinarmos os saberes do brincar que estão subjacentes a cultura do lugar, sua relação com a cultura e com a criança, recolhidos durante a pesquisa a partir das narrativas dos interpretes, moradores do local, os quais falam do brincar vivenciado em suas infâncias, pois a cultura também é criada e experimentada nos jogos, nos brinquedos e nas brincadeiras como forma de relação com o mundo. Essas narrativas nos fazem mergulhar no universo da brincadeira, nos possibilitam trocas de experiências, e pela memória nos levam a resgatar o brincar de um tempo ido. Não que se queira reviver o passado, mas sim rememorar formas de brincar quase esquecidas, que se encontram guardadas na memória e que se constituem em saberes. A criança de ontem brincava, as de hoje também brincam e as do futuro também brincarão, onde existir uma criança sempre haverá brincadeira. Entretanto, esse brincar assume uma característica e um significado diferente dependendo da época em que se encontram. O brincar da memória de nossos interpretes, era o brincar coletivo, o brincar com o grupo de brincadeiras formado por crianças da vizinhança, e muitas vezes parente umas das outras. Brincavam nos quintais das casas, nos terreiros no entorno das casas, em todos os espaços livres da cidade em que moravam. Construíam seus próprios brinquedos a partir de elementos da natureza, ou eram construídos artesanalmente pelos adultos Havia uma relação direta da criança com a criação do brinquedo, ela participava de todo o processo da feitura, relação bem diferente da que se estabelece com os brinquedos industrializados Nossos interpretes falam das festas populares vivenciadas na infância tidas também como brincadeira, como carnaval, festas de santo, festas juninas com suas quadrilhas e seus cordões de bicho, as pastorinhas e outras. Enfim, a memória afetiva sobre a infância se torna recorrente na voz dos interpretes.
A POÉTICA ORAL DAS MARGENS DO VELHO CHICO: O SAMBA DE RODA, SUAS CANTIGAS E SUAS IDENTIDADES.
Nerivaldo Araújo (UNEB)
O samba de roda das margens do Velho Chico é uma das mais belas e encantadoras formas de expressão da poética oral ribeirinha, a qual nos proporciona navegar por entre a cultura popular da região de Xique-Xique, no estado da Bahia. Esta manifestação musical, coreográfica e festiva compõe a riqueza da poética oral deste lugar, sendo capaz de retratar a sua gente, suas identidades e memórias, que se movem ao sabor dos ventos e ao ritmo das águas. Assim, objetiva-se apresentar algumas considerações

60
acerca da poética oral ribeirinha, em especial, o samba de roda, com suas cantigas e performances, destacando-se o seu papel na consolidação da memória cultural local e na tessitura das identidades culturais. Pretende-se, também, ressaltar a pluralidade e a diversidade desta cultura local, das suas memórias e das suas identidades, que se constroem a partir de uma mistura entre as matrizes culturias: indígena, portuguesa e africana. Além disso, destacar a presença de marcas da afrodescendência, como elementos de resistência e de aquilombamento de um povo, cujas práticas, saberes e tradições são mantidas através da sua própria reinvenção e adaptação, a fim de resistir ao apagamento de sua história, de sua cultura. Ainda se propõe ressaltar, que todas estas manifestações culturais se configuram numa espécie de projeto político, o qual busca a utilização da cultura como elemento de sua realização. Para que se pudesse obter um melhor retrato da poética oral ribeirinha e navegar por entre a sua cultura local, como caminho metodológico escolhido, buscou-se seguir os princípios e determinações da pesquisa qualitativa de cunho etnográfico. Para tanto, tornou-se fundamental a pesquisa bibliográfica e documental sobre a temática em discussão, bem como uma pesquisa de campo, ainda em andamento, com o grupo de samba “É na pisada ê”, para registro e gravação das rodas de samba, suas letras e performances das sambadeiras e sambadores, ainda a coleta de demais informações necessárias.
NARRATIVAS DO ESPAÇO DOS JOVENS DO GUAJUVIRAS/CANOAS-RS
Nola Gamalho (UFRGS)
Álvaro Luiz Heidrich (UFRGS)
As narrativas da vida de bairro e das trajetórias socioespaciais revelam o movimento articulador entre a ordem próxima e distante (LEFEBVRE, 2001), entre as táticas astuciosas e as estruturas tecnocráticas (CERTEAU, 2009). O Bairro Guajuviras, localizado no município de Canoas- Região Metropolitana de Porto Alegre (RS) é exponencial nesse sentido, pois é produzido nesse conflito. Foi concebido como um programa habitacional de mordia popular (Cohab- Companhia de Habitação do Rio Grande do Sul), porém foi vivido como prática de ocupação. Atualmente é um Território de Paz, pelo qual recebe investimentos do Programa Nacional de Segurança e Cidadania. Tendo em vista essa complexidade, nosso objetivo é tecer compreensões dos sentidos associados à produção do bairro a partir das narrativas de sua juventude. A oralidade é o principal instrumento utilizado para identificar os sentidos do espaço segundo os jovens do Guajuviras. As falas deram-se na combinação de técnicas de produção de dados: entrevistas não diretivas, conversas informais, grupos focais e registros em diário de campo. As múltiplas conversas compõem narrativas de vida e de espaço, o que apresenta um importante desafio: identificar o espaço onde não é explícito. As histórias de vida, as conversas do cotidiano, os grupos de discussão contêm elementos do espaço que na intepretação transformam-se em informações. Sujeitos e espaços adjetivam-se mutuamente, como a vila e o vileiro, a favela e o favelado. O espaço é central na vida desses sujeitos que o significam a partir da distância social, logo de uma ordem distante, e de suas trajetórias. Esse imbricamento se dilui nas narrativas de vida, corroborando com a dificuldade de identificá-lo. A análise necessariamente deve seguir o movimento entre pontual e o geral. O dado, transformado em informação, está inserido em sistemas de significação dos atores sociais, devendo, portanto, ser compreendido a partir das teias de significados, dos códigos e normas

61
elaborados e internalizados pelos sujeitos. As narrativas fornecem os significantes através dos quais são interpretados os significados. Envolvem um mosaico de influências estruturais e locais, imbricando-os em narrativas de vida espaciais (LINDÓN, 2008).Ao explorar suas memórias, o ator reinterpreta sua trajetória, fazendo-o de forma racional e emotiva. As narrativas não são lineares, coesas, mas um intrincado retalho de lembranças e de ações cotidianas que ao serem reelaboradas, deixam de ser banais. O espaço vivido não é exatamente o espaço das histórias: são versões e não exclusivamente fatos. Ora, ao narrar suas histórias e práticas o ator recria a realidade, representando-a. Essa diversidade de dados contidos nas narrativas exige estratégias que possibilitem sua decifração. Ao atribuir aos sujeitos a posição de exploradores de suas memórias, tem-se como resultado elementos esperados e alicerçados nos referenciais teóricos e elementos novos, inusitados. Moraes (2003) associa essa diversidade a “uma tempestade de luz”, ou seja, múltiplas construções de sentido que aparentam estar desconexos e desordenados, mas com os quais são produzidas novas ordens.
LITERATURA E ORALIDADE NO CORDEL: IDENTIDADE E MEMÓRIA CULTURAL NORDESTINA
Osmando J. Brasileiro (UNIRITTER)
Regina da Costa da Silveira (UNIRITTER). As narrativas orais remontam à antiguidade grega, como a célebre Odisseia, de Homero, que se tem conhecimento como umas das grandes obras ocidentais que mais influenciaram a nossa cultura literária. A tradição oral medieval tem início no Brasil com a colonização a partir de 1500, e mais, ambientou-se no Nordeste brasileiro pelas semelhanças geográficas dessa região com os cenários medievais da época. No Brasil, a tradição oral se apresenta de várias formas, contudo, a literatura de cordel é a que mais tem resistido e é a maior detentora de um cabedal de informações passadas na forma de expressões rimadas, com características específicas, que instigam os cantadores a memorizarem seus longos poemas. Essa tradição tem como um dos seus mais importantes expoentes o cordelista cearense Patativa do Assaré, autor do conhecido poema musicado por Luiz Gonzaga, A triste partida (1966), em que conta as agruras da seca nordestina. Essa tradição literária oral representa um importante meio de resguardar a memória popular nordestina com a transformação de temas cotidianos em canções rimadas a serem divulgadas em feiras e folhetos de cordel, como é comum em cidades da Região Nordeste, a exemplo de Campina Grande na Paraíba. A memória do cordel é um importante instrumento da identidade cultural nordestina que eleva a estima popular como parte da constituição de uma identidade nacional brasileira. O objetivo da presente comunicação é tecer reflexões acerca da cultura popular oral nordestina presente em folhetos de cordel e em textos literários de prosa, como aparece na obra Viva o povo brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, e também identificar elementos da cultura oral a partir de trechos de cordéis analisados no decorrer dos estudos sobre esta literatura. Os teóricos utilizados foram Stuart Hall, sobre as definições e conceitos de identidade em A identidade cultural na pós-modernidade (2004); Idelette Muzart-Fonseca dos Santos, a partir de seu texto Memória das vozes: cantoria, romanceiro & cordel (2006); em que se discorrerá sobre a história dos cordéis, a preservação da memória por meio da voz poética e dos cancioneiros populares no Brasil; e Ana Maria de Oliveira Galvão, com sua obra: Cordel: leitores e ouvintes (2006), em que analisa o

62
caminho da narrativa de cordel demonstrando-a como enciclopédia para o leitor e resguardadora da memória popular nordestina.
SUBJETIVIDADE FEMININA EM PEDRO E PAULA: A MULHER NO ROMANCE MACEDIANO.
Paula Bohrer Ribeiro (UFRGS)
Pedro e Paula, o segundo romance de Helder Macedo, foi publicado em 1998. O narrador relata a história familiar dos gêmeos Pedro e Paula, nascidos em 1945, acompanhando diferentes e significativos momentos da história portuguesa. O enredo inclui triângulos amorosos, um filho desconhecido, suicídio, traição e incesto. A ação passa-se em Lisboa, Londres e Lourenço Marques colonial. Paula, a protagonista da história, reúne traços de inúmeras mulheres, representando um momento histórico específico, marcado por importante transformação cultural para a história da mulher portuguesa. A ficção do escritor português Helder Macedo escapa à interpretação unívoca e promove mais perguntas do que respostas, recorrendo a artifícios narrativos permeados por incertezas e probabilidades. O estudo pretende mostrar que a personagem feminina ganha destaque central na narrativa de Pedro e Paula, em torno da qual são construídos mundos que aliam fatos históricos e acontecimentos ficcionais. A partir desses mundos, pretende-se refletir sobre a condição do sujeito feminino na contemporaneidade, um espaço que ao longo do tempo está se tornando menos marginalizado. Analisar a forma como Macedo utiliza os recursos ficcionais para construir personalidades femininas tão complexas, como a de Paula, envolve a correlação da teoria crítica feminista sobre a construção da identidade feminina. Nesse sentido, pretende-se analisar como a fala da mulher aparecer no romance, bem como o sujeito feminino se constitui por meio dela. Para tanto, busca-se suporte teórico nos estudos feministas acerca dos seguintes temas: mulher, literatura e cultura. Estes estudos assumem um caráter marcadamente contestatório, fundamentado na busca pela desestabilização das tradições do pensamento falocêntrico. Isso porque a crítica feminista entende que a cultura construiu ideologias de gênero profundamente discriminatórias, identificadas na correspondência entre as relações de sexo e poder, alicerçadas sobre questões políticas. A mulher representa uma experiência histórica e cultural diferenciada da masculina, sendo compreendida, portanto, como experiência de margem que se expressa por meio de um contradiscurso, que contraria as verdades absolutas.
O TEXTO QUE NASCE DO CORPO: RELAÇÕES ENTRE ESCRITA E ORALIDADE NA CONSTRUÇÃO DO TEXTO TEATRAL
Patrícia dos Santos Silveira (PUCRS)
O presente trabalho discute a relação entre escrita e oralidade na criação de dramaturgia. Analisa as características específicas de cada modo de utilizar a linguagem verbal e reflete sobre o tratamento dado às criações orais dos atores em situações nas quais não há um texto escrito em sua origem. Entende que a escrita constitui uma forma de tecnologia para construção textual e que, nesse sentido, não dá conta da experiência com a linguagem verbal em sua totalidade. O objetivo é recolocar a criação oral do ator sob outro ponto de vista, entendendo suas características a partir da discussão sobre a

63
oralidade e colaborar, desse modo, para uma melhor utilização desse recurso em processos que o utilizem para a construção do texto espetacular. Os principais teóricos utilizados são Walter Ong, que estuda as relações paradigmáticas entre escrita e oralidade, as quais, segundo ele, representam formas mentais e culturais distintas de relacionar-se com a linguagem verbal, o que conduz a procedimentos de criação verbal e características específicas para cada forma de textualidade; e Paul Zumthor, o qual reflete sobre essas diferenças no campo da arte, entendendo que a criação essencialmente oral pressupõe construção verbal e performance vocal na mesma instância de criação, dando-se, no caso da improvisação, no mesmo tempo e espaço da performance. A metodologia utilizada foi o levantamento e análise de fontes bibliográficas sobre escrita, oralidade e o texto no teatro, o acompanhamento dos ensaios e realização de entrevistas com um grupo teatral que baseia seu processo de construção de dramaturgia na improvisação do ator (Grupo teatral UTA – Usina do Trabalho do Ator, da cidade de Porto Alegre). A partir do estudo realizado foi possível perceber que a escrita e a oralidade possuem formas distintas de serem experienciadas e produzidas pelo ator, o que reflete em certas diferenças na construção do texto teatral. Essas diferenças, mais do que determinarem resultados, referem-se a aspectos do processo de construção do texto verbal, modo como ele pode ser contextualizado e, consequentemente, experienciado enquanto obra teatral. Contudo, essas questões ainda não são completamente reconhecidas pela teoria do texto teatral, a qual oferece um entendimento sobre o signo linguístico no teatro como algo essencialmente ligado ao fenômeno da escrita. Além disso, foi visto que uma dramaturgia criada oralmente, sem a utilização da escrita enquanto técnica de composição textual, tende a colocar corpo e palavra como suportes um do outro, construindo uma unidade criativa para o ator. Esta criação verbal parte de uma relação sígnica constituída de todos os elementos teatrais envolvidos na elaboração cênica e, por isso, apenas nesse contexto pode assumir valor estético e formal de obra teatral. O reconhecimento das características e das diferenças entre escrita e oralidade na elaboração do texto de teatro pode orientar novas buscas para a construção de dramaturgia a partir do trabalho do ator, assim como trazer novas visões sobre o papel do signo linguístico no evento teatral, amparando-se, para isso, na problematização e na criação de outras percepções sobre a relação entre corpo e palavra.
A REPRESENTAÇÃO DO BAIXO MERETRÍCIO EM O ABAJUR LILÁS: ESPAÇO DE CONFLITO, TENSÃO E VIOLÊNCIA
Patricio de Albuquerque Vieira (UEPB)
Conhecida ordinariamente pelo senso comum como “a profissão mais antiga do mundo”, a prostituição encontra na literatura brasileira o espelho que busca refletir a exclusão social de uma instituição estigmatizada devido a padrões discriminatórios da sociedade. Nesse sentido, a obra literária torna-se um poderoso instrumento de combate à repressão e à discriminação, levando o escritor, que tem compromisso com os marginalizados, à produção de uma literatura a serviço da cidadania. Inserido nesse cenário de proibição e insatisfação, Plínio Marcos produziu diversas peças que manifestam a voz contestadora dos oprimidos, obras que enfrentaram as autoridades de uma sociedade opressora e hipócrita. Em seus textos, o autor discutiu questões de gênero, homossexualidade, prostituição, política, relações de poder, além de retratar o autoritarismo e a submissão que aprisionaram os grupos marginalizados. É seguindo esta linha de raciocínio que a dramaturgia de Plínio Marcos retratou personagens das

64
arenas desejantes do submundo da prostituição, denunciando a tortura, o silenciamento, a opressão e os anseios de grupos esquecidos à margem da sociedade, inovando o teatro brasileiro, numa atitude vanguardista. Considerando o contexto histórico-cultural e sociopolítico da obra e do autor, o presente trabalho pretende analisar as condições da mulher prostituída no baixo meretrício na produção artístico-literária, tal como Plínio Marcos abordou em O abajur lilás (1969), peça teatral escrita no cenário sufocante do regime militar. Para tanto, escrevemos este artigo dividindo-o em três partes. Na primeira apresentamos informações sobre o autor e a obra em questão; na segunda resenhamos acerca da prostituição e como esta prática se dá no baixo meretrício; e na terceira refletimos sobre a representação do conflito, da tensão e da violência na obra selecionada, tomando como base os pressupostos teóricos de Enedino (2009), Rago (2008), Silva (2006), entre outros.
DA PALAVRA FALADA À CONFECÇÃO DE LIVROS ARTESANAIS OU ALGUMAS DIFICULDADES: METODOLÓGICAS DE PESQUISADORES EM
ORALIDADE: UM RELATO PÓS-MONOGRAFIA
Priscila Oliveira Monteiro Moreira (UFRGS)
Produzi minha monografia com o propósito de relatar e analisar a prática que realizei em meu Estágio de Língua Portuguesa I, na Educação de Jovens e Adultos, durante período de mobilidade acadêmica realizada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Também busquei refletir sobre as condições de aprendizagem na educação brasileira de adultos e seus projetos pedagógicos a partir da contação de narrativas de vida dos alunos, que foram versadas para escrita por eles e compilados para edição de um livro artesanal intitulado “Trocando histórias”, editado pelo Laboratório de Edição (Faculdade de Letras/UFMG). A preparação do original foi realizada por mim (então estagiária do Laboratório) e o processo de costura manual foi executado pelos alunos a partir de oficinas ministradas em aula. Após confecção do livro, realizou-se seu lançamento, que mobilizou a comunidade escolar e apontou para questionamentos sobre apropriação do livro como patrimônio cultural, reflexão sobre língua materna escrita e oral, legitimidade autoral, ressignificação do conceito de literatura e letramento literário. Apresentei meu trabalho final de graduação em janeiro/2013 e agora, meses depois da defesa, retorno ao assunto com o objetivo de repensar pontos indicados durante a arguição para continuar qualificando o debate e complementá-lo a partir de bibliografias da área, pois, inicialmente, considerei que havia realizado uma pesquisa sobre textos orais, mas, ao final, percebi que utilizei as narrativas apenas como passo inicial para escrita. Isso é uma postura comum em ambiente acadêmico, que vê como iminente a presença de um suporte físico que armazene narrativas, o que, indiretamente, transforma a proposta inicial em outra, configurando-se em um problema metodológico que, por certo, outros pesquisadores também enfrentam. Retomo o assunto, portanto, para considerar erros e acertos da monografia (apresentando brevemente sua proposta), buscando contribuir para pesquisas futuras que sofram semelhante fraqueza quanto à metodologia, já que a dificuldade de fixar a palavra falada no papel é, essencialmente, um dos paradoxos dos pesquisadores que procuram atuar na área de oralidade combinada com edição.

65
TRADIÇÃO E MODERNIDADE NA OBRA DE LUÍS CARDOSO
Priscilla Ferreira (UFRGS) Estudar a história de um país tão recente e distante como o Timor Leste não é uma tarefa fácil. Imagine então, estudar a obra de um autor timorense. Luís Cardoso nasceu em Kailako, no Timor Leste, mas desde os meados dos anos 70 está em Portugal, onde publicou suas obras. Considerado o primeiro romancista do Timor Leste (e até hoje um dos únicos) Cardoso narra histórias do povo timorense, baseando-se não só nas suas vivências e memórias, mas nos mitos e costumes da sua terra natal. Em seus livros encontramos muitas referências históricas e culturais da jovem nação, que só em 2002 tornou-se oficialmente independente, após sangrentas batalhas.O Timor Leste é um país de tradição oral - assim como as ex-colônias portuguesas africanas - e os registros dessas narrativas ainda são escassos. A literatura timorense baseia-se na figura do contador de histórias, que transmite verbalmente seus conhecimentos de geração a geração e é responsável pela preservação da sabedoria dos ancestrais. Cardoso sempre foi um bom contador de histórias, e seu objetivo é justamente este, continuar contando histórias, tal qual ainda fazem os narradores em sua terra natal. Este trabalho aborda pretende analisar como se dá este processo e de que modo suas narrativas mantêm-se ligada às tradições timorenses. A riqueza da obra de Luís Cardoso está no diálogo entre a tradição e a modernidade, entre o sonho e a realidade, entre o presente e o passado. Em suas narrativas, Cardoso mistura - no mesmo plano - personagens e fatos históricos com mitos e crenças do Timor-Leste, pois, como ele mesmo afirma, a influência dos antepassados é muito forte na cultura timorense. Através da literatura, apresenta para o mundo um Timor que não foi notícia, que a própria imprensa desconhecia. Através da memória, mostra o Timor que vivenciou, nos tempos de encantamento, e o Timor pelo qual sofreu na diáspora, nos dias de ira.
ATRAVESSANDO O AVESSO DO MUNDO
Renata Ávila Troca (UFRGS) O trabalho que se segue tem a finalidade de apresentar um diálogo traçado entre duas diferentes vozes que se cruzam além de oceanos. O Avesso do mundo é um documentário de onze minutos que envolve a escritora angolana Ana Paula Tavares e o interlocutor “seu Beto”; um catador de lixo da cidade de Dom Pedrito (Rio Grande do Sul/Brasil). Este vídeo foi apresentado como parte integrante da defesa de dissertação de mestrado desta autora ocorrida em maio do corrente ano. Criado com o foco no tema “guerra” filtrou-se trechos de uma crônica da angolana, “Carta para Alexandria”, do livro(Lisboa, Editorial Caminho, 2004), pensando em apresentar a voz de quem sofre a guerra e através de seu Beto, pelas escolhas de narrativas guardadas no arquivo pessoal criado nos sete anos de contato com a família, pensou-se em representara parte ativa de uma guerrilha, ou seja, o guerrilheiro. Tal texto imagético foi construído a partir de fontes bibliográficas tal como Umberto Eco e Roland Barthes, quando se questiona o caráter de autoria das três representações que ali são encontradas (pesquisadora, escritora consagrada e um interlocutor anônimo). Também com Ana Mafalda Leite percorrem-se os testemunhos orais da história angolana e do corpo, livre das territorialidades que o circulam. Pensando na busca da Captura da voz organizada por Maria Inês de Almeida e Sônia Queiroz, encontra-se com A voz e letra de Laura

66
Padilha, para enfim discutir-se O passado, a memória e o esquecimento com fonte em Paolo Rossi. Resultando enfim na Performance de Paul Zumthor e na sua Poética da Voz defendida também por Ana Lúcia Liberato Tettamanzy. Notou-se que a performance foi fundamental para que a união destas vozes seja bem entendida e interpretada, pois há a transcrição das falas, palavras apenas, na dissertação, e na estruturação no vídeo com a voz deles guiando as palavras e paisagens, ganha-se um novo texto com novos elementos e riqueza que podem caracteriza-lo como uma linguagem viva e pulsante. SOBRE SEREIAS E PÁSSAROS:AS VOZES DA VOZ DE MARIA BETHÂNIA
Renato Forin Junior (UEL)
Vasculhando a linhagem mítica dos seres que fizeram da voz um instrumento de encantamento, chegamos à Grécia Arcaica. As sereias-pássaro – metade humana, metade ave – aparecem na Odisseia de Homero como híbridos fantásticos que portam o logos poético. Ao contrário das sirenes pisciformes, elas não fascinam só pelo vocalize indistinto. Seu dom advém do fato de narrarem histórias cantando. Esta distinção, baseada no pensamento da filósofa da voz Adriana Cavarero, é o ponto de partida para uma série de reflexões sobre o prazer estético proporcionado pela performance que unifica poesia, música e teatro. A narrativa da sereia-pássaro serve-nos de alegoria para o trabalho de Maria Bethânia, intérprete que opera uma rara simbiose entre estas artes na concepção de uma dramaturgia e na realização de um espetáculo muito particulares. Ao utilizar-se de diferentes inflexões vocais e recursos cênicos, envolvendo todo o corpo na significação do texto que pronuncia, Maria Bethânia parece reconstituir uma essência original da poesia, que nasce no contexto oral e comunitário. Voltamos, pois, à Grécia e de lá – pautando-nos em Havelock e Zumthor – traçamos um percurso que abarca importantes momentos em que o texto poético foi inseparável da música e fundado na presença do corpo. Tais aspectos permanecem como características marcantes de comunidades que tiveram forte influência de culturas de tradição oral, como é o caso do Brasil. José Miguel Wisnik chega a classificar a nação como uma nova “Gaia Ciência”, referindo-se ao ideário dos trovadores provençais, que faziam da poesia cantada a sua forma de sentir e expressar o mundo. A “malha de permeabilidades” na arte brasileira mostra-se na musicalidade incorporada em nossas formas de pensamento, na fragmentação dos conceitos de erudito e popular, na potente sofisticação da canção (que une letra e melodia). Estendemos o conceito à performance de Maria Bethânia, pensando no modo com que a intérprete costura com o fio da voz outras vozes de origens tão diversas, a exemplo de textos de autores canônicos, cantigas de roda, versos de poetas populares, obras de domínio público, cantos de trabalho, clássicos do cancioneiro, orações, orikis. O magnetismo da presença, no momento em que a poesia ganha corpo, faz dos espectadores contemporâneos os herdeiros de Ulisses – o primeiro a ouvir, sem se quedar, o chamado das sirenes. Maria Bethânia, por sua vez, entre os mitos e ritos que cultiva, confidencia a um jornalista que a questiona sobre a origem do seu canto: “a voz não é minha, é das sereias”.
POÉTICAS DO CARIMBÓ: “O CORPO ENCENA O POEMA”

67
Renilda Rodrigues Bastos (UEPA)
O Carimbó é um dança que liga poesia, música e gestos. Esses gestos são desenhos produzidos pelos dançarinos, a partir da voz do poeta cantador. Nesta voz está inscrito um sistema de signos que se configura na performance de quem dança e de quem canta. O corpo faz a relação do poema e da música, figurações que podem ser estudadas separadamente, porém o fenômeno do Carimbó, bem como em outras danças, é a junção de tudo no corpo de quem dança. Como nos diz Zumthor (1997), o corpo modaliza o discurso e faz o gesto gerar a forma externa do poema, no caso do Carimbó isto é bastante perceptível, e parece que tudo está inscrito na voz de quem canta. Assim sendo, este trabalho, além de refletir sobre a dança e sua poética, dá ênfase à poética da voz de dois poetas cantadores de Carimbó, quais sejam: Zé Pedro e Róia, pai e filho. Mestres que já não estão entre nós, mas sua família pelas narrativas dão pistas para a escrita de uma história que desemboca em muitos caminhos para o entendimento desta dança-poesia que é marca identitária do Pará. O estudo foi realizado a partir de narrativas coligidas no lugar onde viveram os mestres. O conhecimento dos espaços, o mapeamento de seus parentes, de suas poesias são passos que encaminham para compreensão das poéticas desses mestres. O texto é etnográfico e nasce da tese de doutorado que trata de temas de uma comunidade de pretos no município de Curuçá, Estado do Pará, um desses temas nascido da memória é o Carimbó! GABI AMARANTOS: MUSICALIDADE E PERIFERIA; UMA ABORDAGEM
DISCURSIVA DE UMA ENTREVISTA TELEVISIVA
Robert Leandro Silva Freitas (UFPA)
Ultimamente, temos observado com frequência tanto nas mídias televisivas quanto nas impressas o termo periferia sendo inserido em debates de cunho artístico-culturais, que antes não se noticiava. Até pouco tempo, quando se falava em periferia, os temas pertinentes a ela estavam atrelados à violência, morte, assassinatos, etc. Hoje, observamos por meio das ferramentas midiáticas que a periferia se tornou um local gerador de grupos musicais e artísticos que se solidificam através de um sucesso repentino advindos de uma visibilidade que até pouco tempo não era tida, ou seja, o que antes era silenciado hoje ganha voz, no entanto a atribuição dessa voz se estabelece por conta de um mecanismo midiático, que se realiza em cima do que é selecionado pelos diferentes tipos de mídias que realizam essa seleção mediante aos dizeres, noticias, reportagens, eleitos a medida de outros que são embargados. A música, dentro dessa esfera, a midiática, assume uma posição que a coloca como principal dispositivo discursivo por meio do qual se constrói uma identidade artística da periferia, é por meio dos “ecos” proporcionado por ela que a “realidade” periférica é edificada. Os ditos se dispersam e com eles novos dizeres a respeito dos saberes produzidos nas “margens” se refletem nos “centros” e é por essa relação entre “centro” e “margem” que saberes são constituídos, firmando com essa constituição poderes que delimitam e redirecionam posições tanto periféricas quanto centrais. A partir da análise de uma entrevista televisiva, cujo Gabi Amarantos concedeu ao programa de frente com Gabi buscaremos analisar as diferentes posições ocupadas por Gabi Amarantos no interior das temáticas discursivas inseridas na entrevista em questão, ela diante das indagações da apresentadora se define como “portadora de uma nova voz periférica, que levará aos

68
quatro cantos do Brasil essa nova música produzida na periferia paraense”. Notamos o Pará por meio das fronteiras geográficas que o tornam distantes dos centros econômicos como o eixo Rio- São Paulo, porém ao mesmo tempo em que as linhas geográficas o distanciam, ele se torna próximo justamente pelos adventos midiáticos que noticiam de forma instantânea as produções poéticas pautadas nas músicas da periferia desse estado tão visibilizado, e com isso, um dos pontapés iniciais dessa propagação foi a artista Gabi Amarantos, que saiu da “margem” em direção ao “centro”, para levar através de sua voz o Pará aos quatro cantos do Brasil, construindo a partir dessa dispersão, uma identidade da região amazônica, que até pouco tempo não era vista. Portanto, o quadro metodológico desse trabalho se firma nos estudos sobre formação discursiva e a fragmentação do sujeito de Foucault (2008), logo em seguida faremos um diálogo teórico-metodológico em cima de dois temas em questão: poética e mídia e por fim faremos uma análise minuciosa sobre os dizeres de Gabi Amarantos em meio à entrevista concedida ao programa De frente com Gabi.
SABERES E CULTURA QUILOMBOLA: ENTRE O DOCUMENTO E A EXPRESSÃO
Roseli Bodnar (UFT)
Este artigo aborda a exposição fotográfica Populações tradicionais do Tocantins: cultura e saberes de comunidades quilombolas, realizada no dia 12 de março de 2013, no Corredor Cultural da Universidade Federal do Tocantins – UFT. O objetivo da pesquisa é fazer um estudo sobre o significante fotográfico, analisando as imagens fotográficas de duas maneiras: como documento e como expressão. Para o percurso teórico, propôs-se uma rápida incursão pela história da fotografia para, posteriormente, pesquisar a fotografia-documento e a fotografia-expressão. Observou-se que a fotógrafa faz uso da fotografia-expressão na captura dos seus instantâneos, pois, por meio de belas imagens, revela a dura e valorosa vida nas comunidades, entrelaçando o documental à fotografia-expressão. Este artigo nasce de uma inspiração e de uma reflexão teórica de um projeto de pesquisa e teve como objetivo sistematizar o conhecimento acerca dos bens culturais de natureza material e imaterial das comunidades remanescentes de quilombos do Estado do Tocantins. O artigo proposto surge de um desejo ontológico, no sentido barthesiano, de saber o que é a fotografia e quais os traços que a distingue de outras imagens. De acordo com Barthes (1984, p. 13) “a fotografia repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente”. Essa reflexão originou-se de muitas perguntas barthesianas: por que a fotógrafa Maria Lúcia Fernandes Rocha escolheu fotografar aquele objeto, aquele instante, em vez de qualquer outro? Sabe-se que a imagem fotográfica tem múltiplas facetas e realidades. A primeira, a visível, aquela petrificada no referente, o conteúdo da imagem fotográfica. As outras faces são as invisíveis, aquelas que não se podem ver, ocultas, mas que se pode intuir. Como menciona Kossoy (2009, p. 132), quando diz que “não mais a aparência imóvel ou a existência constatada, mas, também, e principalmente a vida das situações e dos homens retratados, desaparecidos, a história do tema e da gênese da imagem no espaço e tempo, a realidade interior da imagem”. Para o percurso teórico, propõe-se uma rápida incursão pela história da fotografia para, posteriormente, estudar a fotografia-documento e a fotografia-expressão, que teve sua gênese na crise da fotografia documental e suas posteriores transformações. Assim, objetivou-se abordar a exposição fotográfica como uma experiência visual que se situa

69
entre o documental e a expressão. Para a elaboração do artigo, foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos e técnicas de pesquisa: a) a pesquisa elegeu a abordagem da exposição fotográfica, resultante do trabalho fotográfico em cinco comunidades remanescentes de quilombos; b) a pesquisa e a revisão bibliográfica giraram em torno dos seguintes conceitos: fotografia, fotografia-documento, fotografia-expressão; c) foi realizada coleta de dados da exposição e estudo do registro fotográfico. Dessa forma, é uma pesquisa qualitativa, e as imagens foram pensadas com base nos estudos teóricos sobre a fotografia. As referências bibliográficas utilizadas inserem-se dentro do arcabouço teórico fornecido pelos seguintes teórico-estudiosos da fotografia: Kossoy (2009); Rouillé (2009); Shimoda (2009), Soulages (2010).
A TRADIÇÃO REPRESENTADA: VOZ, ORALIDADE E PERFORMANCE NA
CANTORIA SOBRE PATATIVA DO ASSARÉ
Rafael Hofmeister de Aguiar (FEEVALE) Valter Ribeiro (UNISINOS)
Daniel Conte (FEEVALE)
O presente trabalho tem por objetivo analisar a cantoria que se constrói em torno da obra poética de Patativa do Assaré. O corpus da pesquisa é composto pelo registro em vídeo do “Encontro de cantadores” ocorrido junto à casa em que o poeta morou em Serra de Santana (Assaré-CE) durante VIII Patativa do Assaré em Arte e Cultura em março de 2012 e de um repente executado por Mané do Cego e Miceno Pereira na rádio Assaré FM em junho de 2011, quando da nossa pesquisa de campo sobre o poeta. A abordagem segue duas perspectivas que se retroalimentam. A primeira está calcada na representação e difusão do mito sobre a figura de Patativa do Assaré, evidenciando uma imagem não só do sujeito como também de sua obra poética. Essa perspectiva tem como referencial teórico os estudos de Carvalho (2009) e Feitosa (2003) sobre o poeta de Assaré. Enquanto Feitosa (2003) aponta para a construção do mito em torno da figura do poeta, Carvalho (2009, p. 145) registra a existência de uma comunidade poética em Serra de Santana, em que “Patativa seria uma espécie de pai dos poetas da Serra”, o que é expressa pela performance dos cantores que faz parte do nosso corpus. A partir de Zumthor (2000, 2010) e Colombres (1997), a segunda linha de abordagem volta-se para o fazer artístico e poético dos cantadores. Através da performance, advém uma tradição do improviso na lusofonia, que de acordo com Cascudo (s/d) remonta aos pastores da Grécia clássica, ademais da influência da cultura árabe, segundo Gabrieli(1971). Nesse sentido, procura-se identificar como a voz dos repentistas se manifesta em performance interagindo com o auditório ali presente, tornando-se o público uma espécie de coautor dos versos proferidos. Há manifesta uma oralidade primária que se une a mitificação de Patativa, através da imagem do poeta que compõe seus poemas por meio de um exercício mnemônico, em que a memória funciona não só como forma de produção, como também de conservação da obra poética, satisfazendo as cinco fases da existência do poema na acepção de Zumthor (2010) em Introdução à poesia oral.
ENCANTOS DE MINERVA: MEMÓRIA PERFORMATIVA NAS RODAS DE CAFÉ
Rosilene da Conceição Cordeiro (SEMEC/PA-UFPA)

70
Esse trabalho se propõe como relato pessoal íntimo de quem viu, ouviu e veio contar uma parte da história. Pode ser compreendido como pesquisa em movimento uma vez que nasceu e se desenvolveu- seguindo ainda hoje comigo como atuante-performer pesquisadora, como parte da minha formação acadêmica na condição atriz e, à época, aluna do Curso de Especialização em Estudos Contemporâneos do Corpo, no ano de 2010, pela Escola de Teatro e Dança- ETDUFPA, da Universidade Federal do Pará. Tal vínculo me conferiu a possibilidade de cursar, como ouvinte, a disciplina Performance ministrada pelas professoras doutoras Ana Karine Jansen e Wladilene Lima, ambas vinculadas à instituição, disciplina esta inserida na matriz curricular do Curso de Licenciatura em Teatro, na Turma 2009, ETDUFPA/ ICA/ UFPA. Essa experiência surgida num momento privilegiado das minhas reflexões teórico-práticas me oportunizou o aprofundamento de conceitos em torno das temáticas performance e narrativa oral em diferentes abordagens apresentadas pelas docentes ao longo das aulas. Concebê-las sob enfoques diferentes permitiu um panorama largo por meio do qual escolhi uma abordagem de meu interesse situada no campo dos estudos da performance inauguradas por Richard Schechner e amplamente defendida por Zeca Ligiéro seu interlocutor no Brasil para, a partir desta, desenvolver a empreitada performativa. A pesquisa teve por foco a composição cênica inspirada nas contações de história de minha avó materna chamada Minervina, tratada aqui como persona que se caracteriza pela representatividade das inúmeras contadoras de histórias presentes na região amazônica brasileira, tidas como exímias anfitriãs da palavra cotidiana. Palavras-vivências socializadas de forma poética pela simplicidade, generosidade e leveza com que as tratam, em reuniões domésticas, de cunho totalmente coloquial na presença de parentes e vizinhos, em cerimônias acolhedoras entre sorrisos, cafés de fim de tarde e conversas descontraídas regadas pelo aconchego da voz íntima e próxima de quem conta e quem as ouve. A composição objetivou, deste modo, focar a performance pelos referidos conceitos estudados, aportando na análise do comportamento restaurado segundo Schechner como chave mestra da abordagem metodológica, caminho pelo qual me direcionei para desenvolver a intertextualidade discursiva em interface com a memória e as narrativas orais no âmbito do referido contexto. Tais procedimentos teórico-metodológicos sistematizados como memorial críticopropuseram diálogos estreitos com as narrativas orais cotidianas na fala de idosos e o papel relevante da memória revisitada em inteireza com a ação performativa presente na ação de ‘contar’, visto que o trabalho centra-se na performance cotidiana contida nas narrativas pessoais sem recursos de espetacularidade, investigando-a de forma teórica e prática, artística e estética possibilitando num novo encontro da palavra universal com a ‘palavra de cada um’. Encantos de Minerva é, por assim dizer, fruto cênico dessas relações dialógicas confluentes em torno das referidas categorias que se encontram na vida diária desaguando em cores e matizes distintos na cena performativa.
VENTOS DO APOCALIPSE: AS FORMAS DA ORALIDADE NA NARRATIVA ESCRITA
Rosilene Silva da Costa (UnB)
As discussões sobre a oralidade têm tomado vulto no meio acadêmico, de forma que hoje os estudos avançaram muito, principalmente nos estudos literários, visto que a

71
Literatura muito se alimenta da oralidade. Ao mesmo tempo, avançou-se muito nas pesquisas sobre as Literaturas Africanas, que hoje são vistas como inovadoras e portadoras de características próprias, embora ainda impere algum preconceito em relação a elas. Nesta comunicação objetivo analisar a obra Ventos do Apocalipse de Paulina Chiziane observando quais são os usos das formas próprias da oralidade que a autora emprega e como este emprego é feito a fim de que o narrador se aproxime do contador de histórias - griot. O embasamento teórico do trabalho será feito principalmente a partir dos conceitos de oralidade propostos por Paul Zumthor (1997), que discute o uso da palavra ritmada e cantada em África como expressões de vida. Também é a partir do proposto por este teórico analisar-se-á o uso dos provérbios e outras formas tradicionais dentro do romance. Os estudos e apontamentos sobre as Literaturas Africanas de Laura Padilha (1995) nos darão o mote de análise da tradição nas Literaturas Africanas, o qual, através da oralidade e da arte de contar se transforma em um exercício de sabedoria. As reflexões de HomiBhabha (2007) sobre o pós-colonialismo, serão importantes no sentido de que assinalam que as literaturas nascidas no pós-colonial acabam por criar novos signos identitários e mesmo de fazerem perceber a existências de novos postos de colaboração e contestação na sociedade. A hipótese que temos de pesquisa aponta para a existência de um fazer literário paradoxal no romance da escritora moçambicana, visto que ao usar as formas tradicionais ela acaba por subvertê-las quando as questiona e mesmo quando as fixa na escrita literária. A mesma subversão está na forma de inovar em sua escrita, pois ao invés de inventar formas distintas, ela recria o seu fazer a partir das formas que a tradição oral já há muito tempo vem usando.
BIBLIOTECA PÚBLICA: UM LUGAR PARA "ENCANTADORES" DE HISTÓRIA – O CASO DA HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Samuel Frison (UFRGS)
A comunicação oral a seguir pretende mostrar como a biblioteca pública tem importância na formação dos contadores de histórias e na divulgação das suas práticas, mediando atividades de leitura e realizando performances. A metodologia utilizada é o estudo de caso. Para tanto analisa a Biblioteca Pública Infantil Hans Christian Andersen, localizada no bairro do Tatuapé, na cidade de São Paulo, que promove, desde 2008, o curso de Formação para Contadores de Histórias. A unidade de informação dissemina a prática das poéticas orais, incentiva à formação de contadores de história e respeita os princípios determinados pelo Manifesto da UNESCO e da IFLA (Internacional Federation of Library Associations) para bibliotecas públicas. São eles: apoiar a tradição oral, fomentar o diálogo intercultural e a diversidade cultural, promover o conhecimento sobre a herança cultural e o apreço às artes em geral. Também atender às expressões advindas das diversas culturas onde a biblioteca está inserida. Porém, o utilitarismo social que tem impregnado os órgãos públicos de acesso à cultura e a pressão por sua verba de manutenção, aliado ao espírito tecnocrata e neoliberal, têm ameaçado esse patrimônio. A biblioteca, enquanto espaço cultural, precisa atender aos índices de frequência, mostrando resultados, como atesta Darnton (2009). Nessa tensão entre custos e resultados, a Hans Christian tem atingido sua meta e o curso de contadores é um indicador para um aumento no movimento dos usuários, bem como no respeito à diversidade de culturas. Com base em pressupostos de Paul Zumthor (2007) e da teoria da recepção, serão analisadas as ações de promoção da

72
leitura e as performances de contadores ocorridas nesse espaço, seus resultados e ganhos para a disseminação da cultura. Com esse acompanhamento será possível observar como a Hans Christian mantém viva sua ligação com a comunidade e cumpre seu dever de aproximar leitores, além de prestar um serviço de cidadania aos seus usuários, transformando a arte de contar história em arte de encantar, daí a poética dos "encantadores de histórias" que provém de suas práticas. CONTA COMIGO: PRODUÇÃO E ANÁLISE DE ACERVO DE NARRATIVAS
ORAIS DA COMUNIDADE PRIMAVERA.
Simone Grams Land (UFRGS)
A arte de ouvir-contar histórias é motivadora desse trabalho, assim como a força da palavra, da voz, do gesto, do ser que se diz. Esse trabalho conta com a produção de um acervo de narrativas orais da comunidade Primavera, de Novo Hamburgo, composto por performances de dez narradores, cinco mulheres e cinco homens. O fato de ser antes nativa do que pesquisadora influenciou na seleção dos narradores que seriam gravados, pois levei em conta os papeis de liderança dos quais tinha conhecimento, bem como sua atuação como contadores de história no exercício dessa liderança. Além disso, busquei diversidade quanto à idade dos narradores, para que a vida social da comunidade fosse revelada em perspectiva, tanto em relação ao tempo cronológico, dos acontecimentos de cada época, como também na forma de narrá-los, vinculada ao período da vida no qual se encontra o narrador. Assim, a produção desse acervo contou com a participação de líderes de grupos de diversas faixas etárias. A proposta é uma produção em conjunto, por meio de co-criações. Uma das performances foi gravada virtualmente, enquanto as outras foram registradas durante encontros em minha casa, nas casas dos narradores ou nas salas da igreja do bairro Primavera. Assim, procuro apresentar as condições de produção desse acervo e proporcionar encontros de perspectivas, quanto à vivência nessa comunidade, para os que dela participam, ou mesmo, para os que dela nada ou pouco ouviram falar antes. Além de contribuir para os estudos da área de poéticas da voz, um dos objetivos desse trabalho é produzir algo significativo para mim e para essa comunidade, bem como homenagear os narradores e a comunidade da qual pertencem. Após apresentar tal produção, proponho uma análise desse acervo, a partir das seguintes perguntas: essas histórias são boas histórias? De que modo forma e sentido se coagulam? O que essas narrativas revelam da vida social da comunidade Primavera? Nessa análise, dialogo com autores de diversas áreas – antropologia, história, linguística, literatura – tratando de linguagem para além da letra, envolvendo corpo em performance, poética da vida social e história na voz dos narradores.
DO INÍCIO AO FIM: CONTADOR DE HISTÓRIAS
Simone Grams Land (UFRGS)
Nesse vídeo, por meio da performance de Delmar Land, é possível contemplar a arte de ouvir-contar histórias e suas marcas, que permanecem, do início ao fim da vida de um contador de histórias, perpassando gerações. Aos 62 anos, casado, pai de três filhos, gerente de produção em indústria calçadista, depois de quase 20 anos de participação na comunidade Primavera, Delmar Land mora em João Pessoa, na Paraíba, em função do

73
trabalho. No tempo em que morava no bairro Primavera, em Novo Hamburgo, Rio grande do Sul, envolveu-se com a comunidade, exercendo papel de liderança, no presbitério, isto é, na diretoria da igreja, bem como em grupo de casais. Porém, o conheci como contador de histórias em casa, na cozinha, à mesa, ou em encontros de família e amigos. Nesse ambiente, meu pai se revela um contador de histórias, de causos, de proezas da vida no interior, da infância, da juventude. Seus olhos brilham ao contar uma história. Nos últimos anos, ele tem pesquisado a história dos ancestrais, acredito que pelo gosto de conhecê-la e recontá-la. Assim, apesar da distância, não quis deixá-lo de fora do acervo de narrativas orais do Primavera, o qual produzi durante o trabalho de conclusão, no primeiro semestre de 2013. Para produzir o vídeo, contei com a ajuda do meu irmão, Cristiano Land, para baixar um programa que gravasse uma conversa virtual, no caso, pelo skype. Ele encontrou o programa Camtasia, por meio do qual é possível registrar o que aparece na tela do computador. Desse modo, foi possível produzir o vídeo do narrador contando sua história em João Pessoa, na empresa em que trabalha, para mim, sua filha, em frente à tela, em Novo Hamburgo, no bairro Primavera. Meu pai decidiu contar sobre seu avô, que, por sua vez, também era contador de histórias. Ele enfatizou o quanto aprendeu com seu avô e como o acompanhou até o fim de sua vida. Ao falar sobre isso, ele procurou conter o choro – fato que, depois da gravação, solicitou que eu cortasse, ao editar. Finalizei a gravação quando ele disse “era isso”, porém, continuamos a conversa, falando sobre como ele pôde retribuir o carinho e cuidado recebidos pelo avô. Ele continuou a falar sobre seu avô, sobre como ele havia aprendido a tratar de ferimentos com seu pai, bisavô dele, socorrista na guerra da unificação da Alemanha; sendo que, naquele momento, a sabedoria que passava de uma geração à outra era colocada em prática, para dela cuidar. Após isso, disse mais uma vez: “era isso”, ao que informei que há tempo já não estava mais gravando. Cogitei a possibilidade de ele contar novamente para gravarmos mais uma parte; no entanto, ao verificar o tempo da primeira gravação, ficamos surpresos com os quinze minutos de vídeo e resolvemos deixar assim. A proposta, portanto, é uma produção em conjunto, uma co-criação.
OS SABERES CULTURAIS LÚDICOS: VIVÊNCIAS DE CRIANÇAS QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA PARAENSE
Shirley Silva do Nascimento (UEPA)
Nazaré Cristina Carvalho (UEPA)
A pesquisa em Educação têm vivenciado diferentes compreensões e proposições epistemológicas em relação aos objetos de estudos. É válido repensar os desafios existentes nos debates investigativos, os quais adentram novas perspectivas de fazer e pensar a ciência, a partir do reconhecimento e valorização das vivências e saberes de sujeitos historicamente marginalizados. Assim, referendamos este contexto Amazônico nesta construção teórica, a partir da pesquisa em construção, vinculada ao programa de Pós Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará, na linha de Saberes e Educação na Amazônia, a qual se debruça sobre a relevância em pesquisar sobre os desdobramentos de viver e pensar a ludicidade, a partir dos brinquedos e brincadeiras de crianças quilombolas, considerando os saberes culturais os quais estão mergulhados e codificados nas vivências lúdicas dessas crianças, que habitam o município de Concórdia do Pará, especificamente, na comunidade remanescente de quilombo Campo- Verde. Este estudo apresenta como objetivo geralanalisar os saberes presentes nos

74
brinquedos e brincadeiras das crianças remanescentes quilombolas de Campo Verde do município de Concórdia do Pará, no sentido da valorização; reconhecimento e reflexão sobre os saberes vivenciados nesta comunidade a partir das expressões e criações lúdicas das crianças. Dessa forma, as construções teóricas desta pesquisa permitem aproximações com alguns autores como Brandão (2002-2007); Benjamim (2002); Brougere (2008); Charlot (2000) e Huizinga (2012). A pesquisa é de campo a partir de Marcondes (2010) de acordo com os aspectos da abordagem qualitativa de acordo com Minayo (1994) que pretende ser coerente ao método histórico crítico. Os sujeitos da pesquisa são 10 crianças de 06 a 12 anos de ambos os sexos, moradores da comunidade remanescente quilombola Campo-Verde do município de concórdia do Pará. A coleta dos dados do estudo está organizada a partir das proposições de Gil (2008) sendo realizado inicialmente o levantamento bibliográfico referente à temática a ser estudada. Para além disso, será utilizado um diário de campo, no qual serão escritos todas as questões e relações construídas nas investigações, bem como o uso da observação, procurando identificar os brinquedos, brincadeiras e os saberes vivenciados pelas crianças quilombolas. Ainda considera-se a realização da entrevista coletiva e individual, nas quais enfatizaremos a questão da oralidade no sentido explicativo de ações mais específicas do estudo e a produção de desenhos pelas próprias crianças referentes às brincadeiras sem negar a fala das mesmas posteriormente sobre tais manifestações, ainda recorreremos aos registros fotográficos das realizações lúdicas quilombolas. A análise dos dados pretende ser de acordo com o discurso do sujeito coletivo de Lefreve e Lefreve (2000).
NAVEGANDO NO MAR DE FILOMENA: A RELAÇÃO ENTRE
ILUSTRAÇÕES E TEXTO NA OBRA DA CABULA, DE ALLAN DA ROSA
Sofia Robin Ávila da Silva (UFRGS) A obra Da Cabula consiste em uma peça teatral em ato único ("istória pa tiatru" como vem indicado no subtítulo do texto), escrita por Allan da Rosa. Na peça acompanhamos a trajetória de Filomena da Cabula rumo ao aprendizado da escrita. Nessa trajetória estão vários momentos da vida de Filomena, que chegam ao leitor por meio das reminiscências da memória dessa senhora, negra, empregada doméstica e analfabeta, que nos apresenta suas histórias muitas vezes perpassadas por preconceitos e abusos, mas que também mostra como outros saberes permitem a mobilidade dos sujeitos marginalizados no espaço urbano. Ainda que aprender a escrever seja uma meta de Filomena (que vê a escrita como uma forma de empoderamento e ascensão social), é possível perceber que a personagem criou vários outros mecanismos de sobrevivência e de proteção da sua integridade. Para apresentar essa história, o autor se vale de diferentes linguagens que vão além do texto propriamente dito, a começar pelo fato de que ele foi escrito para ser encenado. O leitor é convidado a percorrer um texto organizado em várias camadas: a dos diálogos, a dos para-textos e ainda a das imagens que antecedem cada cena e ilustram o que será descrito na sequência. Além de apresentar-se como um grande desafio para aqueles que pretendem encenar a peça, o texto representa um dos aspectos latentes da literatura contemporânea brasileira que é a intermidialidade. Existe uma forte interdependência ente os elementos acima mencionados, sendo praticamente inviável compreender o texto sem atentar para todas as suas facetas. Nesta análise proponho-me a compartilhar uma leitura possível dessas relações intersemióticas, dialogando com as questões de representação presentes na

75
literatura marginal brasileira da contemporaneidade. Serão utilizados como ponto de partida e suporte para as análises feitas nesse trabalho: os estudos de Érica Peçanha do Nascimento sobre as vozes marginais na literatura, as discussões de Regina Dalcastagné sobre representação de grupos marginalizados na literatura brasileira contemporâneae as leituras de Gustavo Bicalho sobre a obra de Allan da Rosa.
A ORALIDADE E SEUS ATUAIS CONTORNOS: PERFORMANCES E RECEPÇÕES DO CORPO NAS REDES SOCIAIS
Taíse Alves Moreira(UNEB)
O presente artigo visa apresentar para a comunidade acadêmica como se desdobraria o processo de valorização simbólica nas redes sociais, devido à troca do contato físico pelo contato virtual, mesmo que o resultado de certas práticas (como o compartilhamento de conteúdo poético) resulte em sensações semelhantes a aquelas percebidas presencialmente. Observa-se o surgimento e a propagação das comunidades virtuais que apresentam uma proposta de aproximação de pessoas geograficamente separadas, mas que excluiria, em um primeiro momento, a prática de costumes orais. Embora proporcionem tais sensações, o ato da oralidade é adaptado nesse meio pelo processo da escrita. O questionamento é aberto quando se indaga sobre como se processariam as performances e recepções do corpo emanadas pela propagação da voz no contato presencial nesse mundo virtualizado que estaria provocando o isolamento das pessoas, inclusive daqueles participantes de grandes comunidades, que compartilham gostos, pensamentos e ideologias análogas. Assim, contarei com os seguintes objetivos específicos nesse processo inicial de investigação na pós-crítica: iniciar por uma leitura antropológica e/ou sociológica sobre cultura e estudos que trabalham sobre a valorização simbólica dos objetos, para situar a nova possibilidade de formatação social que envolve a coletividade denominada de comunidades virtuais. E na sequência, como a utilização desse dispositivo influenciaria sobre as performances e recepções do corpo visualizadas normalmente no contato presencial. Com um levantamento teórico consistente, composto por autores ímpares nos estudos aqui apontados, como Zumthor (2007 e 2010), Santaella (2003), Geertz (1989) e Thompson (1995), o trabalho ainda se encontra em fase inicial e, portanto não tem como foco apresentar novos conceitos, mas de reaplicá-los sob os novos acontecimentos culturais que envolvem o homem e a fala dentro de uma comunidade, mas que na contemporaneidade, se re-configura com uma maior utilização da escrita, em um espaço isolado existente no ambiente virtual, no que se refere a propagação de textos poéticos.
POESIA FEMININA SUBALTERNA NEGRA: UMA VOZ DE
RESISTÊNCIA
Taise Campos dos Santos Pinheiro de Souza (UNEB) Em todo um processo histórico de opressão e exclusão da mulher por nossa sociedade patriarcal, pautada e normatizada pelo discurso masculino e branco, vimos as mulheres, especialmente as negras ficaram relegadas ao silenciamento. Uma maior repressão às vozes de mulheres negras e consequentemente de suas produções se deve ao fato destas serem marcadas pelo preconceito em duas instâncias: a de gênero e a de raça, e por

76
vezes a de classe. Diante dessa conjuntura, o seguinte trabalho busca refletir e discutir sobre poesias das escritoras negras Alzira Rufino e Conceição Evaristo que falam, debatem, tencionam sobre diversas questões socioculturais em torno da mulher negra e todo esse processo de exclusão e silenciamento por meio desse mecanismo. Com isso buscamos mostrar como as vozes poéticas dessas mulheres tornam-se ferramentas que podem desconstruir estereótipos, “balançar” com estruturas socioculturais historicamente fixadas, e com a potencialidade de suas poesias podem lutar contra a opressão, exclusão e a negação de suas alteridades, ecoando suas vozes como forma de protesto, de resistência, em busca de serem ouvidas e de intervirem contra uma exclusão patriarcal, construída historicamente em torno da mulher, principalmente a negra. Para embasar teoricamente esse trabalho nos pautaremos em autores (as) como Miriam Alves (2010), Vera Soares (2000), Ana Rita Silva (2010), Michel Foucault (2000), Roland Walter (1999), Rita Schmidt (1995), entre outros (as). Sendo assim a poesia constitui-se como forma de conscientização política e social, mostrando que estas mulheres negras, lutam, denunciam e buscam transformar um sistema hegemônico dominante que de vários modos as subalternizam, desestabilizando assim um conceito tradicional de subalternidade e dando um novo enfoque à literatura. É preciso, então, atentar para as vozes que foram e ainda por vezes são silenciadas, “abafadas” por discursos hegemônicos, fixos, enrijecidos, perpassá-las, trabalhando por meio de uma construção cultural em que essas vozes femininas negras sejam reconhecidas em sua alteridade e autonomia.
NAVEGANDO PELOS “CAUSOS” DE MATARANDIBA: O ORAL COMO RESSIGNIFICAÇÃO
Thaís Aparecida Pellegrini Vieira (UNEB)
O presente trabalho objetiva apresentar a tradição oral da Vila de Matarandiba, uma comunidade de pescadores e marisqueiras localizada na contracosta da Ilha de Itaparica, no Estado da Bahia. Neste momento, apresento, como objeto de análise, três “causos” coletados em Matarandiba, resultado da pesquisa de campo realizada na localidade durante meu curso de mestrado, que buscou registros de amostras da tradição oral da região. A partir dessas narrativas, discuto a identidade cultural da vila, utilizando a ideia de hibridismo empreendida por Canclini (2008). As referidas narrativas aparecem como documento vivo, cujos elementos evidenciam a permanência de tradições culturais, suas ressignificações, bem como a ocorrência de temas antigos, mesclados aos costumes dos moradores da vila. Os autores: Alcoforado (1990), Canclini (2008), Cascudo (2005), Costa (2005), Zumthor (2010), entre outros, foram utilizados como pressupostos teóricos norteando o desenrolar do trabalho. Os estudos empreendidos, a partir da tradição oral da vila, revelaram os discursos que habitam as vozes matarandibenses, que ora reafirmam valores de cunho etnocêntrico, ora os negam. Esse jogo de significações aparece no ato da transmissão oral, retratando a identidade cultural da vila que aparece de forma híbrida.
O ARTISTA E SEU INVENTO:A ESPACIALIZAÇÃO NA POÉTICA DE VITOR RAMIL
Tatiana Prevedello (UFRGS)

77
A multidimensionalidade espaço-temporal é uma das características que perpassa a configuração poética contida nas canções do artista Vitor Ramil. Nessa perspectiva, dois importantes movimentos são operados: o primeiro se desenvolve à proporção que motivos líricos, os quais remetem a uma cultura local, fortemente marcada pelas imagens do pampa gaúcho, se projetam na direção de uma totalidade; o segundo, ocorre quando, a partir de uma dimensão mais ampla, o “eu” se volta para as instâncias que remetem ao local, corporificado sob a forma de uma região, cidade, casa, objetos e, em consequência, explora os mais recônditos domínios interiores do sujeito. O autor de A estética do frio situa a sua produção artística em um meio cultural não hegemônico, que é o sul do Brasil e, de forma mais precisa, na sua cidade de origem, Pelotas, que em sua obra se transforma em Satolep. A inversão, que não é apenas um simples trocadilho, sustenta o princípio de que a “arte deve ser como um espelho que nos revela a própria face”, tal afirmou Jorge Luís Borges, autor constantemente referido por Ramil. Objetivamos, dentro desta proposta, examinar a relação dialética que se estabelece entre os fios articuladores da palavra lírica de Ramil, os quais se mostram regidos por elementos como “rigor, profundidade, clareza, concisão, pureza, leveza e melancolia”. O objeto de nossa análise são as composições do álbum Foi no mês que vem, lançado neste ano de 2013, resultante de uma revisitação “reinventada” de toda a trajetória do artista para o qual direcionamos o nosso olhar. Entrelaçaremos a presente reflexão às elaborações teóricas tecidas por Gaston Bachelard em a Poética do espaço, uma vez que este texto apresenta uma interpretação significativa para o emprego de recursos imagéticos e suas projeções circulares, suspensas pelas linhas líricas que operam a mediação existente entre o interior e o infinito.
O QUE É SER AFRICANO NA DIÁSPORA?
Vanessa Alves Felix(UFRGS)
A memória está intimamente relacionada com a história de um povo, mais especificamente com a história do indivíduo. Assim, ela acaba sendo deveras importante na formação dos cidadãos, principalmente na compreensão dele com seu íntimo e no desenvolvimento da sua personalidade. A partir disso, podemos pensar que memória e identidade são elementos que se fundem. Joël Candau, estudioso da Antropologia, defende essa ideia e serve como suporte teórico para refletirmos sobre o quanto o sujeito pode modelar a história, por meio das suas lembranças. Para evidenciar isso, neste trabalho, entrevistas foram feitas com estudantes africanos do país Guiné-Bissau e que, hoje, pertencem ao PEC-G (Programa de Estudantes de Convênio de Graduação). Nelas, os jovens expressam seus pontos de vista sobre o continente africano, no século XXI, e revelam a importância dos seus ancestrais na construção da identidade do povo guineense. Reflexões sobre o pensamento do jovem que vive no continente africano, assim como aquele que vive em um país estrangeiro são feitas. Além dos estudos de Candau , os textos da teórica Beatriz Sarlo também servem para a análise dos relatos desses alunos, pois recorrendo a seus escritos refletimos como a tradição sobrevive numa época em que muitos jovens africanos saem do seu lugar de origem e vão em busca de mais e de melhores oportunidades, normalmente fora do seu espaço continental. Goli Guerreiro, antropóloga brasileira, também é utilizada como suporte teórico, visto que ela utiliza o termo “terceira diáspora” para analisar as culturas negras

78
no mundo atlântico. A memória, neste trabalho, tem como intuito resgatar a cultura africana e refletir como a tradição oriental está sendo influenciada pelos costumes ocidentais, por intermédio da globalização. O que se perde e que se ganha com este processo de “integração global” são algumas das perguntas respondidas pelos jovens guineenses.
A OBSCENIDADE COMO ELEMENTO NARRATIVO NA LITERATURA
ORAL DA IDADE MÉDIA
Vanessa Zucchi (PUCRS) Segundo Alexandrian (1993) a Idade Média é responsável por inaugurar o conceito de luxúria, até então inexistente nos sistemas morais ocidentais. Com isso, enquanto o clérigo condenava qualquer manifestação luxuriosa, o povo denunciava a hipocrisia dessa intervenção, tencionando ostentar, sobretudo através de histórias contadas oralmente, como o mundo funcionava sob o eixo da luxúria. Refletindo esse momento, a literatura da época oscila entre o sagrado e o profano – e, nessa mesma dialética, poderíamos estender: entre a escrita e oralidade. Mitos, provérbios, fábulas, casos com caráter edificante ou mesmo de entretenimento: a literatura oral tem raízes na antiguidade e desenvolveu-se sob as mais diversas características. Contadas de geração em geração, inúmeras histórias só sobreviveram na memória; tantas outras fomentaram o imaginário coletivo e foram registradas pela escrita. Na Idade Média, podem ser destacadas inúmeras produções orais que utilizaram, através de um tom jocoso, a obscenidade para construir suas narrativas. Várias dessas histórias contavam as peripécias sexuais de jovens, monges, maridos traídos (ou traidores), retratando uma pluralidade de experiências luxuriosas que, repetidas exaustivamente nas mais diversas situações, eram incorporadas à dinâmica da vida dos sujeitos. Nesse sentido, esse trabalho tem por objetivo fulcral analisar a obscenidade como elemento narrativo na literatura oral da Idade Média, através da análise de fabliaux, facécias e outros gêneros orais característicos da época. O trabalho será realizado através de revisão bibliográfica que possibilite, em um primeiro momento, a construção do corpus literário com textos orais marcados pela obscenidade, e, em um segundo momento, que viabilize a elaboração de um quadro teórico que subsidiará a análise dos textos.
“CAUSOS DE PRETO-VELHO”: DA VIDA REAL À REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA – A LITERATURA ORAL NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
Vânia Alves da Silva (UnB)
Este artigo visa analisar a representação do “preto-velho” – arquétipo significativo nas culturas africana e afro-brasileira – na novela Mar me quer, de Mia Couto (2000) e na película brasileira Cafundó (2005), dirigida por Paulo Betti e roteiro de Clóvis Bueno. A escolha dessa figura é devido à construção das relações interculturais Brasil e Moçambique – país natal de Mia Couto, visto a colonização portuguesa nesses países, além do processo de escravidão negra inserida no Brasil entre os séculos XVI e XIXe, consequentemente, a influência na inserção desse personagem na identidade brasileira. Desse modo, será analisado o personagem avô Celestiano, na obra de Mia Couto, como detentor da cultura e da ancestralidade do grupo social ao qual pertence na novela. Figura esta também representada pela sabedoria popular, pela construção mítica de

79
transitar entre o mundo dos vivos e dos mortos, pela ação de “ensinar” a vida por meio de “causos de preto-velho” e, com isso, torna-se o narrador oral (BENJAMIN, 1994) da coletividade, ganhando assim a voz estilizada da cultura da comunidade em que vive. Além disso, propõe-se a relação dialógica (BAKHTIN) com o filme Cafundó, devido ao constructo de uma película baseada na vida real de João de Camargo, “preto-velho” milagreiro que viveu no Brasil entre os séculos XIX e XX. Assim, o objetivo central dessa pesquisa é o dialogismo entre as expressões artísticas: literatura oral e cinema na representação do outro na construção da identidade e na transposição dos valores de vida por meio da literatura oral apresentada pela imagem emblemática do “preto-velho”, presente na cultura africana e afro-brasileira.
A ORALIDADE NA CONSTRUÇÃO HISTORIOGRÁFICA LOCAL: A CANTIGA DE ABOIO COMO VEÍCULO DE (RE)MEMORIZAÇÃO DOS
ENCOURADOS DE PEDRÃO
Wellington de Souza Madureira (UNEB) Essa pesquisa tem como objetivo buscar, nas narrativas dos cânticos de aboio entoados pelos vaqueiros da cidade de Pedrão, Bahia, indícios do movimento histórico denominado Encourados de Pedrão. Os Encourados se define como um movimento patriótico constituído por vaqueiros que de forma voluntaria partem do município de Pedrão para lutarem no processo de Independência da Bahia em 1823. Essa pesquisa se torna pertinente diante das semelhanças entre os sujeitos do passado - a figura do vaqueiro como parte integrante dos Encourados – e os vaqueiros e sua cantiga de aboio na labuta diária com o gado hoje. As cantigas de aboio se constituem uma forma particular de chamamento de animais pelos vaqueiros e como forma de manter o grupo de bois ajuntado na condução de um lugar para outro. Essa pratica é bastante peculiar na cultura brasileira, presente na zona rural e no interior do país. Os aboios se situam no contexto das prática orais como narrativas que podem carregar elementos relativos á memoria local. Para os historiadores se utilizar de fontes orais como meios que possibilitem identificar e compreender um determinado fato do passado se constituem em alternativa significante a partir do reconhecimento de seus limites e suas implicações, na ausência de fontes escritas. Este artigo será construído tendo como referencia a obra Vaqueiros e Cantadores, de Luiz da Câmara Cascudo e como aporte teórico as contribuições de Alberti, Peter Burke, Le Goff e Bom Meihy . A citada pesquisa é de natureza qualitativa, com base na critica cultural. A metodologia utilizada será aplicada a partir dos testemunhos dos sujeitos que mantem uma relação com o ofício de vaqueiro, trabalhadores da zona rural de Pedrão. Uma vez que se trata de uma pesquisa em andamento, a comunicação proposta deve apresentar resultados parciais. BOTO: MITOPOÉTICA AMAZÔNICA, NARRATIVA ORAL E SABERES DA
SEXUALIDADE.
Zaline do Carmo dos Santos Wanzeler(UEPA) Josebel Akel Fares (UEPA)

80
A presente proposta faz parte de um projeto de pesquisa ainda em construção, da linha Saberes Culturais e Educação na Amazônia, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEPA (Mestrado) e tem como objetivo estudar a narrativa oral do boto e sua inter-relação com a sexualidade enquanto prática educativa desenvolvida no cotidiano de Cametá-Pa. Com isso, versa registrar narrativas orais do boto a partir das memórias de velho; verificar se traços narrativos (personagens, espaços, tempo, ação, narradores, simbologias e alegorias) remetem a sexualidade e compreender a presença da narrativa oral do boto na construção da identidade da população ribeirinha de Cametá. Para a base teórica dialoga-se com Zumthor (1993; 2010), Foulcault (1984), Bosi (1994), Bergson (2006), Halbwachs (2004), Câmara Cascudo (2002) e Loureiro (1995). O procedimento metodológico segue o da História Oral e envolve um trabalhodescritivo, de campo, com pressupostos da abordagem fenomenológica. A história oral parte das memórias individuais colhidas por meio da entrevista oral semiestruturada, o que sugere a reconstrução da identidade a partir do indivíduo que a vive, a comunicação se faz em presença. Sobre o método de análise dos dados, faz-se uso da analise do conteúdo. Os intérpretes escolhidos para contar sobre o personagem boto, da Mitopoética da Amazônia, são mulheres acima de 55 anos e homens acima dos 60. Esta é a idade da aposentadoria do ribeirinho segundo a Previdência Social (2013), no entanto para apresentação no III Seminário de Poéticas Orais, apenas uma narrativa foi selecionada e trabalhada com afinco. Esta narrativa escolhida foi transcrita e analisada. Ela diferencia-se das narrativas descritas por Cascudo (2002) e, talvez por isso, seja representativa do imaginário amazônico local de Cametá-Pará. A chave para a leitura estará centrada nos pontos sobre memória, oralidade, imaginário, simbólico, educação, sexualidade. Espera-se que esta pesquisa, além da experiência investigativa, aponte os ditos e interditos sobre o boto.