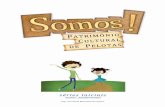LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE HISTÓRIA
Transcript of LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE HISTÓRIA

1
LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE HISTÓRIA1
Amilton Benedito Peletti2
Este texto é resultado de uma pesquisa monográfica intitulada “Reflexões
Sobre o Ensino de História: Da Ditadura Militar ao Livro Didático da Cidade de
Cascavel”, sendo que utilizamos como recorte para o artigo apenas o terceiro capítulo.
Inicialmente destacamos que na realização deste trabalho utilizamos uma
significativa gama de autores, os quais foram citados, parafraseados ou interpretados.
Esperamos que essa reflexão possa instigar novas discussões e, conseqüentemente,
novas práticas no que se refere ao ensino de história nas escolas.
Ao abordarmos a questão do livro didático faz-se necessário, em primeiro
lugar, levar em conta a condição de mercadoria deste produto, que contém tanto
elementos da sua materialidade, ou seja, das leis de mercado, como também do seu uso,
portanto, da Educação.
A análise do manual escolar de História e de disciplinas correlatas é hoje uma das linhas de pesquisas que tem muitos seguidores no país. Do texto de Estudos Sociais evolui-se para o de História, identificando suas mazelas, os interesses explícitos ou aparentes, as ausências e presenças constantes, analisando-se, assim, a qualidade de seu texto e desvendando, sobretudo os compromissos e as vinculações do discurso histórico na escola, destronando, de uma vez por todas, a concepção da neutralidade da escola e da imparcialidade/objetividade do historiador (NADAI, 1992/3, p. 150).
1 Este artigo é parte da Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Especialista no Curso de Pós-Graduação “latu sensu” Fundamentos da Educação, do Colegiado de Pedagogia, Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, sob orientação do Professor Dr. Alexandre Felipe Fiuza no ano de 2007.2 Mestrando em Educação pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE), Especialista em Fundamentos da Educação pela UNIOESTE, Especialista em História do Brasil pela UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR), Graduado em História pela UNIPAR, Professor da Rede Pública Municipal de Cascavel e Membro do GEPPES. [email protected].

2
No campo da Educação, entender o livro didático na sua completitude justifica-
se, principalmente, em função do papel que este adquire no contexto escolar, pois os
livros didáticos estabelecem grande parte das condições materiais para o ensino e a
aprendizagem nas salas de aula.
O livro didático tem sido, no dia a dia das escolas, especialmente, em conseqüência das precárias condições de trabalho impostas ao professor, um instrumento quase definidor do mesmo. Controlar o livro didático tem representado controlar o próprio currículo (SAPELLI, 2005, p. 7).
Além disso, a postura do Banco Mundial de valorizar investimentos na
aquisição de livros ocorre, de acordo com Torres apud Sapelli (2005), principalmente
pelo fato de os textos escolares – “na maioria dos países em desenvolvimento” –
constituírem-se em si mesmos o currículo efetivo e, também, por tratar-se de um insumo
de baixo custo e alta incidência sobre a qualidade da educação e o rendimento escolar.
Em países como o Brasil, nos quais as condições precárias da educação fazem
com que ele acabe determinando conteúdos e decidindo estratégias de ensino, diz-se
ainda que o livro didático é instrumento importante de ensino e aprendizagem formal
que, apesar de não ser o único, pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado
resultante das atividades escolares. Consideramos que são três as instâncias
fundamentais nesse processo: a área comercial das grandes editoras; o Estado,
especificamente as políticas públicas para o livro didático3 e a escola (CASSIANO,
2004).
Para Bittencourt (2004), o livro didático tem despertado interesse de muitos
pesquisadores nas últimas décadas. Depois de ter sido desconsiderado por bibliógrafos,
educadores e intelectuais de vários setores, entendido como produção menor enquanto
produto cultural, o livro didático começou a ser analisado sob várias perspectivas,
destacando-se os aspectos educativos e seu papel na configuração da escola
contemporânea. O livro didático é um objeto cultural contraditório que gera intensas
polêmicas e críticas de muitos setores, mas tem sido sempre considerado como um
instrumento fundamental no processo de escolarização. O livro didático provoca debates
3 No Brasil, as políticas públicas para o livro didático são representadas pelo PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). Este programa foi criado em 1985, tendo como objetivo a aquisição e distribuição universal e gratuita de livros didáticos para os alunos da rede pública do ensino fundamental, sendo que a política de planejamento, compra, avaliação e distribuição do livro escolar é centralizada no governo federal. Realiza-se por meio do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), autarquia federal vinculada ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pela captação de recursos para o financiamento de programas voltados ao ensino fundamental.

3
no interior da escola, entre educadores, alunos e suas famílias, assim como em
encontros acadêmicos, em artigos de jornais, envolvendo autores, editores, autoridades
políticas, intelectuais de diversas procedências. As discussões em torno do livro estão
vinculadas ainda à sua importância econômica para um vasto setor ligado à produção de
livros e também ao papel do Estado como agente de controle e como consumidor dessa
produção. No caso brasileiro, os investimentos realizados pelas políticas públicas nos
últimos anos transformaram o Programa Nacional de Livro Didático (PNLD) no maior
programa de livro didático do mundo.
É, portanto, por meio de pesquisas e reflexões sobre o livro didático que
podemos identificar a importância e as relações contraditórias desse instrumento de
comunicação, de produção e transmissão de conhecimento, integrante da "tradição
escolar". Para Bittencourt (2004), o livro didático assume ou pode assumir funções
diferentes, dependendo das condições, do lugar e do momento em que é produzido e
utilizado nas diferentes situações escolares. Por ser um objeto de "múltiplas facetas", o
livro didático é pesquisado enquanto produto cultural; como mercadoria ligada ao
mundo editorial e dentro da lógica de mercado capitalista; como suporte de
conhecimentos e de métodos de ensino das diversas disciplinas e matérias escolares; e,
ainda, como veículo de valores, ideológicos ou culturais.
As análises de caráter ideológico iniciaram-se na década de 1960, época em
que se privilegia a denúncia do caráter ideológico dos textos e do conteúdo dos livros
escolares. Esta abordagem ocupava e ainda ocupa um lugar de destaque nas pesquisas
nacionais onde o enfoque sobre as ideologias subjacentes aos manuais ainda permanece.
No entanto, nos últimos anos houve mudanças de abordagens, pois foram ganhando
destaque análises acrescidas de outras temáticas, como por exemplo, relações entre as
políticas públicas e a produção didática, evidenciando o papel do Estado na
normatização e no controle da produção.
A partir dos anos 1980, muitos dos problemas relacionados ao conteúdo ou ao
processo de produção e uso do livro didático por professores e alunos passaram a ser
analisados em uma perspectiva histórica, constituindo-se tais análises em uma das
vertentes mais importantes desse campo de investigação. Os objetivos centrais de tais
análises são o de situar o processo de mudanças e permanências do livro didático – tanto
como objeto cultural fabricado quanto pelo seu conteúdo e práticas pedagógicas –,
considerando sua inserção hoje, quando se introduzem, em escala crescente, novas
tecnologias educacionais, as quais chegam a colocar em xeque a própria permanência

4
do livro como suporte preferencial de comunicação de saberes escolares
(BITTENCOURT, 2004).
Percebemos que o livro didático tem contribuído para a formação de uma
identidade nacional na escola, com a sacralização de certos acontecimentos históricos e
personagens tanto por meio das narrativas dos textos didáticos como por meio das
ilustrações. Exemplo disso são as pinturas ou ilustrações representando: Tiradentes, D.
Pedro I, Princesa Isabel, Independência do Brasil, a primeira missa, a Batalha de
Guararapes, pintadas por artistas que receberam todo o apoio do governo imperial,
como Pedro Américo, Vítor Meireles, considerados pintores oficiais da Monarquia.
Portanto, a formação de uma identidade nacional e do conceito de nação é um
processo ideológico que na escola passa necessariamente pela conservação de uma
memória nacional e pela formação de uma consciência política. As propostas
educacionais do Estado não discutem no processo educativo que a formação da
identidade nacional e da nação são construções sociais em que o povo é sujeito
(ZAMBONI, 2003).
Para tanto, o Estado impulsionou a indústria cultural, sendo que, no caso do
ensino, houve uma adoção em massa de livros didáticos, assumindo, em muitos casos,
reiteramos, a forma de currículo.
O livro didático torna-se uma das mercadorias mais vendidas no campo da indústria editorial. Daí a preocupação do Estado e das editoras em publicar os livros que estivessem em perfeita sintonia com os programas curriculares de História, Geografia e demais disciplinas. Uma outra novidade, visando à aceitação maior do livro didático, foi o lançamento dos manuais dos professores, pela Editora Ática, em meados dos anos 60. Estes manuais, além de trazerem a resolução de todos os exercícios propostos, forneciam (e alguns ainda o fazem) os planejamentos anuais e bimestrais prontos para o professor (FONSECA, 1994, p. 139).
A grande produção editorial no Brasil, principalmente de livros didáticos, não
significou a democratização do saber, pelo contrário, o consumo em massa de livros
didáticos de História, não contribuiu para a compreensão crítica da História entre os
alunos, pois este material tornou-se um “veículo” de difusão de uma história que
reproduzia a memória oficial, por sua vez excludente.
O projeto de simplificação no nível de difusão implica tornar definitiva, institucionalizada e legitimada pela sociedade a memória

5
de um projeto de poder vitorioso. Não é por outro motivo que a história do livro didático é, basicamente, a História Política Institucional. “Os grandes fatos que marcaram a vida da sociedade” são consumidos e consagrados como a História. Entretanto, estas representações transmitidas simplificadamente trazem consigo a marca da exclusão. O processo de excluir inicia-se no social, onde “alguns atos” são escolhidos e “outros” não, de acordo com os critérios políticos. Na academia o trabalho do historiador pode tanto excluir, como recuperar, resgatar excluídos. Através do livro didático, os excluídos não aparecem. Perdem o direito à história (VESENTINI apud FONSECA, 1994, p. 142).
A indústria cultural tornou-se um dos agentes que definem qual história ensinar
e como ensiná-la na escola, contribuindo para um ensino descolado do social ou um
ensino comprometido com outras experiências históricas.
Os livros didáticos não são apenas instrumentos pedagógicos: são também
produtos de grupos sociais que procuram, por intermédio deles, perpetuar suas
identidades, seus valores, suas tradições, suas culturas (CHOPPIN apud
BITTENCOURT, 2002, p. 69). Ainda para a mesma autora, o livro didático tem sido
objeto de avaliações contraditórias, pois existem professores que os abominam
culpando-os pelo fracasso escolar e outros que se calam diante dos livros e o vêem
como um auxílio positivo nas aulas. No entanto, para a autora, o livro didático continua
sendo o referencial dos professores. Diz, ainda, que é preciso entender o livro como
uma mercadoria e que como tal está subordinado a lógica do mercado, pois para ela:
O livro didático é, antes de tudo, uma mercadoria, um produto do mundo da edição que obedece à evolução das técnicas de fabricação e comercialização pertencentes à lógica do mercado. Como mercadoria ele sofre interferências variadas em seu processo de fabricação e comercialização. Em sua construção interferem vários personagens, iniciando pela figura do editor, passando pelo autor e pelos técnicos especializados dos processos gráficos, como programadores visuais, ilustradores. É importante destacar que o livro didático como objeto da indústria cultural impõe uma forma de leitura organizada por profissionais e não exatamente pelo autor. (BITTENCOURT, 2002, p. 71).
O livro didático é um sistematizador de determinadas propostas, diz não apenas
o que fazer, mas como fazer, realizando uma transposição didática do saber acadêmico
para o saber escolar, selecionando textos, ilustrações e conceitos, torna-se, portanto, um
instrumento pedagógico (BITTENCOURT, 2002, p. 73). Entretanto, para a mesma autora,
o livro didático é limitado e condicionado por razões econômicas, ideológicas e

6
técnicas. A linguagem que produz deve ser acessível ao público infantil ou juvenil e isso
tem conduzido a simplificações que limitam sua ação na formação intelectual mais
autônoma dos alunos. Autores e editores ao simplificarem questões complexas impedem
que os textos dos livros provoquem reflexões ou possíveis discordâncias por parte dos
leitores. Sua tendência é de ser um objeto padronizado, com pouco espaço para textos
originais, condicionando formatos e linguagens, com interferências múltiplas em seu
processo de elaboração associadas à lógica da mercantilização e das formas de
consumo.
A História Política que predominou no ensino de História até recentemente foi
responsável pela configuração nestes livros de uma galeria de personagens da vida
administrativa do país. Houve o cuidado de se pesquisar os possíveis retratos de
personagens que ficaram famosos posteriormente, para serem apresentados aos jovens
estudantes. É o caso, por exemplo, de Tomé de Souza e de Pedro Álvares Cabral. O
“descobridor” e o primeiro “chefe político” ou “governador-geral”, ou seja, biografar
chefes políticos fazendo uma galeria de pessoas ilustres.
Nessa perspectiva, o conhecimento histórico de outras sociedades definiu uma
memória utilizada para rememorar e glorificar o passado de grupos dominantes. Para
desmistificar isso é necessário a introdução de outros elementos históricos e, também,
mostrar que essa visão é uma construção histórica e que constitui apenas uma parte da
realidade passada que foi criada.
Bittencourt (2002), ressalta a importância de se considerar o livro como um
documento, de ser analisado como um objeto produzido em determinado momento
histórico, e passível de incorporar investigações históricas. Outro fator importante é o
papel do professor no sentido de mediar uma reflexão sobre as imagens que são postas
diante dos olhos dos alunos por meio do livro didático, compreendendo que aquelas
imagens representam algo, tem um sentido, um significado.
Para Araújo (1999), o livro didático é um instrumento essencial nas aulas de
história e, por isso mesmo, considerado hoje por muitos estudiosos como sendo um dos
problemas crônicos do ensino fundamental e médio por serem os principais
veiculadores de conhecimentos sistematizados. Isso torna emergente uma reflexão sobre
a relação entre conhecimento historiográfico produzido na academia e o saber
sistematizado do livro didático e, conseqüentemente, das aulas de História. Sendo que:

7
É a partir dos finais dos anos 70 que ocorrerão mudanças significativas no espaço acadêmico e na indústria cultural brasileira. Até então a história ensinada no Brasil seguia os guias curriculares cujos princípios norteadores estavam definidos pela Lei 5.692/71 e cujas características principais eram a simplificação e a exclusão das lutas sociais [...] Nos anos 80 constata-se o estreitamento das relações entre academia e o mercado editorial brasileiro, entretanto, observamos que embora mudanças e avanços tenham ocorrido, ainda são marcantes as lacunas e descompassos entre os novos paradigmas historiográficos e o que se vincula enquanto conteúdo dos manuais didáticos de História. O livro didático continua com um forte caráter alienador, já que se constitui em canal de transmissão e manutenção de mitos e estereótipos que povoam a história ensinada (ARAÚJO, 1999, p. 237).
O que pode ser observado nestes manuais é que na relação dos principais fatos,
se expressa uma história factual, personalista, exaltação dos grandes feitos políticos,
sendo que o motor da história são as ações dos grupos dominantes, e não a luta de
classes. O uruguaio Eduardo Galeano, em sua obra “As veias abertas da América
Latina”, expõe o outro lado da moeda, ou seja, a história que não é abordada pelos
vencedores e pelo livro didático.
A veneração pelo passado sempre me pareceu reacionária. A direita escolhe o passado porque prefere os mortos; mundo quieto, tempo quieto. Os poderosos, que legitimam seus privilégios pela herança, cultivam a nostalgia. Estuda-se história como se visita um museu; e esta coleção de múmias é uma fraude. Mentem-nos no passado como mentem no presente: mascaram a realidade. Obriga-se o oprimido a fazer sua, uma memória fabricada pelo opressor: estranha, dissecada, estéril. Assim, ele se resignará a viver uma vida que não é sua, como se fosse a única possível (GALEANO, 2002, p. 286).
O que percebemos é uma continuidade da história tradicional, apesar de
inúmeras pesquisas e do movimento dos educadores e historiadores no sentido de
explicitar a crítica a esse tipo de história.
Essa é uma visão que tem por objetivo a manutenção dos valores sociais
expressos pela sociedade capitalista, transmitida por meio de um discurso “competente”,
ou seja, veiculada através do livro didático que reforça mitos e estereótipos burgueses
como se fossem universais e imutáveis, destituindo a história de suas contradições.
Segundo Bittencourt apud Gasparello (1999), as intervenções das autoridades do Estado
brasileiro em relação ao uso do livro escolar configuram um amplo quadro de ações
bem definidas e articuladas, que vão desde as normas para a confecção do livro didático,

8
definindo quem poderia ser o autor, seu conteúdo e com que fins, até os critérios para a
adoção do livro escolar e de suas práticas na escola por alunos e professores. O livro
escolar exigia, portanto, uma legislação que normatizava, restringia, censurava e
proibia, seguida de determinações pedagógicas sobre o melhor método.
Segundo Costa (1999, p. 286), essas posturas emergiram da análise da
literatura que vem explicitando as contradições e lacunas no ensino de História,
especialmente na década de 80, questionando a concepção única e acabada de História,
tradicional, fragmentada, linear e distante da realidade do aluno. Ainda hoje de 1ª a 4ª
séries ensina-se noções vagas de tempo, datas comemorativas, origem étnica do povo
brasileiro e costumes como se essa diversidade não trouxesse consigo contradições e
conflitos.
Sousa (1999), ao falar do livro didático nos diz que:
Sem dúvida alguma, o livro didático tem exercido papéis contraditórios num país como o nosso, onde a maioria da população não tem acesso à leitura, à escrita, ao acervo cultural. Diante desta realidade, o livro didático, através do lobby das editoras4, se impõe nas escolas, nas salas de aula, no cotidiano do professor, em muitos casos, como único recurso didático e como única forma da acessibilidade a um saber mais elaborado. E, o problema se complica ainda mais, quando se trata do ensino da História Local, onde a produção é mais escassa [...] (p. 620).
Esse papel contraditório do livro didático segundo Bittencourt apud Sousa
(1999, p. 621) deve-se ao fato de o livro didático ser limitado e condicionado por razões
econômicas, ideológicas e técnicas. Além disso, como afirmamos anteriormente, a
linguagem nele expressa deve ser acessível ao público infantil e juvenil e isso tem
conduzido a simplificações que limitam a sua ação na formação intelectual mais
autônoma dos alunos. Mas ao mesmo tempo os textos que auxiliam, ou podem auxiliar,
o domínio da leitura e escrita em todos os níveis da escolarização, serve para ampliar
informações, veiculando e divulgando, com uma linguagem mais acessível, o saber
científico.
É necessário que, durante as aulas ao utilizar o livro didático e outros
documentos, os educadores assim como os historiadores, se preocupem, na escola, com
a formação de uma consciência social e política dos educandos, fornecendo elementos
para que pensem historicamente. Isso significa pensar a nação como um espaço social 4 A expressão disso também pode ser aferida nos contatos das editoras com os professores ao oferecerem “brindes”, como livros ou coleções.

9
de inclusão de todas as camadas sociais e não olharem os movimentos sociais e
políticos das massas como ações direcionadas à ingovernabilidade.
O conhecimento histórico construído em sala de aula pode algumas vezes estar
centrado na cronologia, na informação de fatos descontextualizados para a vida dos
alunos, sem nenhuma vinculação com o momento presente, mas o conhecimento
histórico e a perpetuação das memórias nacionais, acontece tanto no interior do
ambiente escolar como fora dele e com diferentes linguagens: está presente nas
exposições, nos museus, nos arquivos, nos meios de comunicação (cinema, jornais,
televisão, Internet). Cada uma destas formas de ensinar a história implica uma
metodologia própria e recursos a serem utilizados. Em cada um deles o historiador está
formando a consciência histórica (ZAMBONI, 2003).
Para Schimidt; Garcia (2005) é importante que a aula seja um espaço de
compartilhamento de experiências individuais e coletivas, de relação dos sujeitos com
os diferentes saberes envolvidos na produção do saber escolar, orientações e discussões
sobre as condições, finalidades e objetivos do ensino de história e envolve questões
como "para que serve ensinar a história?", "por que trabalhar história na escola?" e
"qual significado tem a história para alunos e professores?".
Portanto, é de fundamental importância uma abordagem que entenda a história
como o estudo da experiência humana no tempo, e que permita entender que a história
estuda a vida de todos os homens e mulheres, com a preocupação de recuperar o sentido
de experiências individuais e coletivas. Este pode ser um dos principais critérios para a
seleção de conteúdos e sua organização em temas a serem ensinados com o objetivo de
contribuir para a formação de consciências individuais e coletivas numa perspectiva
crítica.
Torna necessário que professores e alunos busquem a renovação dos conteúdos, a construção de problematizações históricas, a apreensão de várias histórias lidas a partir de distintos sujeitos históricos, das histórias silenciadas, histórias que não tiveram acesso à História. Assim, busca-se recuperar a vivência pessoal e coletiva de alunos e professores e vê-los como participantes da realidade histórica, a qual deve ser analisada e retrabalhada, com o objetivo de convertê-la em conhecimento histórico, em autoconhecimento, uma vez que, desta maneira, os sujeitos podem inserir-se a partir de um pertencimento, numa ordem de vivências múltiplas e contrapostas na unidade e diversidade do real (SCHMIDT; GARCIA, 2005).

10
Ao abordar a questão da seleção de conteúdos, Schmidt; Garcia (2005),
apontam alguns critérios que devem ser levados em consideração:
A relevância do conhecimento histórico, ou seja, do saber a ser ensinado, encontrado nos indícios documentais e na experiência cultural de alunos e professores, em confronto com outras fontes de conhecimento histórico como, por exemplo, os manuais didáticos; a forma do saber ensinado, ou seja, a ação dos professores em aulas de história, com o apoio dos materiais de ensino produzidos com os alunos; a natureza do saber aprendido, isto é, um tipo novo de relação que os alunos estabeleceram com o conhecimento histórico, compreendendo-o como algo que é diferente do simples acúmulo de informações.
Com relação aos livros paradidáticos e didáticos, eles entram na sala de aula
como objetos, cuja intenção é apresentar um conhecimento já organizado, fechado. Têm
um status especial, foram produzidos para a sala de aula. Portanto, cada um deles tem
uma forma particular de organização. Os textos são curtos, bem divididos e com uma
linguagem especial. São colocados na sala de aula como sujeitos que intermediam a
relação de conhecimento entre o professor e o aluno. Muitos apresentam uma parte
introdutória com orientações de como usá-los e explorá-los. As imagens são postas ao
lado dos textos, muito mais como meras ilustrações do que como outro texto a
complementar o principal (ZAMBONI, 1998).
Consideramos que a essência do conhecimento histórico são as ações humanas
repletas de contradições traduzidas no fato histórico, sendo de extrema importância que
não haja distanciamento entre a fala dos professores, o texto do livro didático e o
universo cultural dos alunos, pois o ensino de história pressupõe um “diálogo” entre
esses elementos para que os alunos possam ampliar a compreensão do conhecimento
histórico, o que os levará a pensar historicamente podendo então, fazer a distinção entre
o que é histórico e o que é ficcional.
Entendemos que não esgotamos a discussão e a reflexão sobre a estreita relação
do livro didático com o ensino de história, no entanto, algumas considerações podem ser
feitas, pois esperamos ter demonstrado que os apontamentos aqui feitos não são
novidades, apenas um resgate daquilo que ao longo das últimas décadas permeou as
discussões sobre este tema e a história ensinada nas escolas do Ensino Fundamental e
Médio.

11
É importante considerar o fato de o livro didático ainda ser o principal, quando
não o único, material utilizado nas aulas de história, embora muitas vezes o professor
tenha disponível para pesquisa uma diversidade de materiais tais como: jornais, revistas,
livros paradidáticos, imagens/gravuras, entre outros. Isso acaba, de forma geral, por
influenciar de tal maneira que o livro didático é visto por muitos como sendo o próprio
currículo escolar.
Referências Bibliográficas
ABUD, Kátia. Currículo de história e políticas públicas: os programas de história do Brasil na escola secundária. In: BITTENCOURT, Circe (org.)
. O saber histórico na sala de aula. 7. ed. – São Paulo: Contexto, 2002. (Repensando o Ensino).
ANDRADE, João Maria Valença de. O conceito de cultura e a apreensão da historicidade na 4ª série. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora e CANELLI, Marlene Rosa (orgs.). III encontro: perspectivas do ensino de história – Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999.
ARAÚJO, Fátima Maria Leitão. A(s) história(s) produzida(s) nos livros didáticos. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora e CANELLI, Marlene Rosa (orgs.). III encontro: perspectivas do ensino de história – Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999.
BITTENCOURT, Circe. Identidade nacional e ensino de história do Brasil. In: KARNAL. Leandro (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 2 ed. - São Paulo: Contexto, 2004.
_____. (2002). O saber histórico na sala de aula. 7. ed. – São Paulo: Contexto.
(Repensando o Ensino).
_____. Livros didáticos entre textos e imagens. In: BITTENCOURT, Circe (org.). O saber histórico na sala de aula. 7. ed. – São Paulo: Contexto, 2002.
(Repensando o Ensino).
_____. Capitalismo e cidadania nas atuais propostas curriculares de história. In: BITTENCOURT, Circe (org.)
. O saber histórico na sala de aula. 7. ed. – São Paulo: Contexto, 2002. (Repensando o Ensino).
CABRINI, Conceição... (et al.). O ensino de história: revisão urgente. 5 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
CADERNOS CEDES 18. O cotidiano do livro didático. São Paulo: Cortez, 1987.

12
CALLAI, Helena Copetti e ZARTH, Paulo Afonso. O estudo do município e o ensino de história e geografia. Ijuí: UNIJUÍ Ed., 1988. (Coleção ensino de 1° grau; 22).
CERRI, Luis Fernando (Org.). Ensino de história e educação: olhares em convergência. Ponta Grossa: UEPG,2007.
CHAUÍ, Marilena de Souza. O que é ideologia. 2 ed. rev. e ampl. – São Paulo: Brasiliense, 2001.COSTA, Ângela Maria Soares da. Prática pedagógica: o uso do livro didático no ensino de história. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora e CANELLI, Marlene Rosa (orgs.). III encontro: perspectivas do ensino de história – Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999.
DAVIES, Nicholas. As camadas populares nos livros de história do Brasil. In: PINSKY, Jaime (org.). O ensino de história e a criação do fato. 3 ed. - São Paulo: Contexto, 1991. (Coleção Repensando o Ensino)
DUTRA, Soraia Freitas. As crianças e o desenvolvimento da temporalidade histórica. In: NETO, José Miguel Arias (Org.). Dez anos de pesquisas em ensino de história. Londrina: Atrito Art, 2005.
FIUZA, Alexandre Felipe, GONÇALVES, Regina Célia e outros. Uma história de areia. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1998.
FONSECA, Selva Guimarães. Caminhos da história ensinada. 2 ed. – Campinas, SP: Papirus, 1994. (Coleção Magistério: Formação e trabalho pedagógico).
FUCKNER, Cleusa Maria. O ensino de história nas séries iniciais: exemplos de produção interdisciplinar. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora e CANELLI, Marlene Rosa (orgs.). III encontro: perspectivas do ensino de história – Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999.
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 41 ed. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
GASPARELLO, Arlete Medeiros. A produção de um saber escolar: a história e o livro didático. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora e CANELLI, Marlene Rosa (orgs.). III encontro: perspectivas do ensino de história – Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999.
GUIA DO LIVRO DIDÁTICO 2007: História: séries / anos iniciais do ensino fundamental / Secretaria de Educação Básica. Brasília: Ministério da Educação, 2006.
HOBSBAWN, Eric J. Sobre história. Tradução Cid Knipel Moreira. – São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. História, política e ensino. In: BITTENCOURT, Circe (org.)
. O saber histórico na sala de aula. 7. ed. – São Paulo: Contexto, 2002. (Repensando o Ensino).

13
KARNAL. Leandro (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 2 ed. - São Paulo: Contexto, 2004.
MARX, K & ENGELS, F. A Ideologia Alemã. 5 ed. São Paulo: Hucitec, 1986.
NADAI, Elza. O ensino de história no Brasil: trajetória e perspectiva. In: Revista brasileira de história. SP, v. 13, n. 25/26, p. 143-162; set. 92 / ago. 93.
NETO, José Miguel Arias (Org.). Dez anos de pesquisas em ensino de história. Londrina: Atrito Art, 2005.OLIVEIRA, Sandra Regina. Educação histórica e a sala de aula: o processo de aprendizagem em alunos das séries iniciais no Ensino Fundamental. Campinas, SP: FE/UNICAMP, 2006. (Tese de doutorado).
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Currículo Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná. Curitiba, 1990.
PINSKY, Jaime (org.). O ensino de história e a criação do fato. 3 ed. - São Paulo: Contexto, 1991. (Coleção Repensando o Ensino)
SAPELLI, Marlene Lucia Siebert (org.). Livro didático: a serviço de quem? Cascavel: ASSOESTE, 2005.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora e CANELLI, Marlene Rosa (orgs.). III encontro: perspectivas do ensino de história – Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999.
_____. A formação do professor de história e o cotidiano da sala de aula. In: BITTENCOURT, Circe (org.)
. O saber histórico na sala de aula. 7. ed. – São Paulo: Contexto, 2002. (Repensando o Ensino).
SOUSA, Manoel Alves de. A história local, o ensino de história e o livro didático: dimensão e limite. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora e CANELLI, Marlene Rosa (orgs.). III encontro: perspectivas do ensino de história – Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999.
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Apresentação. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 30, n. 3, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022004000300007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 Ago 2006.
CASSIANO, Célia Cristina de Figueiredo. Aspectos políticos e econômicos da circulação do livro didático de História e suas implicações curriculares. História., Franca, v. 23, n. 1-2, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-90742004000200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 Ago 2006.

14
FERNANDES, Antonia Terra de Calazans. Livros didáticos em dimensões materiais e simbólicas. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 30, n. 3, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022004000300011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 Jun 2006.
LAVILLE, Christian. A guerra das narrativas: debates e ilusões em torno do ensino de História. Rev. bras. Hist., São Paulo, v. 19, n. 38, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881999000200006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 Ago 2006.
MUNAKATA, Kazumi. Dois manuais de história para professores: histórias de sua produção. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 30, n. 3, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022004000300010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 Ago 2006.
RODRIGUES, Elaine. Reformando o ensino de História: lições de continuidade. História., Franca, v. 23, n. 1-2, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-90742004000200004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 Ago 2006.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos; GARCIA, Tânia Maria F. Braga. A formação da consciência histórica de alunos e professores e o cotidiano em aulas de história. Cad. CEDES., Campinas, v. 25, n. 67, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622005000300003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 Jun 2006.
ZAMBONI, Ernesta. Projeto pedagógico dos parâmetros curriculares nacionais: identidade nacional e consciência histórica. Cad. CEDES., Campinas, v. 23, n. 61, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622003006100007&lng=en&nrm=iso>. Access on: 15 Jun 2006.
ZAMBONI, Ernesta. Representações e linguagens no ensino de história. Rev. bras. Hist., São Paulo, v. 18, n. 36, 1998. Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881998000200005&lng=en&nrm=iso>. Access on: 11 Aug 2006.